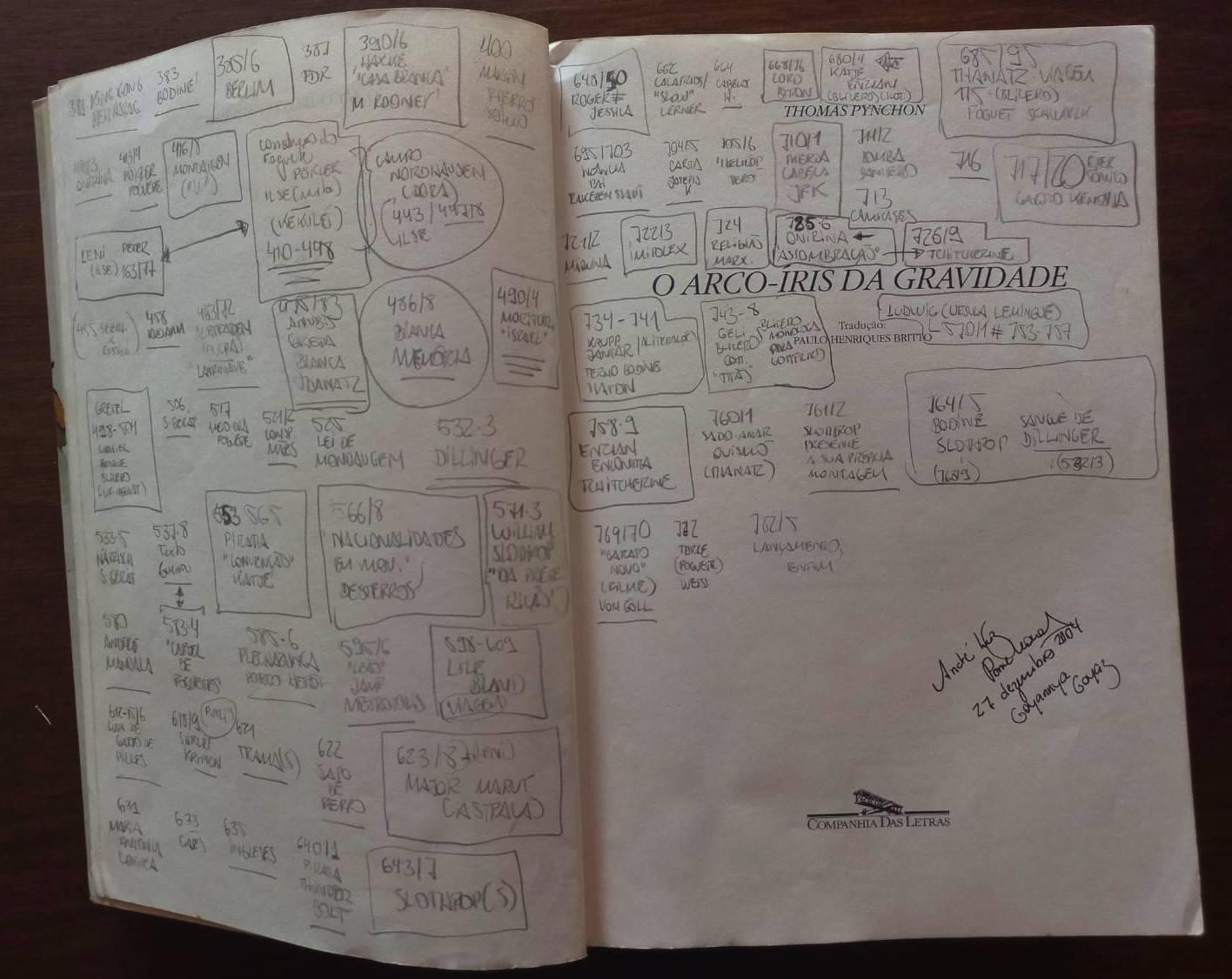Pound permaneceu na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Uma de suas poucas fontes de renda era um programa que apresentava na Rádio Roma, no qual falava sobre literatura, política etc. Após o ataque japonês a Pearl Harbor, ele chegou a pedir para ser repatriado, mas isso não lhe foi concedido. No rádio, dentre outras coisas, o poeta expressava opiniões antissemitas e se posicionava contrariamente à entrada dos EUA no conflito, tanto que, em 1943, acabou indiciado nos EUA, in absentia, por traição. Em abril de 1945, entregou-se aos partigiani. Foi transferido no mês seguinte para o American Disciplinary Training Center (DTC). Os norte-americanos mantiveram-no preso em uma gaiola ao ar livre por quase um mês. O calor e as condições eram inclementes. Após sofrer um colapso, foi levado para a enfermaria, onde teve acesso a uma máquina de escrever e alguns livros: uma Bíblia, um texto em chinês de Confúcio (e a tradução deste feita por James Legge) e um dicionário de chinês. Eventualmente, achou na latrina um exemplar do Pocket Book of Verse, editado por Morris Edmund Speare. Também tinha consigo uma semente de eucalipto.
Preso, alijado de sua biblioteca, psicologicamente em frangalhos e politicamente arruinado, Pound só podia recorrer à memória, abordando os anos que passou em Londres e Paris, e relembrando os escritores e artistas que conheceu e os lugares que visitou. Em geral, os Pisanos são referidos como a melhor parte dos Cantos, e é certamente uma das mais conhecidas. Publicados em 1948, foram agraciados com o Prêmio Bollingen, o que causou uma grande polêmica — Pound, afinal, era visto por muitos como louco e traidor (não necessariamente nessa ordem). A essa altura, estava confinado no hospital psiquiátrico St. Elizabeths, em Washington, de onde só seria libertado em 1958.
No decorrer dos Cantos Pisanos, Pound compara o DTC ao afresco “Alegoria de Março”, de Francesco del Cossa. Na obra, dentre outras coisas, vemos homens trabalhando em um parreiral, uma imagem recorrente nos poemas.


O Canto LXXIV começa com Pound preso na “gaiola”. O que ele vê? “A enorme tragédia do sonho nos ombros do campônio”, isto é, os camponeses que trabalham nas proximidades do DTC. E o que ele ouve? A notícia da morte de Mussolini: “Manes foi curtido e empalhado”, e agora jaz dependurado “pelos calcanhares em Milão”. Temos aí o primeiro vislumbre das ruínas de suas convicções políticas. Manes (c.216–276), também conhecido como Maniqueu, foi um profeta persa, criador da doutrina gnóstica conhecida como maniqueísmo. A certa altura, tentou conciliar o zoroastrismo com o cristianismo e acabou condenado como herege; foi esfolado vivo e atirado ao fogo (“curtido e empalhado”).
“Assim Ben e la Clara a Milano“: Mussolini e sua amante, Clara (“Claretta”) Petacci, foram fuzilados por partigiani em Giulino di Mezzegra, um vilarejo da Lombardia, em 28 de abril de 1945. Depois, tiveram os corpos dependurados e malhados na praça de Loretto, em Milão. O epíteto “DIGONOS” (“nascido duas vezes”) se refere a Dionísio. Pound sugere um negativo disso em Mussolini, fuzilado e depois malhado, duplamente morto.
“(…) diga isso a Possum, um estrépito, não um lamento”: “Possum” (“gambá”) é T. S. Eliot, e o verso inverte o célebre trecho d'”Os Homens Ocos” sobre a maneira como o mundo acaba: “not with a bang but a whimper”. Em Pound, “a bang, not a whimper / with a bang not with a whimper”. Pound deu esse apelido para Eliot porque este seria bom em se fingir de morto. É uma pena que Grünewald não tenha traduzido o apelido: “no entanto, diga isso ao Gambá: um estrondo, não um lamento, / com um estrondo não com um lamento”.
“Dioce” ou Deioces foi o primeiro grande governante dos medos, construtor da cidade de Ecbátana. Pound identifica Dioce com Mussolini, que também pretenderia construir uma cidade paradisíaca (na visão do poeta, claro). Heródoto nos conta que Ecbátana foi fundada no século VII a.C. Há quem afirme que seja a atual Hamadan, no Irã. V. Canto IV, inclusive no que diz respeito aos versos seguintes, onde “processo” remete ao taoísmo. Os rios Kiang e Han não são citados por acaso. O “grande périplo” remete a Odisseu, e os “pilares de Héracles” são os penhascos em Gibraltar. “Lúcifer”, aqui, é o planeta Vênus: visto de Pisa, ele parece “descer” a Oeste sobre a Carolina do Norte (“N. Carolina”); “siroco”, um vento quente que sopra sobre o Mediterrâneo, vindo da África; “sorella la luna”, “a irmã lua”; “La Sposa” é a “Esposa (de Cristo)”, isto é, a Igreja Católica, também referida como “Sponsa Christi”.
Nos Cantos Pisanos, os temas continuam se entrelaçando. Assim, muitos eventos e personagens que já apareceram em cantos anteriores são revisitados aqui, como Sigismundo Malatesta, o escultor florentino Agostino di Duccio, Bellini (“Zuan Bellin”) e o “vil bárbaro” Franklin D. Roosevelt. “Charlie Sung” é uma referência a Charlie Soong, empresário e missionário metodista, sogro de Chiang Kai-shek e pai do premiê chinês Soong Tzu-wen. Soong foi importantíssimo na Revolução Hsinhai, que derrubou a dinastia Qing e instaurou a República da China em 1911. “Tang” ou T’ang foi a 13ª dinastia chinesa (618-907), que emitiu cédulas, prescindindo do ouro na confecção do dinheiro (coisa imperdoável para Pound). Isso abre espaço para mais uma diatribe antissemita contra os juros e a “grandeza churchilliana” que “voltou ao pútrido padrão ouro”, causando uma tremenda recessão em todo o império britânico.
Há, também, uma sucessão de transformações, por assim dizer. Logo no começo, por exemplo, Pound se (re)identifica como Odisseu usando o epíteto Οὖτις, “ninguém” — no Canto IX da Odisseia (recorro à tradução de Trajano Vieira, ed. 34), é assim que Odisseu se identifica para o ébrio ciclope Polifemo, antes de cegá-lo:
Três vezes lhe servi, três vezes sorve o estúpido.
Quando a bebida atinge o seu precórdio, disse-lhe
palavras-mel: ‘Ciclope, queres conhecer
meu renomado nome? Eu te direi e, em troca,
receberei de ti o dom que cabe ao hóspede:
Ninguém me denomino. (…)
Cegado por Odisseu e seus companheiros, Polifemo pede ajuda aos outros ciclopes: “Ninguém me fere com astúcia, não com força”. Ao que os outros: “Se, então, ninguém te agride e estás sozinho…”.
A figura do Οὖτις é como que atravessada mais adiante no poema pelo deus da mitologia aborígene, Wanjina. Este criava as coisas dizendo seus nomes, mas foi silenciado pelo pai, Ungur, por exagerar na dose, atulhando o mundo; coisas em demasia distrairiam os homens do que há de mais importante na vida: conversar, dançar, caçar e guerrear. De modo similar, preso e caído em desgraça, Pound também se encontra silenciado, mas não por completo, pois escreve e escreve. Assim, Wanjina se transforma em “Ouan Jin”, “homem de letras”, “escritor”.
“im Westen nichts neues”, “nada de novo no Oeste”: o título original do clássico romance de Erich Maria Remarque, traduzido por aqui como Nada de novo no front.
“nem palavras (…) terra”: Pound parafraseia os Analectos (IV, X). “Rouse” é William Henry Denham Rouse (1863-1950), acadêmico e tradutor de Homero.
De sua gaiola no DTC, Pound podia ver uma montanha que o fazia se lembrar do Monte Taishan, na China, daí a referência. Pouco depois, ele também cita a sagrada montanha de Fujiyama, no Japão, ligando-a à comuna de Gardone Riviera, às margens do Lago de Garda, onde Mussolini instituiu a famigerada República de Salò. Villa Catullo é outra localidade às margens do lago, onde Catulo (87 ou 84 a.C. – 57 ou 54 a.C.) viveu por um tempo.
“poluphloisboios” é um kenning homérico cujo teor onomatopeico, segundo Pound, remete ao som das ondas batendo na praia e depois recuando.
Nicoletti era o prefeito de Gardone durante a República de Saló e um intermediário entre Mussolini e os socialistas. Bianca Capello (1542-1587) era amante de Francesco de Médici, com quem se casou em 1579 e foi proclamada Grande Duquesa da Toscana. Diz-se que foi envenenada por Ferdinando, irmão de Francesco. Talvez ela lembre Pound de Claretta Petucci. Ao que parece, Nicoletti declamou um poema de sua autoria para Pound: “‘A mulher (…)’ / ‘a mulher / a mulher!’ / ‘Por que a coisa deve continuar?’ / ‘Se eu cair’ (…) / ‘não caio de joelhos.'”
“Alaúde de Gassir”: Gassir, filho de Nganamba Fasa, rei da tribo norte-africana Fasa (daí o “Hooo Fasa”, “saúdem os Fasa”). A história de Gassir está na antologia de histórias míticas chamada Dausi.
“le six potences (…) absoudre”, “os seis enforcados / Absolvei, que talvez [Deus] nos absolva a todos” (em tradução livre e provavelmente errada): Villon, Epitaphie de Villon. Leia AQUI a tradução de Augusto de Campos.
Wilson Thos, Mr. K e Lane eram “trainees” no DTC.
Os “papagaios de Lésbia”: Clódia, esposa do cônsul romano Metelo Céler (103–59 a.C), era uma notória libertina. Catulo foi um de seus amantes e o responsável pelo apelido “Lésbia”, e a ela dedicou o seguinte poema (D’O Livro de Catulo. Tradução: João Angelo Oliva Neto. São Paulo: EdUSP, 1996):
Pássaro, delícias de minha amiga —
com quem brincar e ter no colo, a quem
no ataque dar a ponta dos dedinhos
e acres dentadas incitar costuma
quando lhe apraz ao meu desejo ardente
um capricho, um gracejo preparar,
não sei qual, só um consolo à sua dor,
creio, para acalmar o ardor assim —
pudesse eu como ela brincar contigo
e a mente esquecer pensamentos tristes!
Para mim é tão bom quanto à menina
veloz se diz que foi a maçã de ouro
que o cinto atado há muito enfim soltou.
“el triste (…) rivolge”, “o triste pensamento se volta / para Ussel. Para Ventadour / vai o pensamento, o tempo dá meia-volta”: os versos são de Pound, inspirados em “Lo tems vai e ven e vire”, de Bernart de Ventadorn.
“Kuanon”: Kuan-yin, a deusa chinesa da misericórdia, a bodhisattva compassiva. “Linus, Cletus, Clement” são papas e santos católicos. O ideograma que aparece logo depois é Hsien, “mostre-se, seja ilustre, ínclito”. Pound utiliza o ideograma como uma “tênsil luz a cair”. A luz, aqui, é a inteligência, conforme Scotus Erigena (“sunt lumina”, “são luzes”) e Grosseteste. Shun foi um dos imperadores chineses lendários, que teria reinado mais de dois milênios antes da era comum. O “paracleto” é o Espírito Santo da trindade cristã (v. João 14, 26).
“4 gigantes (…) ossos”: no DTC, embora os “trainees” não pudessem falar com Pound enquanto ele estava na gaiola (e mesmo depois), alguns passaram a gostar dele e faziam pequenos agrados, como cavar o fosso ao redor da cela, a fim de aliviar o calor. Os “gigantes”, claro, são os sentinelas.
“(…) disse o irlandês”: no original, “irlandês” é “Oirishman”, isto é, Erigena. O “rei Carolo” é Carlos II, o Calvo (823–877), neto de Carlos Magno. Não há registros de que Erigena tenha sido exumado. É provável que Pound se refira a Amalric de Bene, herético panteísta do século XIII. Ele foi exumado em 1209 e queimado junto com dez de seus seguidores (estes ainda vivos) diante dos portões de Paris.
“soi disantemente”, “supostamente”.
“Les Albigeois” ou albigenses (também conhecidos como “cátaros”) derivavam parte de seu pensamento do mitraísmo, a exemplo dos maniqueístas. Foram dizimados por uma cruzada (1209-1244) organizada pelo papa Inocêncio III, daí ser um “problema da história” o fato de que só temos conhecimento deles (albigenses) por meio dos seus carrascos.
“e a frota em Salamina (…) armadores”: Temístocles venceu os persas na Batalha de Salamina (480 a.C.) usando navios construídos com dinheiro ganho pelo estado com as minas de Laurlon (o estado emprestou esse dinheiro aos armadores para que construíssem os navios). Trata-se de um refrão recorrente nos Cantos Pisanos e posteriores, pois é algo que ilustra um “dogma” da teoria do crédito social, de que o o crédito deve ser uma prerrogativa do estado, não dos bancos e investidores/especuladores privados.
“Pisa, no 23º dia…”: aqui, um erro de Grünewald. No original, lemos “in the 23rd year”, isto é, no 23º ano. Pound refere-se ao tempo decorrido desde a formação do governo de Mussolini, em 1922. Logo, estamos em 1945. A menção a Pisa é porque o DTC se localizava nos arredores dessa cidade.
“E Till foi ontem enforcado”: Louis Till, soldado norte-americano também preso no DTC, foi executado em 24 de julho de 1945. Condenado por violência doméstica nos EUA, o juiz deu a ele a opção de se alistar. Na Itália, foi preso e condenado por dois estupros e pelo assassinato de uma mulher. Uma década depois, nos EUA, o filho de Till, Emmett, foi linchado por dois homens brancos, Roy Bryant e John Milan, em Money, Mississippi, num caso que teve enorme repercussão e inflamou a luta pelos direitos civis. O garoto teria assoviado para uma mulher branca, Carolyn, esposa de Bryant. Emmett tinha catorze anos de idade. Os assassinos foram absolvidos por um júri formado inteiramente por homens brancos.
“Cholkis”: Cólquida (atual Geórgia), o reino de Eetes, filho de Hélio, onde Jasão e os argonautas foram roubar o velo de ouro. Em seguida, há outro erro do tradutor: “aríete de Zeus”. No original, lemos “thought he was the Zeus ram or another one”. No contexto, a tradução correta de “ram” não é “aríete”, mas “carneiro”, pois o velo de ouro é justamente a lã do carneiro alado Crisómalo, o qual é sagrado para Zeus.
“Ei Snag… aporrinhe”: “Snag” é, possivelmente, um apelido que deram para Till. O termo significa “senão”, “obstáculo”, “problema”. Ao que parece, um dos soldados está provocando Till.
O ideograma a seguir é “Mo” e significa uma negativa. Ao lado dele, a palavra grega “Οὖτις”, “ninguém”, reaparece. Logo, “não ninguém”.
“um homem sobre o qual o sol baixou”: metáfora homérica utilizada quando o herói está em maus lençóis, como, por exemplo, Odisseu cativo de Circe e, por extensão, Pound cativo no DTC e temendo ter o mesmo destino de Till.
“a ovelha… olhos”: palavras de Till, ao que parece. Vindo de alguém condenado por estupro e pelo assassinato de uma mulher, é no mínimo irônico.
Hagoromo é uma peça clássica do teatro nō. A palavra se refere a um manto feito de penas, mágico, pertencente a uma “tennin” ou ninfa, descrita por Pound como um “espírito etéreo ou dançarina celestial”. Ela deixa o manto pendurado num galho de árvore, e um sacerdote o encontra. Quando a “tennin” vai pedir ao sacerdote que devolva o manto, ele concorda em fazê-lo, desde que ela o ensine a dançar. O coro explica que a dança simboliza as mudanças diárias da lua. No final, ainda segundo Pound, a ninfa desaparece lentamente, como uma montanha envolta pela névoa. A Hagoromo voltará a ser mencionada diversas vezes nos cantos posteriores, em especial no LXXIX e no LXXX.
“dell’Italia tradita”, “da Itália atraiçoada”: sim, Pound está sugerindo que a Itália (Mussolini) foi traída(o) pelo rei e por Pietro Badoglio (1871-1956), o militar e político italiano que substituiu o Duce após sua deposição pelo Grande Conselho Fascista, em 24/25 de julho de 1943, e tratou de negociar a paz com os aliados. Isso me lembrou do meu ex-barbeiro octogenário, italiano de Casalbuono, que sempre dizia que a Itália perdeu a guerra porque um padre dedurou a posição das tropas para os norte-americanos. Ele nunca soube me explicar quem era esse padre e como o “traidor” sabia tanto das movimentações militares. Desconfio que meu ex-barbeiro viu Roma, Cidade Aberta quando moleque e achou que o filme tem um final feliz.
“ch’intenerisce”, “que suaviza”: citação de Dante, Purgatório, VIII, 2 — “Era já a hora que volve o querer / do navegante, e induz-lhe o coração / o dia da despedida a reviver” (na tradução de Ítalo Eugenio Mauro, ed. 34). Mais abaixo, “Che sublia es laissa cader” é o terceiro verso do poema de Bernart de Ventadorn sobre a cotovia, “que esquece e se deixa cair”. “NEKUIA” ou nekyia é a prática da necromancia pelos gregos, quando as “ânimas” dos mortos são invocadas e questionadas sobre o futuro, como no Canto XI da Odisseia. Não confundir com “catábase”, a “descida” efetiva ao mundo dos mortos. “Hamadríade”, “três ninfas”. “HAION… HAION”, “o sol em torno do sol”. “Lucina” (Ilítia para os gregos) é uma deidade romana menor, filha de Juno, a deusa dos partos e das gestantes.
“Bunting”: Basil Bunting (1900-1985), poeta inglês amigo de Pound, passou diversas temporadas em Rapallo. Por ser um objetor consciente, não quis se alistar no exército britânico e chegou a ser preso por isso. Foi libertado após uma greve de fome. O título correto do livro de estreia de Bunting é Redimiculum Matellarum (1930).
“negros que morrem…”: Pound se refere a uma pantera do zoológico de Roma. Logo, a tradução correta seria “negra que morre…”.
“Rais Uli”: bandido marroquinho que sequestrou Ian Perdicaris (citado logo depois) e seu sobrinho, Cromwell Varley, em troca de um resgate de 80 mil dólares, pago pelos EUA. Para evitar uma guerra contra norte-americanos e britânicos, o sultão do Marrocos ressarciu os EUA. Elson era um missionário que Pound visitou mais de uma vez em Gibraltar.
Nos versos seguintes, Pound cita diversos escritores que conheceu, como Ford Madox Ford (“Fordie”), Yeats (“William”), Joyce (“Jim o comediante que cantava”) e Maurice Henry Hewlett (“Maurie”). “Kokka” é o cel. Goleiévski, adido militar do embaixador czarista na Inglaterra, Beckendorff. Ele teria dito a frase citada por Pound (“Você fica quieto…”) ao embaixador czarista em Washington, Stalevesky, em 1913. “Tio George”: George Holden Tinkham, congressista de Massachussetts (1915-43), isolacionista e conservador, que Pound conheceu em Veneza. A citação em grego no mesmo verso significa “tudo flui” (inversão de uma frase de Heráclito), sugerindo que Tinkham permaneceu firme enquanto os outros políticos se deixaram levar (à guerra). “Huddy” é o escritor William Henry Hudson.
“où sont les heurs”, “onde estão os bons tempos”.
Mrs. Hawkesby era a governanta de Henry James em Rye. O Mr. Adams citado em seguida é o historiador Henry Brooks Adams (1838-1918). O “monumento” é o filósofo George Santayana. “Haec sunt fastae” parece uma forma errada de “haec sunt fasti”, “estas foram as festividades”, mas mesmo isso soa meio sem sentido no contexto. “Amber Rivers” é a escritora Amélie Rives, falecida em 15 de junho de 1945, cujo obituário foi publicado no New York Times dez dias depois; Grünewald erra o gênero ali. “Mr. Graham” é R. B. Cunningham Graham (1852-1936), escritor escocês, famoso por viajar a cavalo pela América do Sul.
“Lillibullero”: canção que sacaneia os católicos irlandeses, popular na Inglaterra durante a revolução de 1688. Foi usada pela BBC durante a Segunda Guerra. “Adelphi” era um velho hotel na Strand, bombardeado durante a guerra. “Mr. Edwards”: soldado negro que usou uma caixa para improvisar um apoio sobre o qual Pound pudesse escrever quando estava na enfermaria do DTC. Os soldados e prisioneiros eram proibidos de falar com Pound, mas vários ignoravam essa ordem.
“nient’altro”, “[e] nada mais”.
“Tessalônios”: ou Tessalonicenses. O versículo referido (4, 11) diz: “Empenhai a vossa honra em levar vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos, conforme as nossas diretrizes”.
“Kuanon, essa pedra…”: no caso, a estátua de pedra de Kuanon.
“χθονια γεα, Μητηρ”, “mundo ínfero, Mãe”. Creio que isso é de Homero, quando Odisseu fala com a mãe morta, Anticleia, no canto XI da Odisseia.
“ΤΙΘΩΝΩΙ”, Títono: troiano, filho de Laomedonte e irmão mais velho de Príamo. Aurora apaixonou-se por ele e pediu a Zeus que lhe concedesse a imortalidade, sem pedir também a juventude eterna. Titono envelheceu tanto que Aurora o trancou num quarto escuro, onde ele acabou por se transformar numa cigarra.
“in coitu inluminatio”, “no coito a luz brilha”: a luz divina é expressa sexualmente.
“ela penteou os cabelos…”: Olga Rudge (1885-1996), amante e companheira de Pound por mais de cinco décadas. Eles tiveram uma filha, Mary de Rachewiltz (1925).
“staria senza più scosse”: do Inferno XXVII, 63, “não mais se moveria”.
“a torre de Ugolino”: Ugolino della Gherardesca (c.1220-1289) tentou tomar o poder em Pisa, mas foi preso e teve os bens confiscados em 1276. Depois, traído pelo arcebispo Ruggieri, ele, os dois filhos e dois netos foram aprisionados na Torre de Gualandi, desde então chamada de Torre Della Fame, pois ali morreram de fome. No Inferno XXXII, 125-132, Dante descreve Ugolino comendo a cabeça de um dos filhos: “dois juntos vi num fosso: parecia / de uma a outra cabeça ser capelo; // e como um pão morde-se na agonia / da fome, um no outro seus dentes meteu / onde o crânio da nuca se inicia”.
“… der Geheimrat”, “o conselheiro privado”; “der im Baluba (…) hat”: “o homem [branco] que em Baluba fez o trovão soar”.
“Monsieur Jean” é o cineasta e poeta Jean Cocteau.
“pouvrette (…) lus”, “pobre e velho, nunca li uma carta” (Villon, Testament, “Ballade pour prier Notre-Dame”).
“magna NUX animae”: supõe-se que “grande noite da alma”, pois Pound escorrega no latim (“nux” é “noz”); mais adiante, ele acertará: “nox animae magna”.
“comes miseriae”, “companhia na miséria” (?). Em seguida, Pound cita vários soldados do DTC. “Dukes” é uma marca da tabaco. A menção aos “presidentes” deve-se ao fato de que vários dos soldados, em especial os negros sulistas, tinham nomes de presidentes dos EUA.
“ac ego in harum”, “eu também no chiqueiro”; “ivi in (…) animae”, “fui ao chiqueiro e vi as almas dos cadáveres”.
“ΘΕΛΓΕIΝ”, infinitivo de “Θελγω”, “enfeitiçar”; “nec benecomata” (da tradução de Andreas Divus da Odisseia), “belas-tranças”, isto é, Circe, referida a seguir como “Kirkê”. A citação em grego no mesmo verso é da Odisseia X, 213, “enfeitiçados por apavorantes fármacos” (no caso, os lobos e leões que circundam a casa de Circe).
“Estudar com as brancas asas do tempo (…) estão na colheita”: traduções de trechos dos Analectos feitas por Pound.
“E al Triedro (…) Luna'”, “E no Triedro, Cunizza / e nenhuma outra: ‘Eu sou a Lua'”.
Atena é descrita como “saeculorum”, “eterna”, e depois via Homero, a deusa “de olhos glaucos”
“C’è il babao(u)”, “Aí está o bicho-papão”; o “pozzeto…” é o “pequeno poço em Tigullio”; “Oedipus (…) magnanimi”, “Édipo, descendente do magnânimo Remo”.
“Mr. Bullington” é provavelmente outro detento do DTC. Ele canta uma velha canção dos anos 1930.
“e durante três meses…”: outro trecho dos Analectos. Alguns versos abaixo, o termo grego significa “brilho, claridade”, ecoando a palavra que o antecede. E “tanka” é uma forma poética japonesa com cinco versos; o primeiro e o terceiro têm cinco sílabas, e os outros, sete.
“Meyer Anselm”, tido como o fundador da Casa dos Rothschild. E aqui tem início outra diatribe antissemita de Pound, incluindo banqueiros, profetas (como Jeremias), xingamentos (“yidd”) e palavras de Jesus sendo distorcidas.
“METATHEMEON…”, “se aqueles que usam uma moeda desistem dela em favor de outra”: segundo Terrell, é um trecho (1275b16) da Política de Aristóteles. Não tive como confirmar.
“e dos Gedichte de Heine”, “e dos poemas de Heine”. Mais adiante, “N.E.P.”, sigla em inglês para “Nova Política Econômica” (da URSS).
“Katholou”, “generalidades”; “hekasta”, “particular(idad)es”.
“Dai Nippon Banzai”, “saúdem o grande Japão”. “Kagekyio” é uma peça nō de um ato sobre uma filha à procura do pai cego. “Kumasaka” é uma peça nō do século XV, na qual o fantasma do personagem-título volta para louvar a bravura daquele que o matou.
“quia impossible est”, “porque é impossível”: citação de Tertuliano, “Credo qui impossible”, ou seja, apenas a fé o sustentará.
“ΚΟΡΗ, ‘ΑΓΛΑΟΣ ‘ΑΛAΟΥ”, “filha, o brilho do homem cego”
Wemyss foi o almirante alemão que, junto com Foch, assinou o armistício da Primeira Guerra em favor dos aliados. Gesell e Lindhauer foram, respectivamente, o ministro das finanças e o ministro da educação da malfadada República Soviética da Baviera, que perdurou de 7 a 16 de abril de 1919. Gesell foi julgado por alta traição e absolvido; Lindhauer foi executado na prisão.
“Pellegrini”: Gianpietro Pellegrini, subsecretário do ministro das finanças na República de Salò. Em 27 de novembro de 1943, Pellegrini disse a Mussolini que iam lhe pagar 125 mil liras por mês como salário de chefe de estado. Mussolini disse que 4 mil liras bastavam, ao que o outro retrucou que ele devia pegar as 125 mil, pois “o dinheiro está lá”.
“Περσεφόνηεια”, Perséfone.
Alfred von Tirpitz (1849-1930), almirante alemão, dizendo à filha que tome cuidado com o charme dos ingleses, com as “ΣΕIPΗNEΣ”, “sereias”, que a cruz da suástica “gira com o sol”, e que o judeu guardará a informação recebida “faute de”, isto é, “por falta de” algo “mais sólido”. “ΧΑΡΙΤEΣ”, “graças”; “nautilis biancastra”, “concha de cor branca” (como a da Vênus de Botticelli); mais abaixo, “tira libeccio”, “sopra o vento sudeste”.
“Europa nec casta Pasiphae”, “Europa nem a casta Pasífae”: Europa, filha de Agenor, rei de Tiro, foi sequestrada por Zeus (que, para tanto, assumiu a forma de um touro); Pasífae, esposa do rei Minos, de Creta, é a mãe do minotauro.
“Arry” é, claro, Aristóteles.
A expressão em grego no verso “Amadas as horas…” é o célebre símile homérico para a aurora, “dedos róseos”.
“Mr. Kettlewell”: John Kettlewell, aluno do St. John’s College, em Oxford, na mesma época (1913) em que Edward, então Príncipe de Gales (e futuro rei Edward VIII), era calouro em Magdalen. “W. Lawrence”/”W.L.”, o irmão caçula de T. E. Lawrence (da Arábia, citado a seguir), teria atropelado o príncipe com sua bicicleta. W. L. convidou Pound para falar sobre poesia no St. John’s College. Lá, Pound teria ouvido Kettlewell dizer a W. L. que era uma pena que este não tivesse matado Edward no tal incidente ciclístico.
“LL. G.”: Lloyd George, primeiro-ministro inglês durante a Primeira Guerra. Compareceu à conferência de Versalhes, onde também esteve o “rãbaixador” francês George Clemenceau. T. E. Lawrence estava na conferência com a delegação árabe. Relutando em falar sobre suas aventuras, ele queria “conversar sobre arte moderna”.
“Snow”: Thomas Collins Snow, professor de língua e literatura inglesa no Jesus College em 1913. Ele declama a “Ode a Anactória”, de Safo: “φαίνε-τ-τ-τ-τττ-αι μοι” (“φαίνεται μοι”), “me parece”.
“l’aer tremare”, “o ar a estremecer”: de um soneto de Cavalcanti.
“O Cão do Paraíso” é um poema de Francis Thompson (1859-1907).
“Siki”: um boxeador dos anos 1920.
A citação em grego é da Odisseia XI, 76, da fala de Elpênor para Odisseu, pedindo que seja enterrado (grifo meu): “Vindouros saibam que eu vivi!”. Ou seja, as gerações por vir, aqueles que virão.
“aram vult nemos”, “o bosque precisa de um altar”.
“joli (…) Malatestiana)”, “um agradável quarto de hora, (na [biblioteca] Malatestiana)”.
“Torquato”: Manlio Torquato Dazzi, diretor da Malatestiana em 1926.
“la Stuarda” é Mary Stuart, rainha da Escócia.
“funge la purezza”, “a luz tênsil se derrama”.
“formato locho”, “em um lugar preparado”: de “Donna mi prega”, canção de Guido Cavalcanti.
“Arachne”: na mitologia grega, a jovem lídia que era uma extraordinária bordadora e foi transformada por Atena em uma aranha.
“ΕΙΚΟΝΕΣ”, “imagens”.
“black Jim”: nos anos 1890, era um funcionário do Hotel Easton, em Nova York, de propriedade da família Weston, da qual Pound era aparentado. O poeta passou algumas temporadas no hotel, que depois se transformou no Ritz-Carlton.
“Mr. Carver”: George Washington Carver (1864-1943), engenheiro agrônomo que convenceu os agricultores do Sul dos EUA a não exaurir o solo com a monocultura de algodão, e descobriu como fazer diversos produtos a partir do amendoim. Pound tentou convencer burocratas italianos a investir em plantações de amendoim (“arachidi”) durante a guerra, a fim de diminuir a escassez de alimentos.
“jato de cristal”: imagem recorrente de manifestação divina. Há uma progressão desde os primeiros cantos, da água para o cristal, o diamante e outras formas.
“nec accidens est (…) est agens”, “não é um atributo (…) é um agente”.
“penugem do cisne” (no original, “swansdown”): citação de “A Celebration of Charis: IV. Her Triumph”, de Ben Jonson (leia AQUI). Essa expressão e “a rosa na poeira de aço” antecipam algo que será musicalmente aprofundado no próximo Canto.
“nós que passamos pelo Letes”: no Hades, como o nome indica, é o rio do esquecimento. No Purgatório XXXI, 91-102, após confessar seus pecados para Beatriz (e desmaiar ao ver o rosto da amada), Dante é banhado no Letes por Matelda, e também bebe da água do rio. É curioso que, no canto seguinte, Pound aluda ao Flegetonte. Ou seja, é como se a contrição e o esquecimento não bastassem; ele ainda precisa ser curado.
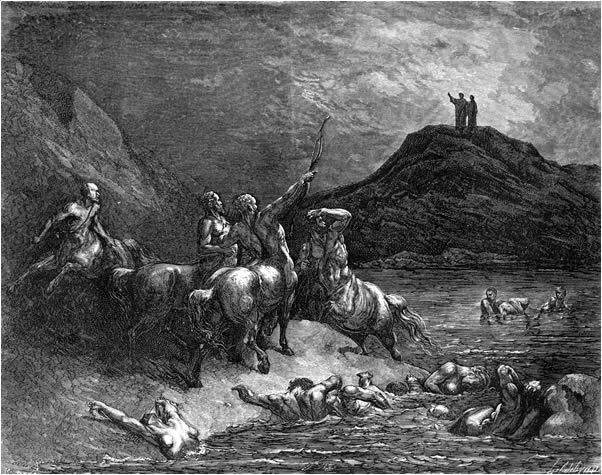
![]()