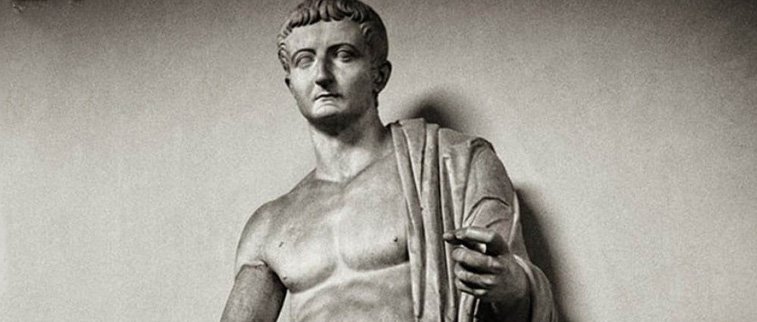A cena está em Uma batalha após a outra, de Paul Thomas Anderson, e é um grande momento em meio a vários outros grandes momentos. A revolucionária negra, grávida, atira com uma metralhadora em um campo de treinamentos no meio do nada. Ao terminar, berra que se sentiu como Tony Montana. Isso pede uma digressão.
Interpretado pelas narinas de Al Pacino no estridente remake de Scarface (1983) dirigido por Brian De Palma, Montana é um criminoso cubano que chega a Miami em meio ao Êxodo de Mariel, ocorrido entre 15 e 31 outubro de 1980. Contexto: a economia cubana ia mal, os humores do populacho pioravam e Fidel Castro não só “autorizou” a debandada em massa (no melhor estilo “Cuba: ame-a ou deixe-a”) como deu um jeito de esvaziar prisões e hospícios, misturando criminosos e doentes mentais com os demais passageiros dos barquinhos. Mais de 120 mil pessoas aportaram na Flórida por aqueles dias.
Montana chega aos Estados Unidos e consegue visto de permanência após assassinar um castrista no acampamento de refugiados. A partir daí, o filme narra a ascensão e a queda desse simpático empreendedor. Acompanhamos sua carreira como megassassino (o entrevero com os colombianos é particularmente ensolarado), megatraficante, megacheirador e megaincestuoso (a irmãzinha é um foco de tensão, por assim dizer). Scarface é um filme sobre excessos, filmado de forma excessiva — apenas Cassino, de Martin Scorsese, é comparável em termos de excelência, brutalidade e acuidade decadentistas.
Paul Thomas Anderson não é um decadentista, claro. Os personagens que cria (inclusive os malvados) moram de pantufas no coração desse cineasta que não raro emula Robert Altman, mas sem o cinismo etílico do mestre missuriano. Altman é um sacana orgíaco; Anderson, um punheteiro feliz (nada contra, muito embora — como demonstra Pedro Guerra em O maior ser humano vivo — a punheta seja a porta de entrada para drogas pesadas).
Voltemos à cena supracitada de Uma batalha após a outra. A tal revolucionária com a metranca, Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), tem pedigree, sendo filha e neta (e bisneta?) de gente assim belicosamente inconformada, e integra um grupo chamado French 75 — homônimo do hediondo coquetel feito com gin, champanhe, suco de limão e açúcar (sem metanol, por favor). Não, não, o tal grupo não tem esse nome por causa do coquetel, mas, a exemplo do coquetel, homenageia o canhão francês de 75mm modelo 1897 muito utilizado na Primeira Guerra Mundial. Bum!
Honrando seu nome de guerra, Perfidia se atraca gostoso com o inimigo, o militar WASP Steven J. Lockjaw (Sean Penn), a quem ela “estupra inversamente” (não) e depois usa para se safar, delatando a companheirada (sim). Nem mesmo Tony Montana faria uma coisa dessas. Afinal, tudo o que Tony tinha eram sua palavra e suas bolas. Na primeira interação com Lockjaw, logo no começo do filme, Perfidia o desarma para armá-lo: instado por ela, o pau duro do militar inadvertidamente ri da “revolução” (eu ri bastante, pelo menos).
Dezesseis anos após a traição e a debandada do French 75 (quem não fugiu, morreu), o ex de Perfidia, Bob (Leonardo Di Caprio), vive com a filha deles, Willa (Chase Infiniti), em uma cidadezinha nos cafundós californianos. Sim, Bob era membro destacado (explodia coisas) do grupo, mas passou a última década e meia fumando maconha, enchendo a cara, alimentando a paranoia e vendo A batalha de Argel, de Gillo Pontecorvo, um dos melhores filmes pornôs já feitos.
A paranoia de Bob é justificada quando Lockjaw, candidato ao Clube dos Aventureiros Natalinos (sic) (foda-se, São Nicolau), precisa (a) descobrir se Willa é sua filha biológica e, (b) caso seja, matá-la, pois o clubinho é obviamente supremacista e não aceita em suas fileiras gente que trepa (e procria!) com negras. A partir daí, o filme se torna uma corrida maluca das mais divertidas, com Bob sempre chegando atrasado e Willa honrando Tony Montana sua genética guerreira (dos dois lados, biologicamente falando).
A irreverência de Uma batalha após a outra é do tipo de provoca ruídos hilariantes. Já li textos emocionados sobre a simbologia do corpo negro grávido metralhando geral (alguém escreveu que, entre o feto e o mundo, está a arma, empunhada por uma pessoa que não aceita mais ser perseguida e se torna perseguidora, uhu, lalalá; pena que depois a mamãe abandone a criança, né?), sobre o suposto coração revolucionário que anima suas imagens, sobre a beleza do inconformismo e a feiura do “sistema” (o mesmo que investiu cerca de US$ 160 milhões na realização do filme). No entanto, o que salta aos olhos é uma sátira ambidestra, por assim dizer, com Bob berrando viva la revolución pouco antes de ridiculamente despencar de um telhado e Lockjaw (caçador tornado caça) vociferando que, a despeito da camiseta justíssima, não é gay. Como em um bom filme dos irmãos Joel & Ethan Coen, quase todos que aparecem na tela são mais ou menos imbecis (Junglepussy mostra a cara para levar tiro, por exemplo).
Entre os poucos personagens adultos, estão a ex-revolucionária e agora “apenas” foragida Deandra (Regina Hall) e o sensei Sergio (Benicio Del Toro), que toleram ou ignoram as asneiras enquanto tentam, efetivamente, fazer alguma coisa — não mandar o “sistema” pelos ares, mas ajudar indivíduos específicos em situações específicas. Mas as asneiras persistem, claro. São engraçadíssimas as interações de Bob com uma espécie de central de atendimento dos revolucionários; o suposto herói de guerra esqueceu as senhas e se emputece, enquanto o atendente choraminga sobre “invasão de espaço” e “gatilhos de ruído”.
Do outro lado, temos um assassino cheiroso e limpinho chegando a uma casa de subúrbio (vindo da igreja?) e descendo ao enorme e vazio complexo subterrâneo, onde é informado da próxima missão por uns sujeitos que rescendem a talco geriátrico e Zyklon B. Não me lembro de uma sacaneada melhor com o propalado Deep State — ademais, até onde eu sei e conforme o próprio Anderson demonstrou em Boogie Nights, o verdadeiro Deep State fica em San Fernando Valley. Sublinhe-se que a única ação digna de nota do tal Clube dos Aventureiros Natalinos é fratricida.
Como se sabe, Uma batalha após a outra é inspirado no romance Vineland, de Thomas Pynchon. Lançado em 1990 e situado em 1984 (are we there yet?), Ronald Reagan etc. e tal, o livro autopsia os 1968ers: parafraseando um trecho, os outrora revolucionários olharam uns nos olhos dos outros, viram a América morrendo e resolveram acelerar o processo, vendendo o que tinham para vender (ideais, corpos, almas, uns aos outros).
Muito embora seja um romance “mais leve” quando comparado com outros do autor, Vineland não alivia para ninguém. Ele deixa a impressão de que, após todas as loucuras, traições, assassinatos e desaparições, a única família sessentista passível de ser reunida é a família Manson, pois nos EUA de Reagan sobraram apenas slogans vazios, vigilância, penteados ruins, paranoia, oportunistas de todas as vertentes, risadas gravadas, cocaína, silicone e (olá) decadência. Eis um empobrecimento amplo, geral e irrestrito, levado a cabo (também) por quem se rebelava vinte anos antes. Diz um dos personagens:
“O problema com a geração de vocês”, opinou Isaías, “nada pessoal, viu, é que vocês acreditaram na tal revolução, investiram suas vidas nisso, mas de Tubo vocês certamente não entendem muito. No minuto em que o Tubo catou vocês, carinhas, já era, toda aquela América alternativa entrou por el canito, feito os índios, vocês venderam tudo pro verdadeiro inimigo, e mesmo em dólares de 1970 — foi barato demais…”
Porque a “revolução” não só foi e é televisionada como foi e é vendida para ser televisionada (“barato demais”), e os cachês e residuals enchem as burras de gente à direita, à esquerda, no centro, acima e abaixo. O resto é conversa fiada. E, longe de mistificar a conversa fiada, Vineland e Uma batalha após a outra tratam de apresentá-la como tal. Com seu orçamento e sua distribuição, não obstante a força de sua sátira (ou talvez por isso mesmo), o filme é um excelente exemplar dessa revolução vendida para o “verdadeiro inimigo”, retrabalhada, domesticada, embalada e revendida para nosotros. Nada contra. Cinema é uma arte cara. Money talks, bullshit walks.
Sobre o enredo, gosto que, em Vineland, a filha não encontra resolução, mas apenas estilhaços da traição (perpetrada pela mãe) que espelha a traição maior (da nação que mastiga & cospe os próprios filhotes). Em Uma batalha após a outra, sim, há resolução, a voz materna que (via carta) adentra a cabeça da moça e ensaia uma aproximação. Ou seja, a filha reencontra a mãe e depois — leia isso com a voz de Joaquim Barbosa — sai à rua. Já o romance termina com ela voltando ao local onde seu (suposto) pai biológico tentou raptá-la:
“Pode voltar”, sussurrou, ondas de frio a percorrê-la, tentando encarar uma noite que a qualquer momento poderia trazer o estupor. “Tudo bem, mesmo. Venha, pode vir. Não me importo. Me leve pra onde quiser.” Talvez ele nem estivesse mais disponível, ela suspeitava, e seu apelo na calada da noite ficasse sem resposta, mas isso não a impediu de fazê-lo. A pequena campina brilhava à luz das estrelas e Prairie continuou tecendo fantasias extravagantes sobre o retorno de Brock, em translúcidos devaneios, um flerte óbvio (…).
No livro e no filme, Prairie/Willa é a “American girl” da música de Tom Petty, “raised on promises”. O problema é que, como nos lembra Philip Roth em O teatro de Sabbath, nada cumpre o que prometeu. Exceto para Tony Montana, claro, e por uma razão muito simples: a ele não prometeram nada.
******
NOTAS
Citei Cassino e me lembrei de uma passagem de Vineland: “Os olhos de Elmhurst marejaram, seus lábios começaram a tremer. ‘Que-quer dizer que… a vida não é Las Vegas?’”.
Ainda sobre Perfidia Beverly Hills: para viver fora da lei, canta Bob Dylan, há que ser honesto.
Não sei se, no filme, eles estão nos cafundós californianos. Acho que sim. Em Vineland, eles vivem no (infelizmente fictício) Trasero County.
As cenas de perseguição na estrada me lembraram Arizona nunca mais, de Joel & Ethan Coen. Aliás, a certa altura, o querido “Hi” McDunnough (Nicolas Cage) culpa Ronald Reagan por retomar a profissão de assaltante. Mas, claro, o filme dos Coen que conversa com Uma batalha após a outra é O grande Lebowski.
Sobre o orçamento do filme, o número “oficial” divulgado pela Warner é US$ 130 milhões, mas a Variety fala em US$ 175 milhões. Torço muito para que o filme recupere o investimento. Hoje em dia, com a contabilidade criativa dos estúdios (que não incluem os enormes gastos de divulgação no orçamento), estima-se que um longa precisa faturar o triplo de seu custo para ser considerado rentável. Ou seja, Uma batalha após a outra precisa chegar a meio bilhão de dólares nas bilheterias. Por que isso é importante? Por motivos óbvios: para que filmes assim, que não são adaptações de quadrinhos ou videogames e/ou exemplares de franquias requentadas, continuem sendo produzidos.
Acho curioso que Anderson não tenha lidado tão bem com a companion piece de Vineland lançada por Pynchon em 2009. Vício inerente, o filme (2014), assume por inteiro o tom que perpassa o desfecho do romance (a tristeza pelo fim do “sonho”, o horror pelo que sobreveio, a progressiva obliteração do futuro); o livro transmite muito bem a “silente brancura adiante” na “caravana em um deserto de percepção” nos seus parágrafos finais, ao passo que o filme se deixa contaminar por ela de cabo a rabo. O livro é um hard-boiled, e o filme, um estertorar que, ciente da ausência de futuro, jamais acelera como deveria. Acho que, objetiva e cinematograficamente falando, Medo e Delírio em Las Vegas, de Terry Gilliam (adaptando Hunter S. Thompson), é bem mais eficiente no “diagnóstico” do que deu errado nos e para os 1968ers, bem como no exame dos horrores (sempre) presentes.
Sobre o final do texto, que fique claro: no romance, a filha também reencontra a mãe (e pessoalmente), mas esse reencontro é, digamos, insatisfatório — o que explica o anseio final de ser levada pelo outro, que (adivinhem) está indisponível.