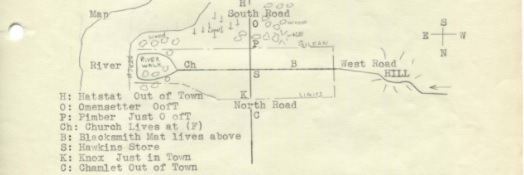I
No “Problema I” de Temor e Tremor¹, nós nos deparamos com a seguinte questão formulada por Johannes de silentio: há uma suspensão teleológica da ética?
Logo no início de sua reflexão, Johannes afirma que a tarefa ética do Indivíduo é “despojar-se do seu caráter individual para alcançar a generalidade”. Este seria o telos do Indivíduo. E, uma vez alcançada a generalidade, ele sempre se verá em crise ao se sentir inclinado a, de alguma forma, reivindicar a sua individualidade. O único modo de obliterar essa crise é por meio do arrependimento, “abandonando-se, como Indivíduo, no geral”.
Tomando Abraão, temos um exemplo maior da suspensão a que nos referimos acima; ele mergulha de corpo inteiro no paradoxo que constitui a fé. Citando Johannes de silentio:
A fé é justamente aquele paradoxo segundo o qual o indivíduo se encontra como tal acima do geral, sobre ele debruçado (não em situação inferior, pelo contrário, sendo-lhe superior) e sempre de tal maneira que, note-se, é o Indivíduo quem, depois de ter estado como tal subordinado ao geral, alcança ser agora, graças ao geral, o Indivíduo, e como tal superior a este; de maneira que o Indivíduo como tal encontra-se numa relação absoluta com o absoluto. (…)
Uma posição dessas, prossegue Johannes, “escapa à mediação que se efetua em virtude do geral”, constituindo um paradoxo que é “inacessível ao pensamento”.
É algo distinto, por exemplo, da posição ocupada pelo herói trágico. Na tragédia, há uma “instância intermediária” que, ao cabo, salvará o herói. O sacrifício de Ifigênia pelo seu próprio pai, Agamemnon, cumpre algo prescrito pelo áugure e tem por objetivo acalmar a ira dos deuses. De forma similar, Brutus sacrifica o filho porque este infringiu a lei romana. Por maior que seja a dor desses pais, é incontornável que eles agem em nome do geral, de um estado de coisas que precisam preservar. Eles se movimentam, portanto, no âmbito da esfera ética, sem ultrapassá-la. O ato de Abraão, instado por D’us a sacrificar o próprio filho, Isaac, é, contudo, de outra ordem. Ele não é o herói trágico, mas o que Johannes chama de cavaleiro da fé.
Abraão, atesta Johannes, “ultrapassou todo o estádio ético”. Sua disposição e sua ação não podem ser reconduzidas ao geral, isto é, ele “não age para salvar um povo, nem para defender a ideia do Estado, nem sequer para apaziguar os deuses irritados”. A conduta de Abraão é algo “estritamente privado, estranho ao geral”. Abraão se dispõe a sacrificar o próprio filho não por uma qualquer virtude ética relativa a alguma instituição política ou religiosa, mas por amor ao dever, aqui entendido como “a expressão da vontade de D’us”.
Na tragédia, a relação com a divindade se dá, portanto, como uma mediação com o geral. Inexiste uma “relação privada” do herói trágico com a divindade. A partir do momento em que, no caso de Abraão, inexista tal mediação, e porque sua relação com o divino é estritamente privada, ele resvala no silêncio. A situação de Abraão não pode ser verbalizada, não pode ser comunicada por palavras. “Aquele que renega a si próprio e se sacrifica ao dever renuncia o finito para alcançar o infinito”, escreve Johannes.
Uma vez que a ética é suspensa dessa maneira, Abraão é salvo apenas pelo paradoxo da fé:
(…) Tal o paradoxo que o impele até o extremo e que não pode tornar inteligível a ninguém, porque o paradoxo consiste em que se coloca como Indivíduo numa relação absoluta com o absoluto. Mas está Abraão autorizado a isso? Se está, eis novamente o paradoxo, porque não o está em virtude de uma participação qualquer no geral, mas na sua qualidade de Indivíduo.
A história de Abraão responde, portanto, à questão proposta no início do trecho em questão, isto é, ao primeiro problema abordado por Johannes de silentio: há uma suspensão teleológica da ética? Sim, há, e podemos observá-la justamente na narrativa bíblica que se detém no quase sacrifício de Isaac. Diferentemente do herói trágico, o cavaleiro da fé não chega a essa condição por seus próprios esforços, ou unicamente por eles. A fé não é o resultado de uma ação com vistas à generalidade, mas “um milagre”; a fé é o salto no & pelo absurdo, e que só tem lugar na interioridade plena.
II
Em sua leitura de Temor e Tremor, Jon Stewart² sublinha a distinção entre as concepções de suspensão teleológica da ética de Johannes de silentio e da consciência moral em Hegel. Embora o foco deste texto não seja discorrer sobre as similaridades e diferenças entre os postulados dos filósofos citados, alguns aspectos devem ser ressaltados no sentido de explicitar melhor o que abordamos até aqui.
Stewart aponta que o propósito da discussão hegeliana na Filosofia do Direito é bem diverso do que Johannes de silentio está discutindo em Temor e Tremor. Para Hegel, a expressão-chave nesse contexto é Sittlichkeit ou “vida ética”. Ela se refere aos costumes, deveres e instituições geralmente verificados em qualquer sociedade. Para Hegel, há uma conexão entre os costumes cotidianos e a concepção de vida ética. A ética, segundo ele, apareceria como costume, assim como os hábitos éticos surgiriam como uma “segunda natureza”, tomando o lugar da natureza primeira, que seria animal e meramente desiderativa. A razão, portanto, tem um papel importantíssimo na constituição da segunda natureza e, não por acaso, nas palavras de Stewart, “é desenvolvida como um aspecto do estado racional”.
Outra distinção importante feita por Hegel é entre “ética” e “moralidade” (Moralität): enquanto “a vida ética é imediata e intuitiva, a moralidade é mediada e abstrata” (Stewart).
A interpretação das ações de Abraão por Johannes de silentio apresentam, segundo Stewart, alguns paralelismos com o conceito hegeliano de consciência moral:
(…) Em primeiro lugar, para Hegel, as formas da subjetividade tendem a absolutizar a consciência moral; do mesmo modo, para Johannes de silentio, o comando divino emitido para Abraão é absoluto dada a virtude de sua origem em uma fonte divina. Em segundo lugar, para Hegel, a própria natureza da consciência é privada no sentido de que a subjetividade determina a si mesma. Como diz Hegel, a consciência é uma ‘forma infinita de certeza de si mesma, o que, por essa mesma razão, é ao mesmo tempo a certeza de seu sujeito’. Outrossim, para Johannes de silentio, a relação entre Deus e homem é, por sua própria natureza, subjetiva e privada, e assim não pode ser justificada ou explicada para outras pessoas. Por fim, as formas de subjetividade que Hegel analisa colocam a si mesmas acima dos costumes aceitos, da lei civil e afins, assim como Abraão, de acordo com a interpretação de Johannes de silentio, recebe um chamado absoluto que coloca todos os outros deveres e comandos morais externos em suspensão. (…)
Reiterando, tanto Hegel quanto Johannes colocam a consciência moral acima do Estado, dos costumes, dos deveres familiares e afins. Em Hegel, contudo, o conflito entre a consciência individual e o Estado ou as leis civis são um reflexo de um confronto mais profundo da consciência moral consigo mesma. Johannes, conforme aponta Stewart, deixa bem claro que Abraão não anseia por qualquer validação universal para suas ações. De fato, ele não procura universalizar nada, sublinhando o caráter subjetivo de sua consciência e, em última instância, relegando a D’us a validação absoluta do que faz. Na medida em que o comando vem diretamente de D’us, Abraão sequer procura verbalizar ou justificar o que está fazendo, até porque, como vimos, qualquer tentativa de verbalização seria quimérica, para não dizer inútil: o “paradoxo de Deus-homem e a fé é não-discursivo” (Stewart).
Assim, no início do Problema I, a crítica de Johannes diz respeito à inaplicabilidade da abordagem hegeliana na esfera da fé, pois o comando divino invalidaria quaisquer regras e leis sociais, colocando-se para além de tudo isso. Abraão, em função da suspensão teleológica da fé, inscreve-se numa relação privada com o divino. O paradoxo se amplia na medida em que ele jamais poderá ter uma certeza racional ou racionalmente formulável (em termos discursivos) dessa relação.
“He has faith but with fear and trembling”, escreve Stewart, isto é: “ele só tem fé com temor e tremor”.
III

Nas páginas finais de um belo ensaio sobre Paul Ricœur³, a filósofa Jeanne Marie Gagnebin resguarda o francês tanto daqueles que o encaram como um “criptoteólogo” quanto dos que o abraçam como um “pensador cristão”.
“Ricœur”, ela escreve, “teve de lutar em ambas as frentes: contra seus críticos, mostrar que sua filosofia não se reclama, na sua argumentação interna, de sua fé; contra seus admiradores, que seu pensamento filosófico não oferece fundamentação racional para crença alguma”.
Para melhor esclarecer esse ponto, Gagnebin cita o próprio Ricœur, para quem “esse ascetismo do argumento, que marca, creio eu, toda a minha obra filosófica, conduz a uma filosofia da qual a nominação efetiva de Deus está sempre ausente” e, mais do que isso, “na qual a questão de Deus, enquanto questão filosófica, permanece em um suspense [melhor: em suspensão] que podemos chamar de agnóstico”.
O pensamento de Ricœur estaria mais próximo da postura kantiana, pela qual se delimita o alcance da perquirição racional e, ao mesmo tempo (e pelo próprio esforço delimitador), “reconhece a possibilidade de um Outro que lhe escapa”. A humildade dessa postura, parece-me, livra a indagação filosófica de quaisquer ruídos, impede que ela se perca em antinomias e protege o pensamento de uma possível contaminação dogmática.
Não é que Ricœur “desligue” a fé que o constitui ao filosofar. Ele define lindamente o religioso como “a referência a uma antecedência, a uma exterioridade e a uma superioridade”, reconhecendo, como nos diz Gagnebin, “o sagrado como aquilo que, simultaneamente, nos precede e nos ultrapassa”. Assim, o cristianismo desempenha uma função importantíssima em seu pensamento:
(…) Responde pela presença de uma economia do dom, mais fundante que uma economia estritamente racional da troca ou do lucro, e por uma relação com o sagrado, intimamente ligada a essa economia da dádiva ou da graça, e cuja consequência essencial é destronar o sujeito desse lugar central outorgado pela tradição filosófica desde Descartes. Na mesma resposta, não teme em lembrar a crítica de Heidegger ao humanismo e o questionamento das pretensões do sujeito em Foucault, pois iriam, segundo ele, na mesma direção que ‘minha convicção, a saber, que o sujeito não é o centro de tudo, que ele não é senhor do sentido’.
D’us nos antecede e ultrapassa, e também nos desloca. A pretensão de centralidade do sujeito é esvaziada. Antes, no contexto da abordagem referida, importa a maneira como o pensador se coloca aquém (e não além) tanto dos “críticos” quanto dos “admiradores”. Se há a possibilidade desse Outro que nos escapa, nada mais acertado do que, ao menos enquanto questão filosófica, suspendê-Lo, investindo num agnosticismo procedimental, por assim dizer. O fundamento permanece, mas a perquirição se arvora noutras direções (até porque uma coisa não exclui ou necessariamente inclui a outra). A citada suspensão é algo como (mais) uma condição de possibilidade do próprio filosofar.
Muitos (crentes, ateus, agnósticos) propuseram coisas similares, e das maneiras mais diversas. Mas poucos o fizeram com a beleza, humildade e retidão (e deiformidade?) de Ricœur. Ausenta-se a (tentativa de/busca por uma) “nominação efetiva de Deus”, mas não se deixa de ser atravessado por D’us.
……
¹KIERKEGAARD, Søren Aabye. Temor e Tremor. In: Os Pensadores. Tradução: Maria José Marinho. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
²STEWART, Jon. Hegel’s view of moral conscience and Kierkegaard’s interpretation of Abraham. In: Kierkegaard’s relation to Hegel reconsidered. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
³GAGNEBIN, Jeanne Marie. Uma filosofia do Cogito ferido: Paul Ricœur. In: Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006.