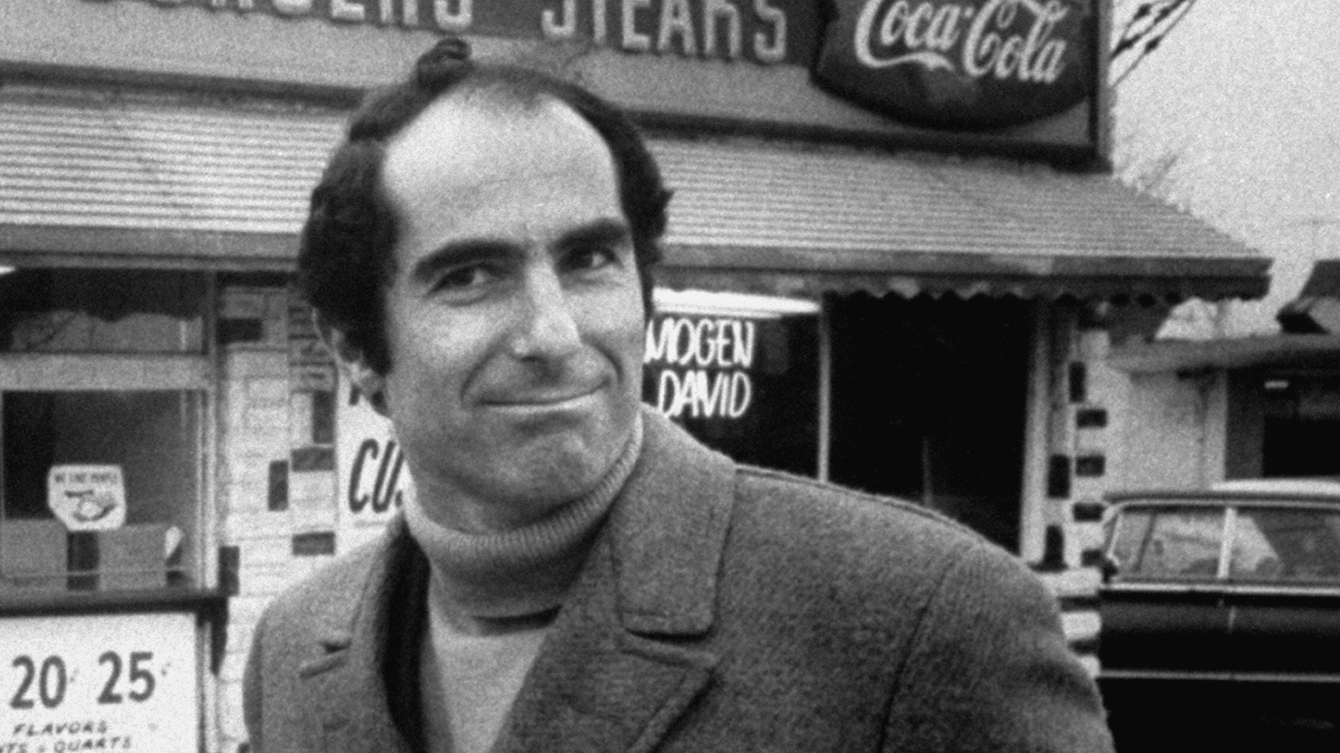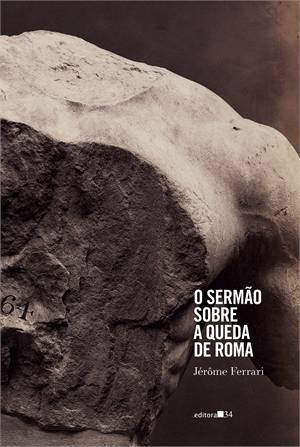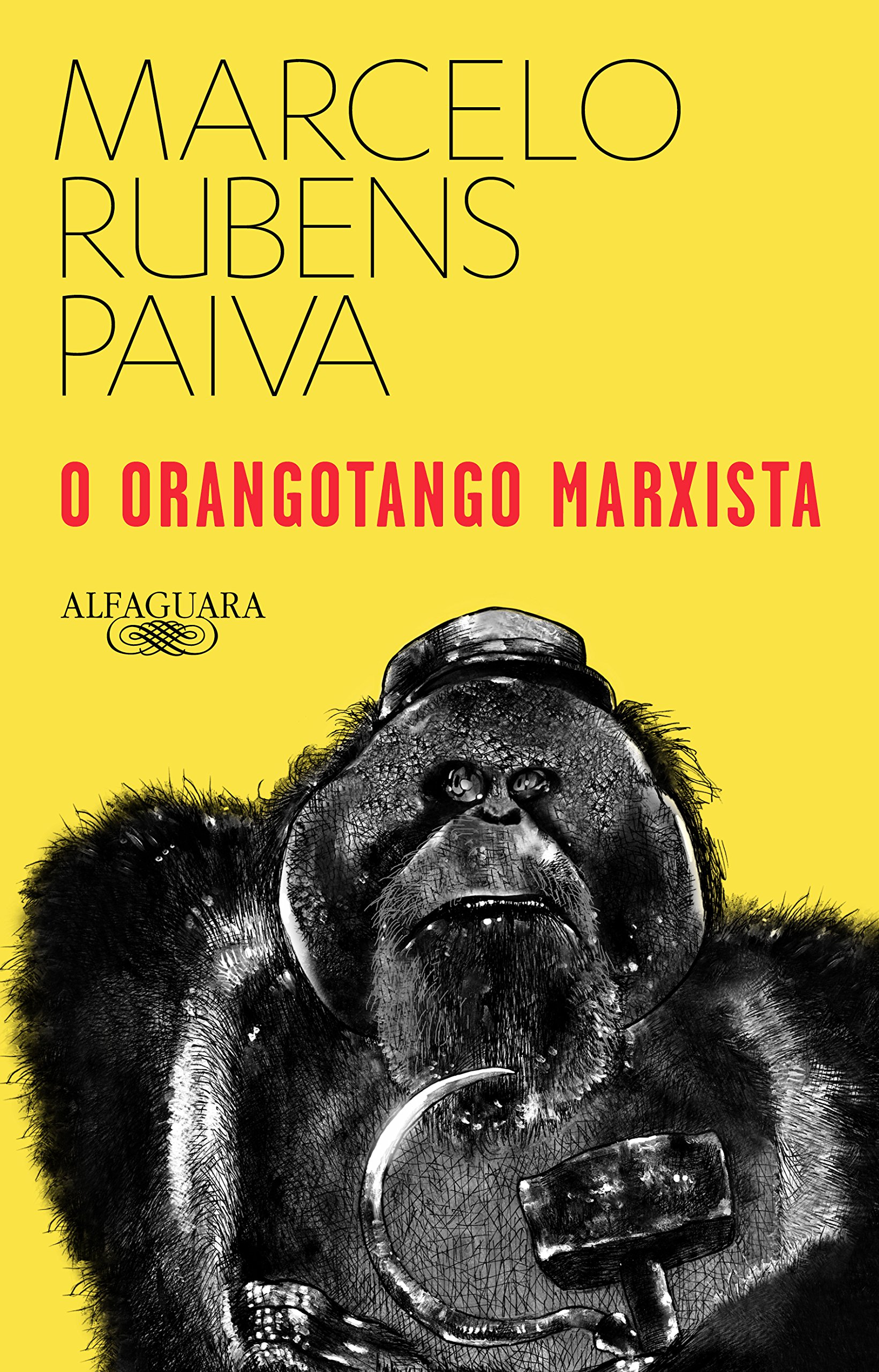Artigo publicado ontem no Estadão, assim como a lista mais abaixo.

Em linhas gerais, os escritores costumam lidar com um mesmo lote de obsessões. Quando revisitamos as obras de um determinado autor, é relativamente fácil perceber os elementos que orientam a mão do escritor e, quando bem trabalhados, desconcertam o olhar dos leitores. Não se trata apenas de “estilo”, mas de algo mais difuso que, girando em torno de um centro temático, está além do ritmo das frases, das estruturações habituais e mesmo das manias e tiques. Assim, institui-se um nível mais profundo de identificação do autor consigo mesmo e, depois, com seus leitores. Isso é evidente quando nos debruçamos sobre a produção de Ian McEwan, coisa que o relançamento de A Criança no Tempo e a chegada de Meu Livro Violeta ajudam a mapear.
McEwan passou por algumas “fases” no decorrer da carreira. É sempre uma questão de ênfase ou, melhor dizendo, de enfatizar determinados elementos ou lhes dar novas roupagens, aprofundá-los, virá-los pelo avesso, repensá-los. No começo era o “Ian McAbro” das narrativas sombrias e violentas, como os contos de Primeiro Amor, Último Sacramento e Entre Lençóis e os romances O Jardim de Cimento e Ao Deus-Dará. Já neste século, temos o autor maduro (e antenado com o zeitgeist) de Sábado e Solar. Entre uma “fase” e outra, há um período de transição e consolidação iniciado justamente com A Criança no Tempo, em 1987. A partir daí, McEwan refina aqueles elementos que já se faziam presentes nos primeiros escritos, mas trabalhando a violência de formas mais sutis e abrindo espaço para uma gama maior de interesses e especulações (vide o uso da música em Amsterdam). O refinamento culmina na obra-prima Reparação, romance que amplia todas as dissonâncias (familiares, sociais, históricas e, acima de tudo, da própria tessitura ficcional) daquele seu lote de obsessões.
Chegamos, então, aos lançamentos que celebram os setenta anos de McEwan. Terceiro romance do autor, A Criança no Tempo não era inédito no Brasil: há duas décadas, a mesma Rocco que publicou seus contos reunidos, dentre outras pérolas, colocou no mercado uma boa tradução de Geni Hirata. Para o relançamento, a Companhia das Letras recorreu a Jorio Dauster. Meu Livro Violeta, vertido pelo mesmo tradutor, traz o conto homônimo (publicado pela primeira vez na revista New Yorker) e o libreto para a ópera Por Você, de Michael Berkeley.
Premiado com o Whitbread (hoje Costa Book) Award, A Criança no Tempo é um tortuoso palmilhar pelo luto. Seu protagonista, o autor de livros infantis e “esfacelador de pequenos mundos” Stephen, teve a filha de três anos raptada na fila do supermercado. A ocorrência o afasta da esposa, a violinista Julie, e instaura uma nova relação dele com o mundo ao redor (o hábito doloroso de estar sempre à procura da filha, e às vezes de enxergá-la ou confundi-la com outras crianças) e o tempo. Este, por mais que proíba “de forma monomaníaca as segundas oportunidades”, será um aliado nem sempre amistoso, mas afinal confiável em suas tentativas não de resgatar a filha, perdida desde o começo, mas a si mesmo e Julie.
Nisso, tão importante quanto a relação dele com o melhor amigo, Charles, o qual abandona uma carreira política promissora para se esconder no campo e embarcar em uma quimérica regressão à infância, é a “viagem no tempo” que Stephen empreende, ingressando de forma alucinatória em um momento decisivo das vidas de seus pais e, por decorrência, da sua própria. Naquele instante anterior está a chave para que Stephen deixe de ser o “pai de uma criança invisível” e recupere o “desejo de pertencer” que a perda anulara.
Já Meu Livro Violeta é a história, em primeira pessoa, de um roubo intelectual. “Você não vai acreditar”, diz o narrador, “mas eu não tinha nenhum plano. Só queria ver.” Há dois amigos de longa data, ambos artistas (o que nos remete a Amsterdam) – no caso, escritores. Um deles é extremamente bem-sucedido; o outro, longe disso. Seria demais revelar exatamente o que e, sobretudo, como é roubado, mas não custa ressaltar que a traição é, mais do que intelectual, anímica.
Por fim, o libreto Por Você segue explorando esse tema. Algumas traições são mais imediatas (a esposa do compositor e o médico); outras, intrincadas e cruéis, como a motivação da empregada, disposta a tudo não para se entregar ao amado ou libertá-lo, mas, antes, tornar “seu cativeiro um lugar feliz”. Esse tipo de ironia trevosa é puro Ian McEwan.
…………
10 LIVROS ESSENCIAIS DE McEWAN
PRIMEIRO AMOR, ÚLTIMO SACRAMENTO (1975)
&
ENTRE LENÇÓIS (1978)
Trad.: Roberto Grey. Rocco, 1998.
Os dois primeiros livros são coletâneas de contos, lançadas no Brasil em um único volume pela Rocco. As narrativas são breviários de perversidades e violências, o tipo de coisa alegremente grotesca que lhe valeu o apelido Ian “MacAbro”. Personagens apaixonados por manequins. Gente com genitais em vidros de conserva (herança de família). Incesto. Há um pouco de tudo. E há o mais importante: contos tão bem escritos e imaginativos que, passada a repulsa, resta uma beleza insuspeita.
O JARDIM DE CIMENTO (1978)
Trad.: Jorio Dauster. Companhia de Bolso, 2009.
O romance de estreia. Na história, o pai e depois a mãe morrem, e os órfãos passam a, literal e perturbadoramente, “brincar de casinha”. Um elemento estranho é introduzido na brincadeira. Há um corpo enterrado por ali. E irmãos e irmãs.
AO DEUS-DARÁ (1981)
Trad.: Waldéa Barcellos. Rocco, 1997.
Sádicos e masoquistas, uni-vos! Um casal em segunda lua-de-mel erra por uma cidade que talvez seja Veneza. Lá, conhece outro casal. Uma teia é armada. E um “crime comum” é cometido. Não se engane com a brevidade do livro.
A CRIANÇA NO TEMPO (1987)
Trad.: Geni Hirata. Rocco, 1997 / Jorio Dauster. Companhia das Letras, 2018.
Terceiro romance, primeiro sacramento. Aqui se insinua uma possibilidade de redenção ou, pelo menos, expiação. E calor humano, coisa até então rara em seus escritos.
O INOCENTE (1990)
Tradução: Alexandre Hubner. Companhia das Letras, 2003.
Na Berlim do começo da Guerra Fria, McEwan reencontra “MacAbro”. O título do livro poderia ser: “As viagens de Otto”. Leia nem que seja para entender a piada.
AMSTERDAM (1998)
Trad.: Paulo Reis. Rocco, 1999 / Jorio Dauster. Companhia das Letras, 2012.
Tido por alguns como o trampolim que levaria o autor às alturas de Reparação, este romance agraciado com o Booker Prize é bem mais do que isso. A fábula moral que desenrola envolve algumas escolhas e, como toda fábula moral, é na verdade uma armadilha. Deixe-se levar pela música (mas não muito).
REPARAÇÃO (2001)
Trad.: Paulo Henriques Britto. Companhia das Letras, 2002.
A obra-prima de McEwan. A princípio, o romance se apresenta como a história de uma paixão malograda pelas intrigas de uma terceira (e inusitada) parte. Mas, na verdade, é um esforço de expiação por meio da fabulação literária, tão bem-sucedida esteticamente quanto malfadada “na prática”. Os Mortos de Joyce voltam à vida, e Evelyn Waugh sorri desde o além.
SÁBADO (2005)
Trad.: Rubens Figueiredo. Companhia das Letras, 2005.
Em 15 de fevereiro de 2003, protestos contra a Guerra do Iraque tomaram Londres. Acompanhamos o protagonista, um médico de meia-idade, em sua jornada contra o dia. Ciente da pulsação histórica do momento, McEwan encapsula conflitos e tensões: o clímax enseja violência, mas também algum consolo. “O mar está calmo esta noite…”.
ENCLAUSURADO (2016)
Trad.: Jorio Dauster. Companhia das Letras, 2016.
Uma reimaginação de Hamlet em que o narrador é nada menos do que um feto. Afinal, de “que serve a imaginação senão para visualizar, saborear e repetir possibilidades sangrentas”?