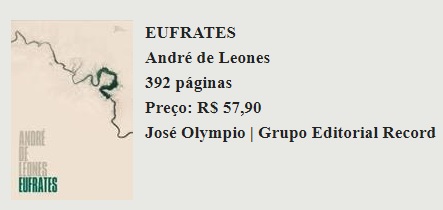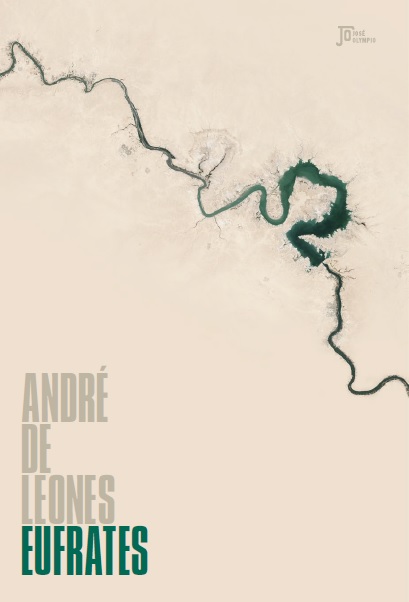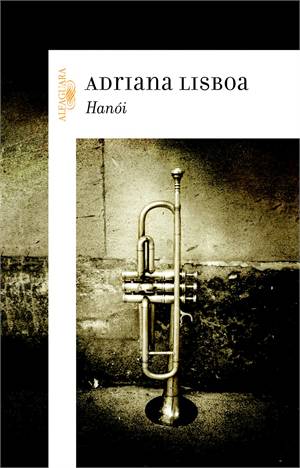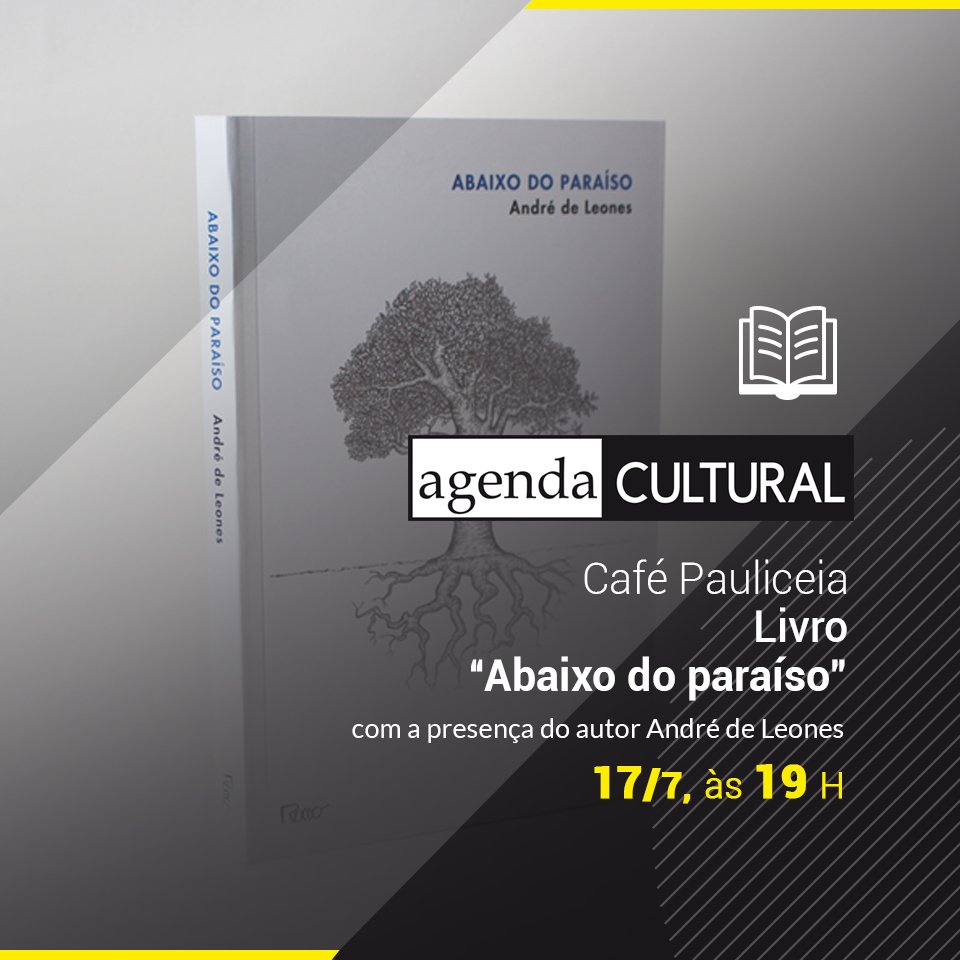Texto publicado na edição de julho do
Jornal Rascunho.
Incomoda-me a noção de que, em um romance (ou filme, ou série, ou o quê), cada cena, diálogo ou passagem tem de, necessariamente, exibir uma “função narrativa”. É um vício muito disseminado pelas (más) oficinas (sic) de criação literária e que, em parte, é responsável por essa miríade de narrativas com as quais nos deparamos por aí, romances engessados, com armas de Tchekhov dependuradas em cada mísera página, diálogos “funcionais”, capítulos como tijolos formando uma casa até vistosa (quando vista de fora), mas cujos cômodos estão vazios ou são inabitáveis e o teto, bom, quem precisa de um teto, não é mesmo?
Pensava a respeito disso quando li um trecho de O artista da pá, terceiro volume dos imprescindíveis Contos de Kolimá, de Varlam Chalámov: “O leitor deixa de confiar no pormenor literário. O pormenor que não encerra em si um símbolo parece desnecessário no tecido artístico da nova prosa”. A rigor, a investida de Chalámov vai noutra direção, mas, como leitor, poucas coisas me dão mais prazer do que uma descrição tão bem feita quanto “dispensável” (ou que até diga algo da história e dos personagens, mas nunca, jamais, necessariamente), um diálogo tão bem escrito quanto solto, sem rumo (de novo: que até diga algo da história e dos personagens, mas nunca, jamais, necessariamente), digressões e passagens esdrúxulas, quase descoladas do resto, e uma ou outra dose gratuita de violência, até porque a violência, quando nos atinge, é quase sempre um soco no escuro, isto é, absurda, gratuita.
Sobre a violência, aquilo que nos mostra Michael Haneke em seu filme Funny Games (ou Violência Gratuita, como o rebatizaram no Brasil) talvez sirva para o que procuro pontuar aqui. Tanto quanto qualquer outro elemento narrativo no âmbito de uma obra cinematográfica, a violência diz respeito ao jogo do olhar e, enquanto tal, alimenta (e, no caso de Haneke, questiona e explicita) a cumplicidade do espectador para com o que vê, ensejando uma espécie de empatia falseável que está no cerne do jogo supracitado.
Olhando por esse ângulo, penso que quem “aceita” ou “justifica” o uso da violência em um determinado enredo (fílmico ou literário) porque ela teria ali uma “função narrativa” não raro está imbuído de uma visão ideologizante típica dos que apregoam que a arte deve necessariamente “tomar uma posição” frente ao (e não raro contra o) mundo, mais do que isso, uma posição predeterminada, dogmática, estigmatizadora e, por tudo isso, viciada.
Segundo essa visão enferma, típica de um ambiente político-cultural em que a ética (qualquer que seja) carece de um chão epistemológico para se firmar, a violência deve necessariamente ser um recurso que desvele um “estado de coisas”, uma ferramenta que ilumine aspectos da nossa “vivência social”, um espelho que reflita a famigerada “luta de classes”, e por aí afora. Vide, por exemplo, as más leituras das narrativas brutalistas de Edyr Augusto, artigos e resenhas repletos desse vocabulário forçosa e às vezes irrefletidamente “situador”, por meio do qual o crítico busca “justificar” os terrores descritos naquelas páginas. Quando não encontra uma “função narrativa” (para não dizer “social” ou “política”) para a violência descrita, seja em Augusto, seja em qualquer outro autor, o crítico, então, lança mão das obviedades empobrecedoras habituais: o autor quer “chocar por chocar”, as barbaridades não “contribuem” para o “avanço” da narrativa, a violência ali nada “diz” sobre o que quer que seja etc. No limite, recorre a expressões como “reacionário”, “fascista”, “pornógrafo”, “sub-Rubem Fonseca” e afins.
Ainda no âmbito dessa discussão, mas abrindo um parêntese, transcrevo o parágrafo 785 da Ciência Nova (tradução de Jorge Vaz de Carvalho, Fundação Calouste Gulbenkian), de Giambattista Vico:
Scalígero faz notar que quase todas as comparações são tomadas das feras e de outras coisas selvagens. Mas conceda-se ter sido isto necessário a Homero para se fazer compreender melhor pelo vulgo feroz e selvagem: porém, por muito bem-sucedido, pois tais comparações são incomparáveis, não é certamente próprio de engenho familiarizado com alguma filosofia e por ela civilizado. Nem poderia nascer de um ânimo humanizado e compadecido por alguma filosofia aquela truculência e ferocidade de estilo com que descreve tantas, tão variadas e sanguinárias batalhas, tantas, tão diferentes e todas de maneiras tão extravagantemente crudelíssimas espécies de matanças, que constituem particularmente toda a sublimidade da Ilíada.
Chega a ser divertido o tatear viconiano por uma luz teorética frente à extrema violência que salta das páginas da Ilíada, em sua (dele, Vico) busca pelo “verdadeiro Homero”. Mas, ainda que tal reflexão sirva para estabelecer uma distinção importantíssima no corpo da Ciência Nova, o filósofo não tergiversa: a “sublimidade” do poema diz respeito precisamente às “tão extravagantemente crudelíssimas espécies de matanças”, por mais que elas não sejam próprias “de engenho familiarizado com alguma filosofia e por ela civilizado”. Felizmente, eu acrescentaria.
Fechado o parêntese, parece-me que a noção aludida no primeiro parágrafo deste texto deriva de outra, mais abrangente, mas não menos desgraciosa, de que a literatura “serve” para criar algum ordenamento frente ao caos que nos circunda, e/ou para necessariamente “dizer” algo a respeito desse caos. Ora, também essa noção é típica dos (com a licença do jovem Nietzsche) “fisiologicamente regredidos, dos fracos”, não porque não haja (ou não possa haver) alguma espécie de ordenamento, mas porque este, no mais das vezes e nas melhores obras, não é verificável imediata e/ou imanentemente, e muito menos conforme os filtros e predeterminações de quaisquer visões de mundo que procuram estabelecer, de antemão, como uma obra de arte pode e deve se comportar — que o diga a leitura estúpida da Educação Sentimental, de Flaubert, feita pelo paupérrimo Jean-Paul Sartre.
Assim contaminadas por essas e outras noções, pululam “interpretações” obtusas, apressadas, engraçadinhas, às vezes carregadas de um niilismo tão fácil quanto insubstancioso, “leituras” que se esforçam para tecer uma teia desinformada de relações que não são propriamente relações, mas meras reações que redundam (quando muito) em associações tão livres quanto equivocadas. Acredito que a violência e os tempos mortos, em geral tidos como narrativamente “dispensáveis”, dizem bastante de nós, os que (ainda) estamos vivos (ou quase), mas é triste constatar como a engenharia grotesca da funcionalidade também condena de antemão qualquer objeto literário que não traga em si um maquinário previsível ou cuja suposta imprevisibilidade seja imediatamente digerível pelos intestinos sensíveis da inteligência.
De um modo geral, parece haver certa indisposição à abertura, qualquer que seja: em tais circunstâncias, o crítico tem uma ideia bastante clara do que deveria ser a obra da qual se ocupará, mas não do que ela é ou pode ser, para o bem ou para o mal; nesses casos, o exercício da leitura se torna um exercício de fechamentos, um joguinho por meio do qual se mensura o quanto as expectativas do avaliador foram ou não cumpridas, joguinho cujas regras, não raro contaminadas por aquela teia relacional equivocada e/ou por uma carga ideológica cerceadora, estão (reitero, morrerei reiterando) estabelecidas de antemão, independentemente da obra a ser lida ou vista. Uma característica é encarada como um “defeito” ou “problema estrutural”, e muitos trabalhos são condenados por não serem algo que, se analisados com um mínimo de atenção, jamais tiveram a intenção de ser.
Em um contexto tal, empobrecido e empobrecedor, talvez seja o caso de apelar para uma espécie de reinversão copernicana. Dado o exercício doentiamente cerceador, a indisposição para com quaisquer aberturas, a tara pelos fechamentos amparados nas mais variadas pseudices e nos mais diversos preconceitos, ideológicos ou não, creio que não seja absurdo deslocar o caráter disfuncional das obras para o olhar de quem assim se dispõe a enxergá-las. Pois é possível que essas obras, com maior ou menor sucesso, reflitam em ou por meio de sua violenta fragmentação algo da nossa vivência ensombrecida, ainda mais nos dias que correm. As disfunções narrativas seriam, assim, traduções imperfeitas de algo que, em nós e fora, no outro (esse monstro), jaz como um resto irreparável. Mais do que nunca, a obra de arte seria tão grande quanto aquilo que cala e, assim abertos ao silêncio do que nos é disfuncionalmente comunicado, talvez conseguíssemos nos situar à sombra do outro e reaprendêssemos a atentar para a mudez essencial do mundo.