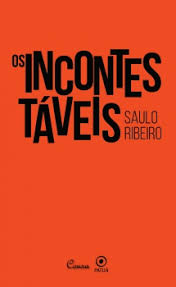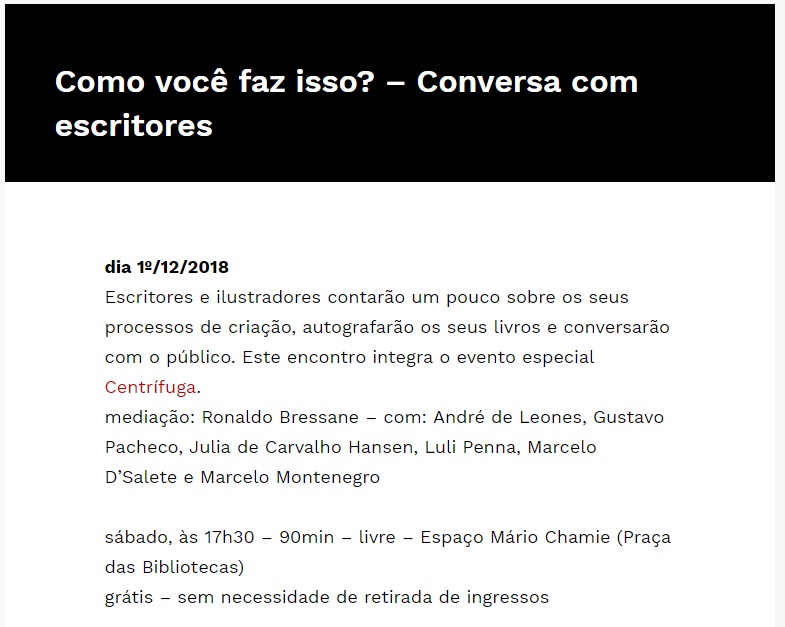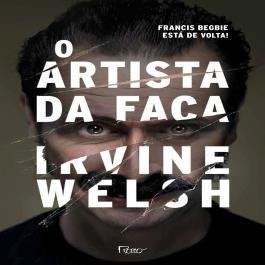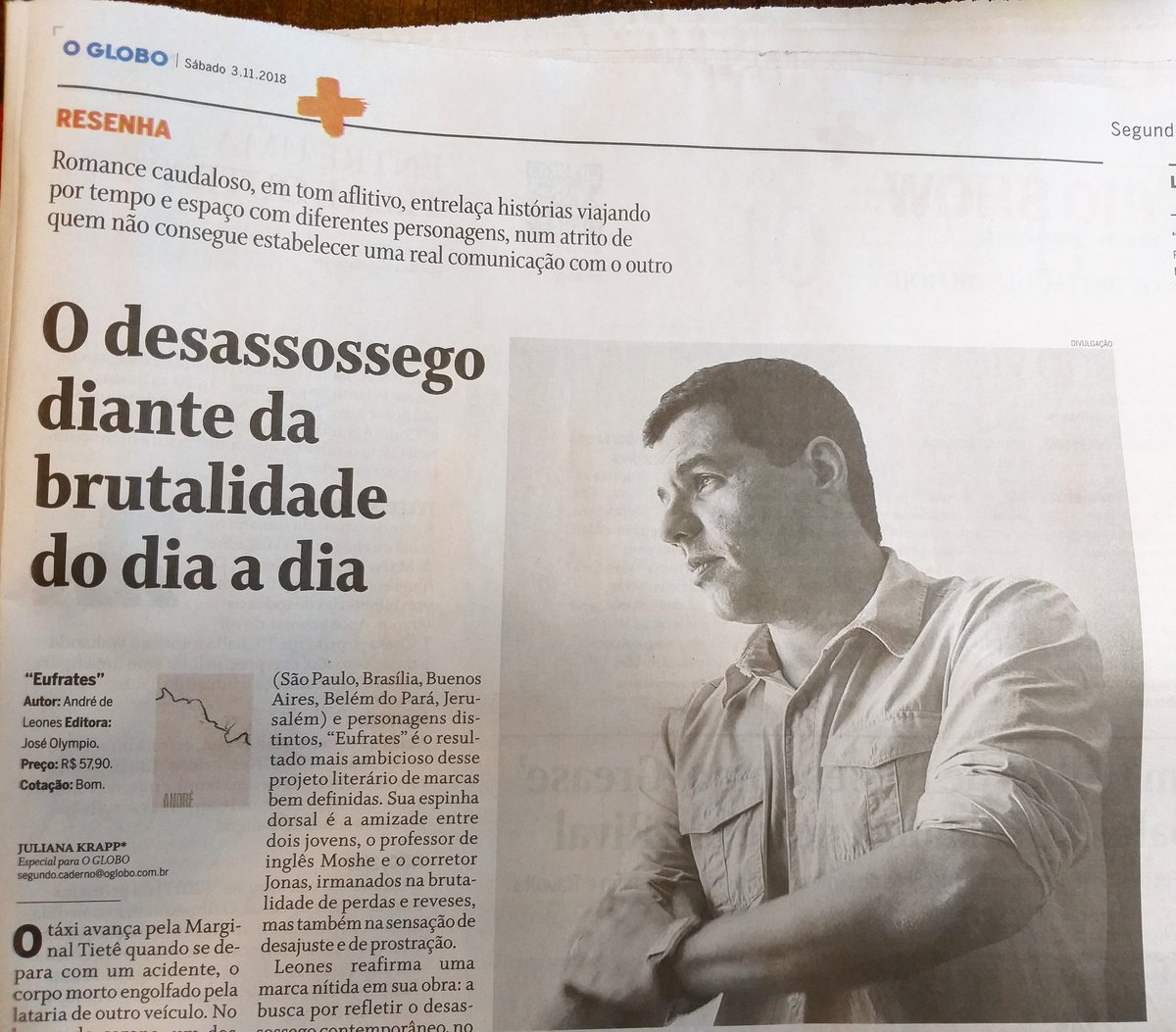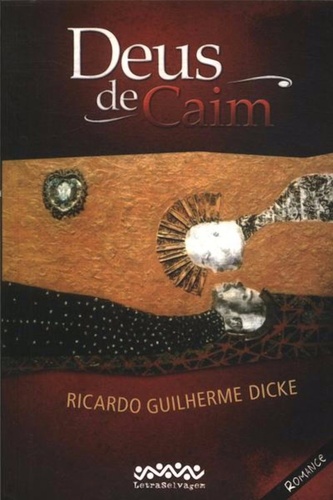“Noção terás do que é o ermo, a solidão?”
— Goethe, no Fausto.

1. Era o começo dos anos noventa do século passado, era o interior de Goiás, era o governo Collor (não por muito tempo), e lá estava aquele sujeito que, parado no topo da escada, fazia Sieg Heil para a molecada reunida no alpendre, o braço direito estendido e a voz altissonando: “Heil Hitler!”.
1.1 O sujeito era pai de um colega de escola que eu visitava quase todos os dias. Eu e o colega jogávamos Mega Drive, Streets of Rage, Desert Strike, Golden Axe, ou ouvíamos os vinis do irmão mais velho dele, Use Your Illusion (eu gostava mais do II, meu colega preferia o I, daí que ouvíamos ambos), o Black Album, Nevermind, The Real Thing, havia também uma coletânea dos Doors, ou assistíamos à televisão, eles tinham antena parabólica e um aparelho de muitas e muitas polegadas, era impressionante aquele caixotão de madeira (embora eu achasse a imagem escura demais) ali na sala, dominando a paisagem, impossível olhar noutra direção, para outra coisa, qualquer outra coisa.
1.2 O lance com o Sieg Heil acontecia sempre que o pai dele chegava, e a gente ria porque tinha dez, depois onze, depois doze anos, e aquele era o único Pai que tentava fazer alguma gracinha, os outros Pais não faziam nada ou simplesmente entravam e resmungavam um cumprimento qualquer antes de desaparecer. O sujeito surgia no topo da escada ou no cômodo onde estivéssemos (era uma casa grande), erguia o braço, “Heil Hitler!”, a gente ria e ele às vezes dava um tempinho por ali, jogava um pouco de videogame ou perguntava o que estávamos vendo ou ouvindo ou estudando, porque às vezes acontecia de estudarmos, já lancharam?, era o único Pai que fazia todas essas coisas, e a gente (a turminha do filho caçula) não desgostava nem tinha medo dele, o que naquela idade significava muito, vamos concordar.
2. Demorou algum tempo para que eu entendesse certas coisas, e então era o governo Itamar, mas ainda eram os anos noventa do século passado, ainda era o interior de Goiás, a mesma casa, o mesmo Sieg Heil, que deixou de ser engraçadinho ou “diferente” depois que aprendi uma coisinha ou outra, meio que sem querer, e me inteirei de alguns fatos que, certo dia, o meu colega — estávamos de novo na casa dele, onde mais?, sentados no tapete da sala, ouvindo In Utero — negou, não foi bem assim, meu pai me explicou, ferraram muito a Alemanha com aquele tratado lá, como é que o nome?, ele só fez o que precisava fazer, e esses judeus, bicho, ah, puta que pariu, deixa eu te falar desses judeus, e eu até deixava, beleza, fala aí, mas a conversa morria pouco depois e era evidente que, embora quisesse, o meu colega não tinha muito o que falar “desses judeus”, nada além de ideias genéricas e obscuras, aproveitadores, sacanas, meu pai, ele me explicou tudo, ele me explicou tudinho.
2.1 Meu desconforto aumentou gradativamente, fosse pelas coisas que o colega dizia e/ou ensaiava dizer sempre que determinados assuntos surgiam, fosse porque o pai dele não se cansava do Sieg Heil. A essa altura eu já não conseguia rir ou disfarçar ou embarcar na “brincadeirinha”, mas nenhum deles parecia se importar, ninguém ali parecia se importar, a palhaçada se dava do mesmo jeito, os outros colegas riam do mesmo jeito, a vida seguia do mesmo jeito.
2.2 Não sei por que continuei a frequentar a casa desse colega; talvez porque aos treze anos as coisas não fossem tão simples, ou eu pressentisse que elas só complicariam com o passar do tempo. E aquele era o “melhor amigo” — onde encontraria outro? Entretanto, no que diz respeito ao Sieg Heil, passei a sentir cada vez mais vergonha por algum dia ter achado graça de tamanha imbecilidade. E também comecei a sentir raiva de mim por não conseguir me afastar.
3. Muitos e muitos anos depois, em Israel, contei essas coisas para um conhecido. Estávamos sentados a uma mesa na Ben Yehuda, bebendo e comendo não me lembro o quê. Fazia muito calor. Era o sharav.
3.1 Esse conhecido era francês, recém-instalado em Jerusalém. Dizia trabalhar como fotógrafo, mas nunca me explicou direito o que fazia por lá e eu tampouco quis saber. Dizia também não conhecer a América Latina e estar curioso sobre o Brasil. Falei, então, dos anos noventa do século passado, falei do interior de Goiás, falei do sujeito parado no topo da escada, o braço direito estendido e a voz altissonando: “Heil Hitler!”. Falei de como a gente achava isso engraçado aos dez, onze, doze anos, falei de como isso aos poucos foi me parecendo mais e mais escroto, até o momento em que senti vergonha por algum dia ter achado graça de tamanha imbecilidade.
3.2 Quando parei de falar, o francês respirou fundo, tomou um gole do que quer que estivesse bebendo e disse, antes de gargalhar: “Você se envergonha do seu passado nazista”.
4. Eram os anos noventa do século passado, e também foi na casa daquele meu colega que ouvi o pai dele dizer, referindo-se a Collor, PC Farias e cia., o escândalo então no auge, que na época da revolução (sic) não tinha nada dessas coisas, não tinha roubalheira, não tinha safadeza, era tudo bem diferente. Mais tarde, em casa, comentei a respeito com o meu pai e ele bufou (estava sempre bufando) e disse que na época da ditadura (sic) era tudo bem diferente, sim, mas por outras razões. Ele disse isso e se calou, não entrou em detalhes.
4.1 (Meu velho nunca entrava em detalhes. A gente que se virasse para saber do que ele estava falando, que corresse atrás, que se informasse por conta própria e tirasse as nossas próprias conclusões. Essa sua recusa sistemática a entrar em detalhes foi uma das melhores coisas que poderia ter feito por mim.)
4.2 Essa outra história, sobre a noção sempre muito difundida de que a corrupção era algo estranho à ditadura militar, essa outra história eu não comentei com o francês, embora tivesse muito a ver com o que ele supostamente queria de mim naquela tarde (“saber mais do Brasil”). Senti preguiça de contextualizar a coisa, e estava cansado de falar do século passado, do interior de Goiás, do meu “passado nazista”.
5. O francês e eu deixamos a Ben Yehuda e fomos a um pub nas redondezas. O calor estava insuportável e uma cerveja cairia bem. No pub, papeamos sobre outras coisas, até porque nenhuma história que eu contasse seria capaz de rivalizar com as maluquices que o dono do lugar, um bielorrusso, conforme a noite se aproximava, curtia compartilhar com os fregueses. “Meu avô me contou uma coisa muito louca que ele viu quando era moleque”, ele começava, e quem estivesse ao balcão (eu sempre me sentava ao balcão) calava a boca para ouvir.
5.1 Eu tinha visto Vá e Veja e fazia alguma ideia do que significava ser moleque na Bielorrússia em meados da década de 1940. Mas, naquela tarde, por alguma razão, não consegui prestar atenção em nada. Mesmo quando o bielorrusso desandou a falar, entremeando o discurso com uma dose ou outra do que estivesse à mão (ele adorava infligir Bushmills aos fregueses) (aceitávamos de muito bom grado), continuei pensando no que contara ao francês, nós dois sentados a uma mesa no calçadão da Ben Yehuda, comendo e bebendo não me lembro o quê enquanto o sharav nos castigava, inclemente.
5.2 Eram os anos noventa do século passado, era o interior de Goiás, a igreja ainda ficava lotada nos feriados religiosos, as procissões tomavam as ruas durante a Semana Santa, o pai de um colega nos fazia rir com seus Sieg Heil e, em Jerusalém, rememorando essas coisas tanto tempo depois, senti mais vergonha do que nunca do meu passado nazista.