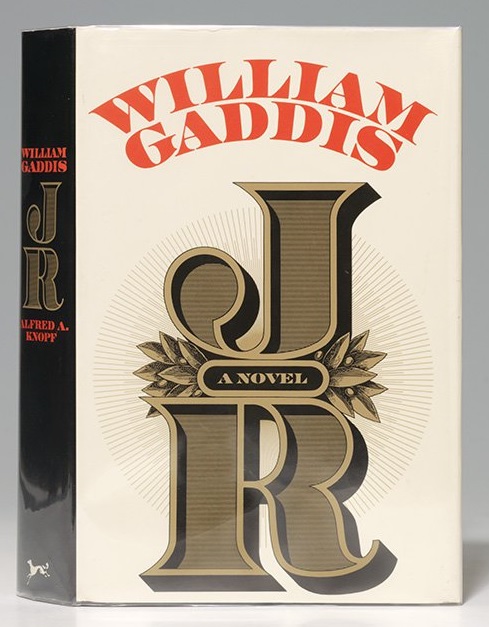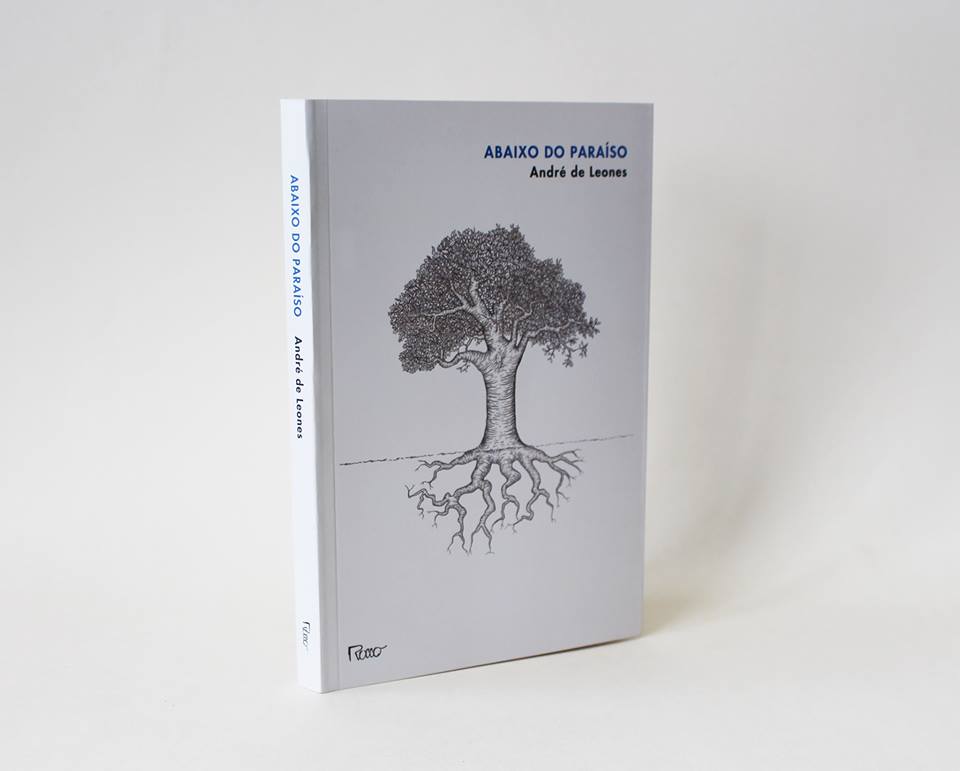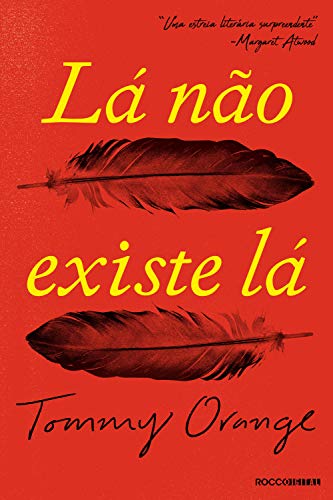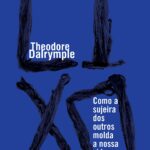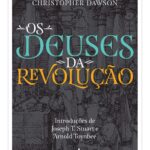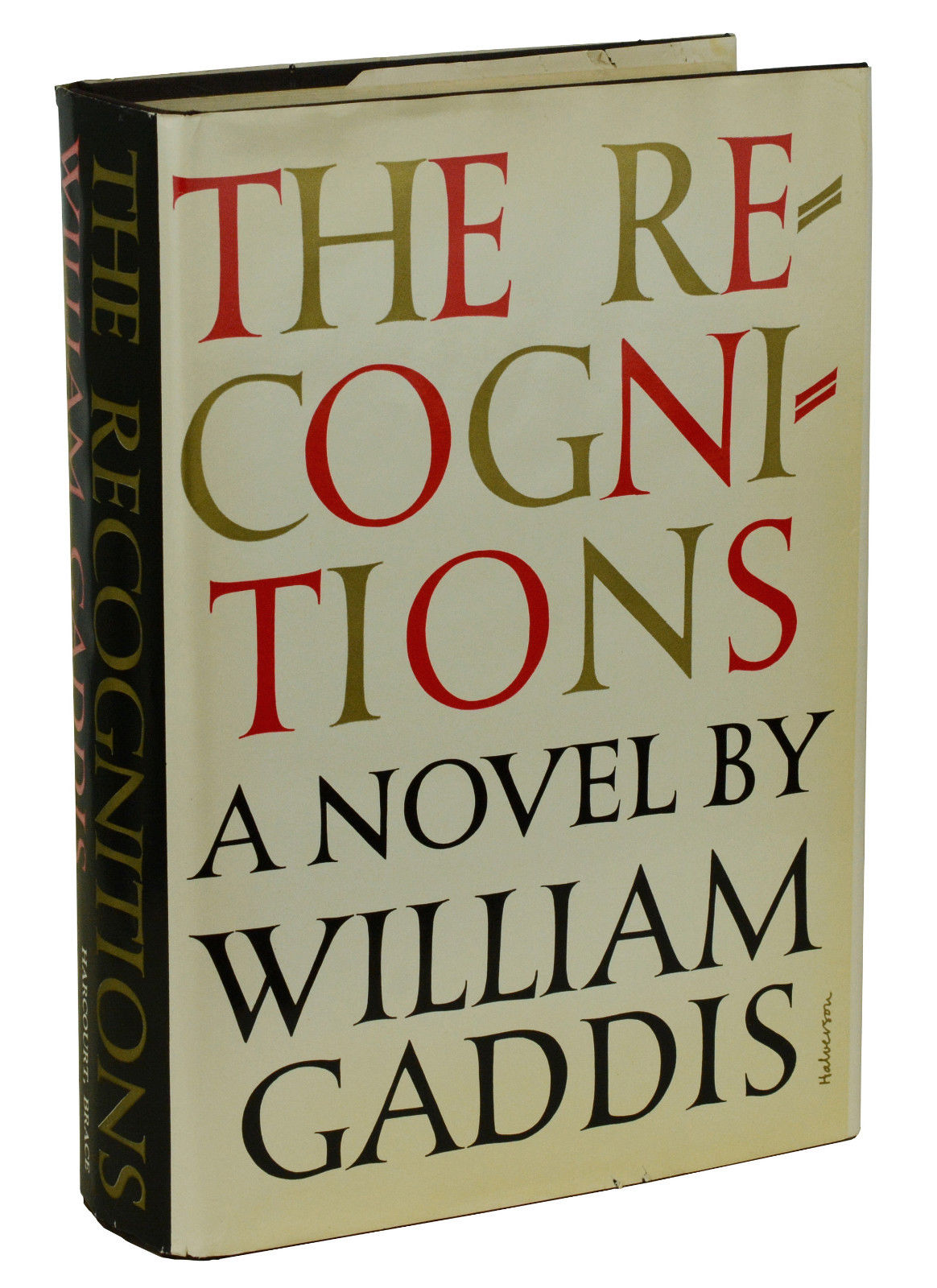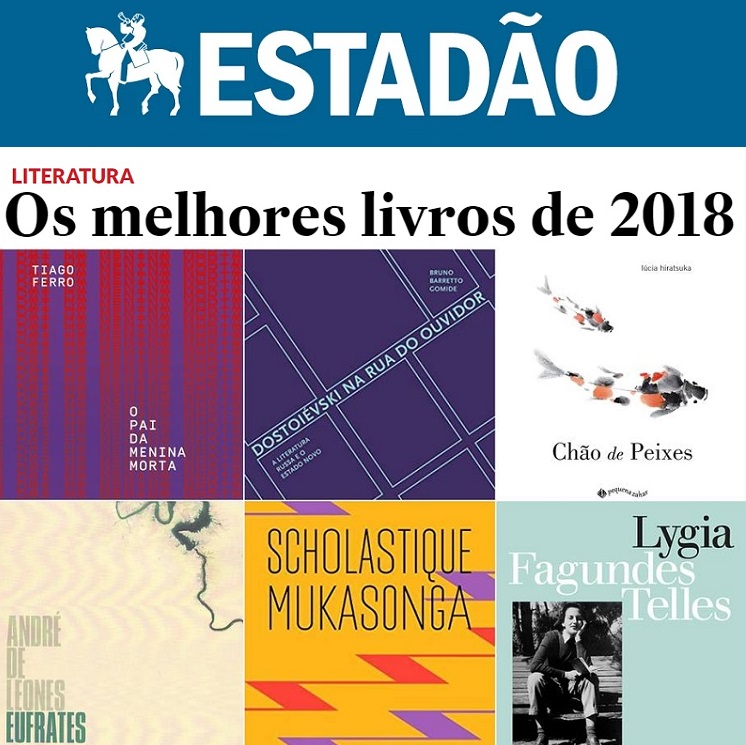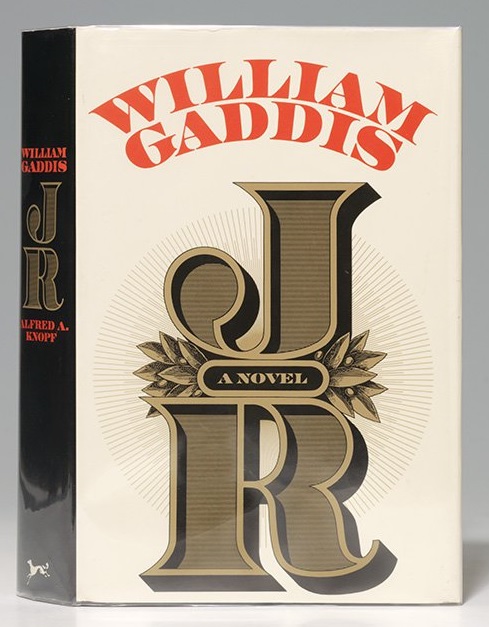
1.
J R¹ é o segundo e premiado romance de William Gaddis. Lançado em 1975, vinte anos após sua estreia com o soberbo The Recognitions², é uma sátira selvagemente engraçada da América corporativa (“what America’s all about”, dizem vários personagens no decorrer do livro) e também uma reflexão pungente sobre o (não) lugar do artista no mundo contemporâneo. Esses aspectos aparecem imbricados, sobretudo em personagens que são (ou foram, ou querem ser) artistas e se veem lambuzados de graxa e encaixados nos dentes dessa enorme engrenagem de ecos anarcocapitalistas.
Não custa ressaltar que o próprio Gaddis, após a publicação de Recognitions e a péssima recepção desse livro³, embrenhou-se em toda sorte de empregos, inclusive no tal mundo corporativo, para sobreviver. J R é fruto da cacofonia sistêmica a que seu autor foi exposto por anos e anos. Sem tal vivência, e sem antes sofrer com o silenciamento provocado pela burrice e pelo descuido dos resenhadores do seu romance de estreia, acredito que ele não teria escrito esse segundo livro tal e qual o conhecemos. E há outro aspecto a ser sublinhado desde já: em uma sátira tão violenta do capitalismo sem peias, é incrível como os artistas se sobressaem — todos tentando a todo custo iniciar ou completar suas obras, e nenhum deles sabe dizer por que faz isso; eles simplesmente fazem, apesar de tudo e a despeito de si mesmos.
J R, o personagem-título, é um moleque de onze anos que erige um império financeiro usando o orelhão da escola, no que é inadvertidamente auxiliado por um compositor chamado Edward Bast. Eles não estão sozinhos, é claro. Há um turbilhão de vozes e situações tão absurdas quanto o mote do romance, com uma centena (um pouco mais, na verdade) de outros personagens errando (e falando sem parar) por e entre a cidadezinha de Massapequa e Nova York. Basta dizer que, do ponto de vista financeiro, há um imbróglio envolvendo as ações de uma antiga companhia da família de Bast, a General Roll (que fabricava pianolas), e também a balbúrdia provocada pela gradativa, mas sempre faminta, “verticalização” da J R Family of Companies (sic).
A partir de tudo isso, e levando-se em conta que, desde a primeira palavra, tudo no romance é tocado por/tem a ver com dinheiro, arrisco dizer que aquele diagnóstico de uma personagem de Cosmópolis, de Don DeLillo, de que o dinheiro estaria “perdendo sua qualidade narrativa”, é meio exagerado. Não obstante a abrasiva imaterialidade do sistema financeiro e toda a “especulação no vazio” que grassa em ambos os livros, há em J R uma atenção inequívoca ao “lado de fora”.
De certo modo, em Gaddis, é como se víssemos o mundo através daquele buraco feito a bala na mão de Eric Packer, protagonista de Cosmópolis. (A propósito, não custa lembrar que é o próprio Packer quem aperta o gatilho.) Em J R, diferentemente, a coisa toda é uma questão de palavras, não de silêncios, e o personagem-título — embora seja um garoto e circule pelos mercados uns trinta anos antes de Packer — não demonstra o menor interesse pela “dor (que) era o mundo” simbolizada pelo furo na mão.
Não, nosso garoto J R não atenta para nada disso, pois a única curva de aprendizado que lhe interessa envolve ativos e ações. No entanto, há vários outros personagens que atentam, seja porque não têm escolha, seja porque veem o mundo através da própria mão estraçalhada (por outrem ou por eles próprios) desde sempre.
Assim, J R pode ser encarado como um épico da corrupção, e não me refiro apenas à corrupção intrínseca ao “sistema” (qualquer sistema, sublinhe-se), mas àquela enraizada no espírito humano e cujos galhos se lançam no mundo para abraçar pactos faustianos de toda espécie — ou em espécie. No fim das contas, o dinheiro em si não é a questão, nunca foi, mas, sim, o modo como cada indivíduo se posiciona diante de si, no espelho que é o outro. Não se engane: em meio ao vozerio e ao caos, nesse comércio humano que é a vida, Gaddis está sempre buscando a interlocução, o diálogo verdadeiro, na esperança de que ainda haja alguém do outro lado da linha.

2.
Estruturalmente, J R se apresenta como um bloco narrativo único, crivado de diálogos do princípio ao fim. Esse bloco, contudo, é subdividido em cenas — se nos orientarmos pelo site Gaddis Annotations, são oitenta e três cenas, mais catorze pequenas “transições” entre algumas delas, ao longo de 726 páginas. Em outras palavras, cenários, personagens e situações mudam de quando em quando e enquanto o enredo avança, mas o autor não nos oferece nenhuma “pausa” ou respiro; não raro, o tempo passa e somos ressituados no corpo de uma mesma frase.
Isso talvez soe meio complicado à primeira vista, mas bastam algumas páginas para que o leitor não só se acostume como passe a se deliciar com essas mudanças de cenas e transições. A passagem abaixo (p. 316) talvez deixe mais claro o que tento explicar (perdoem a tradução caseira e apressada; procurei respeitar o desrespeito do autor pela pontuação, ou melhor, respeitar seu apreço pela pontuação funcional e expressiva):
“(…) e em algum lugar o relógio retomou suas tentativas ocasionais de soar a hora até que a manhã se aproximou hesitante como se estivesse insegura quanto ao que encontraria. — Meu Deus, você não pode se levantar e fazer alguma coisa pra eles comerem? será que eu tenho que fazer tudo nessa casa…? portas bateram, o banheiro suportou uma rodada de descargas, fumaça subindo da torradeira deitou uma manta azul no corredor e a manhã que ainda persistia lá fora e parecia decidida a permanecer declinou até o cinza vespertino. — Agora o quê, Nora, meu Deus, a mamãe não pode descansar um dia sem que todo mundo fique louco? Vai pedir pro papai fazer um sanduíche com manteiga de amendoim se possível sem botar fogo na casa, fecha essa porta e desliga a TV… ! e por fim o cinza engendrou o breu, o relógio tentou mais uma vez soar a hora, errou, esperou, tentou surdamente outra vez, de novo, até que o alarme aguilhoou o silêncio noutro dia sem sol. (…)”
Eu poderia ter escolhido inúmeros outros trechos para exemplificar a forma como se dão essas transições, até porque a passagem acima não é bem uma transição de uma cena para outra, mas apenas denota a passagem do tempo no interior de uma mesma cena (continuamos no mesmo cenário, com os mesmos personagens). O procedimento, contudo, é sempre o mesmo: o tempo escoa, às vezes há falas soltas de um ou outro personagem, e daí somos lançados no momento e no espaço seguintes.
Na maior parte do livro, contudo, não há qualquer transição entre uma cena e outra, mas apenas um corte seco, e pronto. Por exemplo, há um personagem falando ao telefone e, de repente, estamos como que do outro lado da linha, isto é, na companhia daquele que, na cena anterior, era o interlocutor mudo, e que agora assume o proscênio. Essas mudanças, com ou sem transições, conferem uma agilidade estonteante à narrativa, e é importante frisar que nada é irrelevante, isto é, informações vitais para o desenvolvimento da trama são dadas a todo instante, muitas vezes de forma enviesada — um comentário solto, uma ligação entrecortada, uma referência à primeira vista cifrada, alguém lendo uma carta ou relatório etc.
As cenas são constituídas quase que inteiramente por diálogos, com raras (embora reveladoras e muitas vezes hilárias) interferências da narração em terceira pessoa. Assim, mais do que na estruturação sui generis do romance como um todo, é na construção e no desenvolvimento de inúmeros modos de fala que Gaddis se esbalda. Não se trata de um “mero” apelo ao coloquialismo (coisa que tampouco é fácil), mas da individualização de dezenas de personagens por eles mesmos, isto é, pela maneira como cada um deles se expressa, e do uso inteligente da pontuação para sublinhar estados de espírito e características pessoais.
A coisa é tão genialmente construída que, passadas algumas páginas, o leitor consegue identificar sem maiores problemas quem está falando, mesmo quando há quatro, cinco ou até mais personagens papeando em uma determinada cena. J R, por exemplo, sempre soa mais ou menos assim (p. 300):
“— Não mas caramba, quer dizer me escuta sou eu quem tem que bolar essas coisas e tipo tomar essas decisões aqui com esses riscos e tudo quer dizer eu quase não dei conta cara, fazer esse acionista aqui colocar dinheiro nessa conta aqui pra arranjar um empréstimo com essa outra aqui pra conseguir enviar todos aqueles garfos e pagar esses títulos todos que eu já mandei pra eles onde esses corretores aqui começam…”

3.
Além de Bast e J R, há alguns personagens com maior importância ou incidência no decorrer do romance. Enumero alguns deles abaixo:
- Jack Gibbs: professor de JR e escritor frustrado, pena para (não) terminar um confuso livro de não-ficção intitulado Agapé Agape (a propósito, título do quinto e último romance de Gaddis, lançado postumamente). Bebe demais, está falido por conta de um divórcio litigioso, e só tem um breve respiro graças a Amy Joubert (e a promessa de outro ao final, mas é impossível ter certeza).
- Emily (Amy) Joubert: filha de um tubarão corporativo chamado Moncrieff (diretor da Typhon International, ele depois assume um cargo em Washington). Professora como Gibbs, Amy também passou por um divórcio complicado e é usada como testa-de-ferro em uma fundação criada pelo pai a fim de sonegar impostos.
- Thomas Eigen: alter ego de Gaddis, escreveu um romanção anos antes, mas se vê obrigado a ganhar a vida como redator de discursos na Typhon.
- Stella Angel: prima de Bast, faz de tudo para abocanhar sua parte na herança da família, mesmo que isso signifique (ao menos no começo) abocanhar o primo.
- Dan DiCephalis: marido de Ann (não confundir com Amy). Ambos trabalham na escola em Massapequa, pelo menos até certa altura — ele se meterá em um experimento militar-industrial chamado Teletravel e acabará, bem, pulverizado; ela posará nua para a revista She. Ah, sim: o casal mantém em casa um velho sem nome; ambos se referem a ele como Dad, “papai”, porque Dan acha que ele é o pai de Ann, e Ann acha que ele é o pai de Dan.
- Whiteback: diretor da escola e presidente do banco local. Sim, é isso mesmo.
- Coen: advogado da General Roll, tenta esclarecer uma espinhosa questão familiar dos Bast.
- Rhoda: aspirante a modelo, passa a viver em um apartamento novaiorquino que Eigen e Gibbs pretendiam usar para escrever — e se encontrar com mulheres — e no qual Bast se entoca para compor; claro que o lugar se transforma no “quartel-general” das empresas de J R.
Patrick O’Donnell4 definiu J R como um “palimpsesto de trocas verbais onde os aparelhos de transmissão — telefones, televisores, gravadores — tomaram conta, em um certo sentido, do discurso, de tal forma que a conversação e o comércio humanos refletem a quase completa instrumentalização da vida humana e a ‘capitalização’ da identidade”. Essa instrumentalização é, de fato, evidente na maior parte das “trocas verbais” que ocorrem no romance, e não só pela onipresença daqueles aparelhos, mas pelo seu próprio teor e, acima de tudo, pelos hilários desencontros, incompreensões e enganos que a despersonalização provoca.
Por exemplo: a escola em Massapequa testa um sistema de ensino pela TV (financiado pela tal fundação de Moncrieff), e Whiteback tem acesso em tempo real ao que ocorre em cada sala de aula. Mas isso não impede que ele incompreenda o que acontece ali: os alunos de uma determinada turma passam mal depois de cheirar cola (por descuido de um professor cretiníssimo e desfigurado, Vogel) e caem no chão; o diretor vê aquilo pela TV e acha que se trata de uma greve (!) da criançada.
(Isso me fez lembrar de outra coisa engraçadíssima: no começo do romance, Bast é uma espécie de compositor residente na tal escola e trabalha na montagem da ópera O Ouro do Reno (Das Rheingold), de Wagner, com uma turma da sexta série. E a ópera está sendo montada em uma sinagoga.)
A distinção feita por O’Donnell entre os três tipos de cenas que há no romance é tão simples quanto útil: (1) monólogos que visam parodiar linguagens “especializadas” do mundo das finanças, dos advogados, pedagogos, literatos etc.; (2) diálogos dos quais só acompanhamos um dos lados (quando alguém está ao telefone, por exemplo, e não “ouvimos” o interlocutor); e (3) conversações entre duas ou (bem) mais pessoas em um determinado ambiente (e com frequência acontece de alguém atender o telefone e papear com um personagem ausente).
Em se tratando da paródia de linguagens “especializadas”, expediente que por certo influenciou diretamente autores como David Foster Wallace, o melhor é quando elas se atropelam ou uma toma o lugar da outra, como na passagem em que, numa reunião escolar, alguém sugere (p. 456): “Pague salários em vez de dar notas para essas crianças que elas vão aprender o que é a América”.
E, não por acaso, é graças a uma viagem escolar até Wall Street, com direito a visitas guiadas à Typhon e a outras empresas, que J R desperta de vez para o mundo das finanças. Como parte dessa viagem e a título de experiência, as crianças compram uma ação e começam a aprender na prática “o que é a América”.

4.
O caminho até o estabelecimento (e posterior débâcle) do “império” J R Family of Companies é hilariantemente tortuoso. Em termos gerais, o que o garoto erige é um esquema especulando, a princípio, com penny stocks e, depois, usando essas ações baratas para alavancar empréstimos, com os quais adquire (com vistas a liquidar, desmembrar ou simplesmente sangrar) um amontoado de empresas que vão desde tecelagens até funerárias, passando por cervejarias e sabe-se lá mais o quê. O clímax dessa escalada se dá em uma reserva indígena, quando ele tenta engambelar um bando de índios a fim de explorar o petróleo e o gás natural que há por ali. A coisa culmina não com um lamento, mas numa explosão.
Sobre a ilegalidade de muitas dessas investidas, não só de J R, mas de todos os envolvidos no imbróglio, ela é apenas aparente ou, melhor dizendo, provisória. É algo como a constatação de Gordon Gekko ao sair da cadeia no segundo Wall Street: “Cobiça é bom, e agora parece que também é legal”. Ou como diz o próprio J R (p. 660):
“— Quer dizer é isso que eu estou te dizendo! Quer dizer por que alguém ia roubar e desobedecer a lei pra pegar o que quer se sempre tem alguma lei que você pode usar pra pegar tudo de um jeito ou de outro! (…)”
A fome de J R é abordada em algumas das melhores passagens do romance. Por exemplo, quando Gibbs e Amy falam a respeito dele (p. 246-7):
“— Não, eu me refiro a esse outro garotinho, J R, ele é tão, ele parece sempre assim como se vivesse numa casa sem, eu não sei. Sem adultos, acho, como se ele simplesmente morasse naquelas roupas lá dele.
“— É provável que more, você já o viu sem que ele estivesse se coçando em algum lugar?
“— Oh eu sei, sim, tenho a impressão de que ele não se banha com frequência, mas não, é outra coisa, tem algo mais, quando você fala com ele, ele não olha para você, mas não é como se, não é como se ele escondesse alguma coisa. Ele olha como se tentasse encaixar o que você está dizendo em algo totalmente diferente, um mundo do qual você não sabe nada, ele é um garotinho tão ávido, tem algo ali bem desolador, como uma fome…”
Ou, já perto do fim, quando Bast diz ao próprio J R em sua derradeira discussão com o “chefe” (p. 647):
“— Porque um banco vende minhas ações e depois eu sou demitido por tê-las vendido e então alguém me processa enquanto você corre por aí arranjando empréstimos para esse ativo aqui para tomar mais empréstimos e ir atrás desse outro ativo aqui pra olha eu já não te falei pra você parar? quando foi que a coisa toda começou? apenas pare e deixe alguém te ajudar a organizar tudo isso em vez desse mais! mais! Quanto mais você tem mais fome você tem dessa vez você nem sabe o quanto, quero dizer quem acreditaria nisso quem, em nada disso quem acreditaria.”
Bast é importantíssimo no esquema porque é o único (dentre os que negociam com ele) que sabe a idade de J R e, sempre a contragosto, faz as vezes de “rosto” da companhia. Quando liga para advogados, empregados, banqueiros etc., J R coloca um lenço sobre o bocal do telefone a fim de disfarçar a voz. O problema é que tal expediente (aliado àquele forte sotaque de Long Island e às frases entrecortadas e repletas de “no”, “wait”, “holy!”) causa ainda mais confusão, pois, em geral, as pessoas não entendem o que ele diz.
A ideia de Bast é faturar algum a fim de que, em um futuro próximo, possa se dedicar exclusivamente à composição. O problema com esse (e qualquer outro) pacto de ecos faustianos é que o sujeito é constantemente frustrado: ele se desencontra de Coen logo no começo e deixa de assinar um documento importante, que ajudaria a resolver aquela questão familiar; abandona a escola e nunca reaparece para receber o cheque pelo período trabalhado; aceita compor trilhas para filmes absurdos (zebra music!), é destratado pelo produtor (que lhe passa um sermão sobre os “deveres do artista”) e fica à espera de um pagamento que só chega tarde demais — ou na hora certa, se pensarmos bem.
Há, portanto, temas, piadas e situações recorrentes no livro: vários personagens estão se divorciando e são alijados do convívio com os filhos (Gibbs, Eigen, Amy); vários são artistas (escritores, músicos, pintores) que, ou não conseguem trabalhar (Gibbs se enfurna no apartamento para terminar seu livro, mas é flagrado completamente bêbado por Rhoda (p. 607), “escrevendo esse grande livro sem sequer colocar papel na porra da máquina de escrever”), ou trabalham em condições deploráveis (Bast, o pintor Schepperman, o escritor suicida Schramm, o próprio Eigen, que tem uma peça teatral roubada); a maioria se sente (e é) deslocada, ludibriada, vampirizada, ridicularizada.

5.
Em se tratando de gente ridicularizada, e como forma de saltar ao último ponto que pretendo abordar aqui, atentem para essa outra passagem: DiCephalis sofre um acidente de carro (há vários acidentes de carro no livro, a propósito) e, ao sair do hospital e voltar para casa, descobre que sua esposa vendeu seus únicos ternos. Mas isso nem é o pior (p. 314):
“— Eu coloquei um dinheiro aqui, no fundo dessa gaveta. Sumiu.
“— Pra quê você colocou dinheiro no fundo da gaveta?
“— Tinha quase cinquenta dólares, sumiu.
“— Nora? Vem cá.
“— O quê, mamãe?
“— Eu disse vem cá. Papai disse que guardou um dinheiro naquela gaveta e o dinheiro sumiu. Você sabe…
“— Donny achou.
“— Bom, onde é que está, vai pegar.
“— Ele vendeu.
“— Como assim ele vendeu.
“— Ele vendeu pruns garotos.
“— Ele vendeu?
“— Ele não sabia, ele achou que as moedas eram melhores porque as outras eram só papel. Ele vendeu as notas de cinco por cinco centavos e as notas de um por dez centavos.
“— Bom por que ele fez, meu Deus, por que ele fez…
“— Ele achou que as notas de um eram melhores porque tinham o George Washington.
“— Meu Deus.
“— Mas, mas Nora que garotos. Por que você não o impediu?
“— Não sei, papai, eram só uns garotos, eu nem estava lá. Ele faturou oitenta e cinco centavos. Eu ajudei ele a contar depois. Mamãe…”
Essa piada com a “falta de valor” do dinheiro de papel aparece logo na abertura do romance, quando as tias de Bast conversam entre si, na presença do advogado Coen (p. 3):
“— Dinheiro…? em uma voz que farfalhava.
“— Papel, sim.
“— E nunca tínhamos visto isso. Dinheiro de papel.
“— Nós nunca vimos dinheiro de papel até que viemos para o leste.
“— Pareceu tão estranho na primeira vez em que vimos. Sem vida.
“— Não dava para acreditar que aquilo valia alguma coisa.
“— Não depois do Pai tilintando seus trocados.
“— Aqueles eram dólares de prata.
“— E pratinhas de cinquenta, sim, e de vinte e cinco, Julia. Dos alunos. Posso ouvi-lo agora…
“Luz do sol, embolsada por uma nuvem, livre de repente, derramou-se pelo chão através das folhas das árvores lá fora.
“— Chegando na varanda, como ele tilintava ao caminhar.”
A beleza dessa abertura reside no fato de que ela está na contramão de todo aquele processo empobrecedor, aqui simbolizado pelo dinheiro de papel e seus derivados. Nem é pelas moedas em si (de prata ou não), mas pelo que elas evocam nas duas senhoras e também na criança da outra cena: a lembrança do pai e da vida pregressa; a imagem de George Washington se traduzindo em algum valor.
Em um certo sentido, é como se o antídoto para aquela fome fosse a memória e, junto com ela, o resgate da “qualidade narrativa” que sustenta a nossa vida, que nos possibilita ver onde estamos e como chegamos até aqui. Em vez de se submeter a uma valoração despersonalizada, imposta agressiva e externamente, as velhas e a criança instituem inconscientemente um sistema de valor próprio e intransferível, conferindo importância a coisas talvez tão intangíveis quanto os “ativos” que J R devora até explodir, mas, por certo, mais perenes e significativas.
Em um movimento similar, depois que tudo vai pelos ares, Bast também se dispõe a voltar a compor, e o faz em uma cama de hospital, onde se recupera de uma pneumonia, usando giz de cera porque não há um lápis sequer à disposição. Ele, que pouco antes havia desistido de tudo, incluindo da música, (re)descobre que o apetite criador é muitas vezes inescapável. E, assim, artista que é, dispõe-se a criar mesmo sem saber por que o faz, mesmo sabendo que quase ninguém dá a mínima, sabendo apenas que precisa porque precisa fazê-lo, que precisa porque precisa seguir ao menos tentando, ciente do (não) lugar que ocupa.
Esta é a fome que importa, afinal. Esta é a fome que mantém Bast vivo. Esta é a fome que manteve William Gaddis vivo por duas décadas, entre a injusta e perversa recepção de seu primeiro romance e o lançamento do segundo. Esta é a fome que se sobressai em meio à cacofonia, à histeria e ao desespero dos que só comem para vomitar. Esta é a fome que, embora insaciável (e também por isso), é criadora, jamais destruidora.
São Paulo, janeiro de 2019
(revisto em outubro de 2021).

NOTAS
¹ Li a edição da Dalkey Archive Press, com introdução de Rick Moody. Uma nova edição foi lançada em 2020 pela New York Review of Books, com introdução de Joy Williams. O livro é inédito em português, a exemplo de quase toda a obra de Gaddis — exceto por Carpenter’s Gothic, seu terceiro romance, traduzido por Muriel Alves Brazil como Alguém parado lá fora e lançado pela editora Best Seller.
² Escrevi sobre outros livros de Gaddis. Veja AQUI.
³ Há até um livro, Fire the Bastards!, em que Jack Green compilou resenhas inacreditáveis, escritas por críticos que sequer leram o romance inteiro e erraram informações básicas (há quem errou o número de páginas, o nome do autor e até mesmo o título), além de, muitas vezes, adotarem um tom condescendente ou grosseiro. Com isso, relegaram uma obra-prima ao ostracismo por anos.
4 Em His Master’s Voice. Leia na íntegra AQUI.