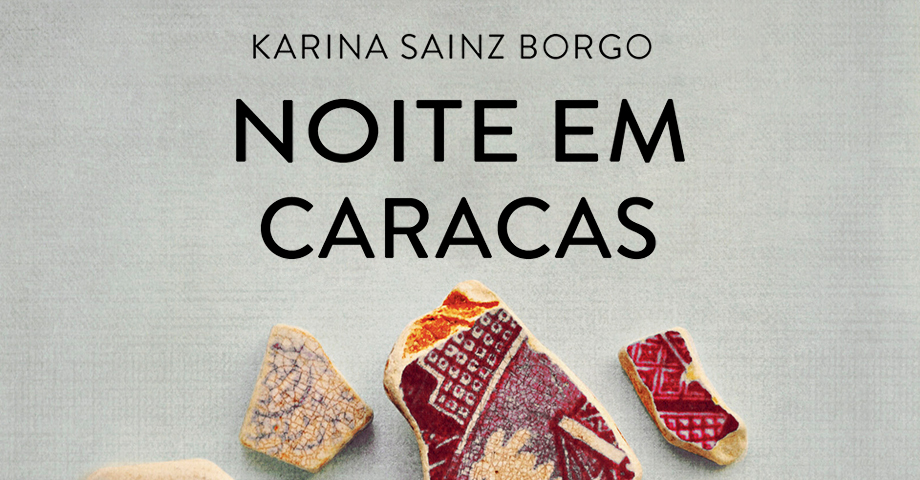Ensaio publicado na edição de 08.2019 do Rascunho.

Para Erwin, imediato do Rachel.
Uma leitura da segunda parte dos Diálogos de Gilles Deleuze com Claire Parnet talvez se beneficie de uma visita a Moby Dick, de Herman Melville, autor citado algumas vezes no decorrer do texto, tendo já em mente o que é exposto logo no início pelo francês:
Partir, se evadir, é traçar uma linha. O objeto mais elevado da literatura, segundo Lawrence: “Partir, partir, se evadir… atravessar o horizonte, penetrar em outra vida… É assim que Melville se encontra no meio do oceano Pacífico, ele passou, realmente, a linha do horizonte”. A linha de fuga é uma desterritorialização.
A edição de que disponho dos Diálogos foi lançada pela Escuta em 1998, com tradução de Eloisa Araújo Ribeiro. A obra-prima de Melville, por sua vez, chegou a nós em 2008 pela Cosac Naify, traduzida por Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza — tradução relançada em 1º de agosto de 2019 (quando se completaram duzentos anos do nascimento de Melville) pela Editora 34.
1.
Moby Dick é um romance estranhíssimo, aparentemente desconjuntado; a ação é interrompida com frequência para que Ishmael, o narrador e protagonista, digressione sobre baleias, apetrechos náuticos e inúmeras outras coisas. Em momentos, o livro parece claudicar. Flutua à nossa frente, a perder de vista, salga os nossos olhos, faz com que nos sintamos marejados. Personagens aparecem e desaparecem, uma onda narrativa é encoberta pela seguinte e o próprio Ishmael some para só ressurgir aqui e ali. E, claro, ele desaparece sob Ahab, presença tão enorme que pensamos ser impossível que a baleia branca tivesse conseguido arrancar-lhe uma perna e a sanidade.
Dezenas de páginas antes de efetivamente entrar em cena, o nome e a sombra de Ahab já estão presentes. Por exemplo, numa fala de Peleg:
(…) É um homem grande, não é religioso, parece um deus, o Capitão Ahab; não fala muito, mas quando fala é melhor ouvi-lo. Presta atenção: Ahab é uma pessoa fora do comum; Ahab esteve em universidades e também entre os canibais; está acostumado às maravilhas mais profundas do que o próprio mar; fixou sua lança em adversários mais estranhos e poderosos do que baleias. Sua lança! A mais certeira e afiada de todas as lanças de nossa ilha! Oh! Ele não é o capitão Bildad; não! E não é o capitão Peleg; ele é Ahab, meu rapaz, o Ahab da antiguidade, que, bem o sabes, era um rei coroado!
Quando Ahab afinal irrompe no tombadilho, tem “o aspecto de um homem retirado da fogueira, depois de o fogo devastar todos os membros, sem os haver consumido, nem eliminado uma só partícula de sua compacta e velha força”. Em seu olhar, há “uma infinidade de firmeza inabalável, uma vontade determinada e indomável na dedicação fixa, intrépida e atrevida”. No que diz respeito às “profundezas de Ahab, toda revelação” participa “mais de uma obscuridade significativa do que de uma claridade explicativa”, pois nem “baleia branca, nem homem, nem demônio algum pode sequer roçar o velho Ahab em seu ser real e inacessível”. A exemplo da baleia, não? Duas sombras, portanto: uma negra, outra branca.
E quando Ahab inflama a tripulação, é como se todos e também nós, leitores, mordêssemos um pedaço de sua carne doente e enlouquecêssemos com e por ele em sua caçada insana, suicida. A ruptura é irrestrita, irremediável. Um deus maluco e desgraçado que nos aponta o apocalipse, que nos leva diretamente para lá. Afundamos com ele, ao mesmo tempo aterrorizados e em estado de graça; afundamos com Ahab e seu leviatã branco, no meio do nada.
Primeiro somos engolidos pelo Pequod, a Grande Nau Americana: mestiça, uma colcha de retalhos humanos, engajada na caçada impossível. Depois somos engolfados pelo capitão monomaníaco, incendiado. E, ao final, regressamos, apesar de Moby Dick, que não deixa destroços, que não deixa praticamente nada, ou que deixa apenas um caixão, o caixão de Queequeg transformado em boia de salvamento, e Ishmael flutuando com ele. Ele é resgatado pelo Rachel, o navio à procura dos seus filhos e que termina por resgatar um órfão — o próprio Ishmael. Órfão de quem? De Ahab? Da baleia branca? De ambos? Seja de quem for, o órfão Ishmael atravessou o horizonte, penetrou em outra vida, e escapou sozinho para nos contar, para dar testemunho dessa fuga.
2.
“Só se descobre mundos através de uma longa fuga quebrada”, afirma Deleuze nos Diálogos, asseverando-nos de que a literatura anglo-americana “apresenta continuamente rupturas, personagens que criam sua linha de fuga, que criam por linha de fuga”. E fuga, aqui, não é um catapultar-se para fora do mundo, não se trata de uma entrega passiva, mas de algo ativo, “traçar uma linha, linhas, toda uma cartografia”. Diversamente do que ocorre em outras literaturas, haveria um desbravamento geográfico intrínseco às letras americanas, uma transposição de fronteiras, um devir como que lançado para fora, no espaço.
Deleuze distingue entre fuga e viagem, uma vez que esta pode muito bem ser, por exemplo, uma viagem “à francesa”, de teor histórico e cultural, pois os “franceses são humanos demais, preocupados demais com o futuro e com o passado”, passam todo o tempo “recapitulando” e, ao viajar, contentam-se “em transportar seu ‘eu’”. E é possível que uma viagem ocorra sem que se saia de onde está, ou seja, interiormente. Em outras palavras, a viagem prescinde da ruptura, é organizada de tal forma a evitá-la e, enquanto tal, é estranha à fuga; a fuga, por seu turno, na e pela linha que traça, é desterritorializante.
Em Moby Dick, Ahab e seus homens, uma vez entregues à caçada final, à linha de fuga, “cercados pela escuridão da noite”, parecendo “os últimos homens de um mundo submerso”, não terão como retornar (exceto por Ishmael: testemunha, narrador). Assim, quando Ahab se desfaz do quadrante, “brinquedo inútil”, maldizendo “todas as coisas que fazem levantar os olhos dos homens para aquele céu cujo fulgor incandescente apenas o fere, como agora estes velhos olhos são feridos por tua luz, ó, sol!”, a ele se refere Starbuck: “Velho oceânico! De toda esta tua vida irascível, o que sobrará de ti além de um punhado de cinzas?”.
Para Deleuze, a linha de fuga, tão marcante na literatura anglo-americana, contrapõe-se à “procura de uma primeira certeza como de um ponto de origem, sempre o ponto firme”, própria dos franceses. Estes pensariam demais “em termos de árvore: a árvore do saber, os pontos de arborescência, o alfa e o ômega”, em vez de se orientar por algo como a grama, que “brota em meio às coisas”, “pelo meio”, tendo, assim, uma “linha de fuga, e não de enraizamento”.
Ao pensarmos na literatura anglo-americana, o que vêm à mente são os deslocamentos, a sucessão imensurável de linhas de fuga, o devir; os personagens evadindo-se rumo ao Oeste; fronteiras a alargar, redesenhar, transpor; o descentramento constante, tatear que jamais cessa, delirante e demoníaco, pois sai dos eixos e, enquanto “os deuses têm atributos, propriedades e funções fixas, territórios e códigos”, ou seja, “têm a ver com os eixos, com os limites e com os cadastros”, os demônios saltam “os intervalos, e de um intervalo a outro”.
A linha de fuga implica traição de tudo aquilo que intenta nos segurar, de tudo que quer nos reter, de tal modo que o traidor é “o personagem essencial do romance, o herói”, aquele que trai o “mundo das significações dominantes”, trai a “ordem estabelecida”. E a traição é melhor explicitada pela escolha do objeto:
Do que o capitão Ahab é culpado, em Melville? De ter escolhido Moby Dick, a baleia branca, em vez de obedecer à lei de grupo dos pescadores, que diz que qualquer baleia é boa para ser pescada. É esse o elemento demoníaco de Ahab, sua traição, sua relação com Leviatã, essa escolha de objeto que o engaja em um devir-baleia.
Há os devires contidos na escritura quando ela traça linhas de fuga, traindo as palavras de ordem estabelecidas para se conjugar com o outro, isto é, provocar “um encontro entre dois reinos, um curto-circuito, uma captura de código onde cada um se desterritorializa”. São muitos os devires possíveis, e eles dizem respeito a um “encontro onde cada um empurra o outro, o leva em sua linha de fuga, em uma desterritorialização conjugada”, de tal modo que a “escritura se conjuga sempre com outra coisa que é o seu próprio devir”.
O fluxo característico da literatura anglo-americana corresponderia, assim, àquele descentramento não mais apenas geográfico, mas também da própria escritura, em si, por si e até o outro:
Escrever não tem outra função: ser um fluxo que se conjuga com outros fluxos – todos os devires minoritários do mundo. Um fluxo é algo intensivo, instantâneo e mutante, entre uma criação e uma destruição. Somente quando um fluxo é desterritorializado ele consegue fazer sua conjugação com outros fluxos, que o desterritorializam por sua vez e vice-versa.
3.
Um agenciamento é descrito por Deleuze como “a unidade real mínima”, aquilo que “produz os enunciados”. O sujeito dessa enunciação é o autor (não o escritor, que “inventa agenciamentos a partir de agenciamentos que o inventaram”). O agenciamento é “sempre coletivo”, pois coloca em jogo, “em nós e fora de nós, populações, multiplicidades, territórios, devires, afetos, acontecimentos”, é o elemento capaz de fazer com que os elementos de um conjunto heterogêneo “conspirem”, cofuncionem, por meio dessa simbiose, dessa “simpatia” que são “corpos que se amam ou se odeiam, e a cada vez populações em jogo, nesses corpos ou sobre esses corpos”, os quais podem ser “físicos, biológicos, psíquicos, sociais, verbais, são sempre corpos ou corpus”.
O autor, como sujeito da enunciação, é, antes de tudo, um espírito: ora ele se identifica com seus personagens, ou faz com que nos identifiquemos com eles, ou com a ideia da qual são portadores); ora (…) introduz uma distância que lhe permite e nos permite observar, criticar, prolongar.
Para além disso, o autor necessita “falar com, escrever com”, engendrando uma conspiração, “um choque de amor ou ódio”. Daí que agenciar é “estar no meio, sobre a linha de encontro de um mundo interior e de um mundo exterior”.
Deleuze traça um paralelo entre o romance anglo-americano e o empirismo. Em Hume (parafraseio), temos as ideias, depois as relações entre elas e daí as circunstâncias, capazes de fazer com que as relações variem. Não há, portanto, nenhum grande princípio primeiro, cuja abstração chega a ser sufocante: “o primeiro princípio é sempre uma máscara (…), não existe; as coisas só começam a viver e a se animar” nos níveis seguintes, dos princípios subsequentes; as “coisas só começam a viver pelo meio”. No lugar do opressivo problema do ser e a questão do princípio que o assombra, as conjunções, o “E” no lugar do “É”. Necessita-se “fazer com que o encontro com as relações penetre e corrompa tudo, mine o ser, faça-o vacilar”. Sendo a “estrada de todas as relações”, o “E” oferece outro rumo a elas, fazendo com que fujam os conjuntos, “uns e outros, sobre a linha de fuga que ele cria ativamente”. Ocorre, assim, aquele cofuncionamento (pensamos com “E”, não com ou por “É”), a conspiração, pois a multiplicidade, em vez de residir (ser encalacrada) nos termos, está na conjunção: há “uma sobriedade, uma pobreza e uma ascese fundamentais no E”.
Não é por acaso que um britânico tenha engendrado tal pensamento, pois a língua inglesa sempre foi trabalhada pelas “línguas minoritárias” que a constituem e são, ao mesmo tempo, “máquinas de guerra” contra ela (anglo-gaélico, anglo-irlandês, assim como, nos EUA, temos o inglês falado pelos negros, pelos hispânicos etc.), uma língua móvel, fugidia, eventualmente estrangeira até para quem a utiliza. Essa falta de fundações implica correr pela superfície continuamente quebrada para que nela se imiscua o “E” que “fará a língua correr, e fará de nós esse estrangeiro em nossa língua enquanto é a nossa”.
É dentro desse espírito relacional, por assim dizer, que Deleuze também se refere a Espinoza: a “alma e o corpo, ninguém jamais teve um sentimento tão original da conjunção ‘e’”. Ou seja, cada indivíduo seria fundamentalmente constituído por relações entre as partes que o formam, sem que haja a preponderância de uma parte sobre a outra. A isso Deleuze chama “agenciamento-Espinoza: alma e corpo, relações, encontros, poder de ser afetado, afetos que preenchem esse poder”, daí Espinoza ser descrito como “o homem dos encontros e do devir (…), sempre no meio, sempre em fuga”. A alma, portanto, não está sobre, não está acima, mas com o corpo, também “na estrada, exposta a todos os contatos”, a todos os “encontros”.
Os estoicos também teriam encontrado, segundo Deleuze, um modo de destituir o “É”. No entender deles, “também as qualidades são corpos”, bem como as almas e até mesmo “as ações e as paixões são elas próprias corpos”, de tal modo que tudo “é mistura de corpo, os corpos se penetram, se forçam, se envenenam, se imiscuem, se retiram, se reforçam ou se destroem”. A linha de separação traçada pelos estoicos não está entre inteligível e sensível, alma e corpo, mas “entre a profundidade física e a superfície metafísica”, coisas e acontecimentos:
entre os estados de coisas ou as misturas, as causas, almas e corpos, ações e paixões, qualidades e substâncias, por um lado, e, por outro, os acontecimentos ou Efeitos incorporais impassíveis, inqualificáveis, infinitos dessas misturas que se atribuem a esses estados de coisas que se exprimem nas proposições.
O atributo não é mais uma qualidade que se relaciona com o sujeito por meio do “É”, mas, sim, “um verbo qualquer no infinitivo que sai de um estado de coisas e o sobrevoa” – e “verbos infinitivos são devires ilimitados” que prescindem de um sujeito e “remetem apenas a um ‘Ele’ do acontecimento (chove)”, atribuídos a estados de coisas (misturas, coletivos, agenciamentos). Daí que “os verdadeiros romances operam com indefinidos que não são indeterminados”, havendo uma “estrita complementaridade” entre “os estados de coisas físicas em profundidade e os acontecimentos metafísicos de superfície”. O acontecimento é justamente o produto dos choques entre os corpos, é o que se obtém quando eles se penetram, envenenam, reforçam, imiscuem, destroem etc. Tanto morrer quanto amar, por exemplo, são engendrados em nossos corpos, mas também chegam de Fora, estão “sobre essa superfície incorporal” que os faz advir, de tal maneira que, “agentes ou pacientes, quando agimos ou sofremos, resta-nos, sempre, sermos dignos do que nos acontece”, e é nisto que recai a moral estoica: “não ser inferior ao acontecimento, tornar-se o filho de seus próprios acontecimentos (…), extrair alguma coisa alegre e apaixonante no que acontece”, seja um clarão, seja um encontro, seja “um acontecimento, uma velocidade, um devir”.
Em vez de fazer um drama ou uma história, fazer um acontecimento, mesmo que pequeno, menor, ínfimo, delicado, pois as Entidades não são conceitos, são acontecimentos.
O que é um acontecimento? É uma multiplicidade que comporta muitos termos heterogêneos, e que estabelece ligações, relações entre eles, através das épocas, dos sexos, dos reinos – naturezas diferentes. Por isso a única unidade do agenciamento é o cofuncionamento: é uma simbiose, uma “simpatia”.
4.
Voltando a Moby Dick, é óbvio que tudo se movimenta rumo ao acontecimento final – o encontro derradeiro entre Ahab e a baleia. Em sua caçada, o homem “nunca pensa; apenas sente, sente, sente; isso já é bastante tormentoso para um mortal!”. No entender do capitão, “pensar é audácia” tamanha que apenas “Deus tem esse direito e privilégio”, pois pensar “é, ou deveria ser, coisa serena e tranquila; e os nossos pobres corações palpitam e os nossos pobres cérebros pulsam demais para isso”. Lendo isso, pressinto o que Deleuze afirma nos Diálogos: “As verdadeiras Entidades são acontecimentos, não conceitos”.
No terceiro dia da caçada final, um dos marujos alerta Ahab: “Vê! Moby Dick não te procura. És tu, na tua loucura, é tu, que o procuras”. Ao insistir na procura, Ahab acabará arrastado com os outros, quase todos, para as profundezas, e será o fim. Eles afundam no oceano para se tornar outra coisa, e o devir é essa “longa fuga quebrada”, a própria linha que acompanhamos, descrita sobre ela, que se estica para iluminar o que já não está ali, o que já afundou, desapareceu, o que já cessou.
Afirma Deleuze ao final de sua reflexão: “Nem todo devir passa pela escritura, mas tudo o que se torna é objeto de escritura (…). Tudo o que se torna é uma pura linha que cessa de representar o que quer que seja”. Em Moby Dick, vemos Ishmael à deriva, mantido “à tona pelo caixão, por quase um dia e uma noite inteiros”, flutuando sobre o “calmo e fúnebre oceano”, até ser resgatado. Ishmael estica a linha para que possamos também percorrê-la. E nisso, também, reside a grandeza de Melville e a beleza da grande literatura: cada vez que percorremos linha é um novo acontecimento.
……