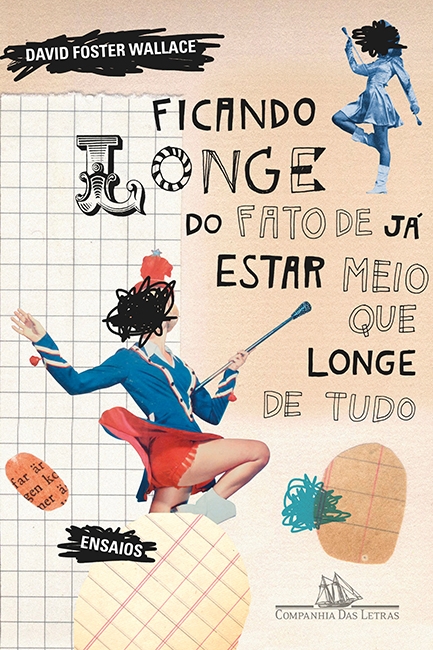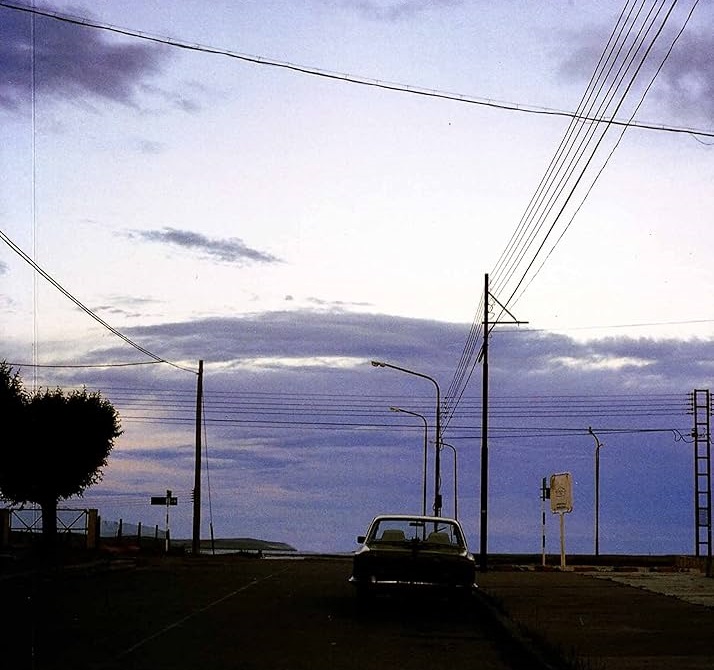1.
Bande à Part [1964] Declaração de amor a um certo cinema, “Bande à Part” é uma pulp fiction. Ou o pastiche de uma, tão vibrante e espirituoso quanto “Acossado”. Não sei, mas talvez seja ainda mais livre. Um “filme de cinema” que engendrou outros tantos “filmes de cinema”, de “Pulp Fiction” a “Amateur”. Talvez por essa mesma noção de liberdade fílmica reiterada continuamente por imagens e, claro, palavras (Eliot, Shakespeare). A dança desencontrada de Anna Karina, Sami Frey e Claude Brasseur. A corrida desembestada pelo Louvre (tão lindamente homenageada por Bertolucci em “Os Sonhadores”). E alguém dado como morto voltando à vida. [02/10/2010]
2.
Uma Mulher Casada [1964] Charlotte (Macha Méril) divide-se entre o marido e um amante (ou nem isso). Com a desculpa (ou a quimera) de viver o momento presente, galopa em direção à angústia (ou nem isso). Cai no meio da rua. Repete os mesmos gestos com um e com outro. A relação com o marido é uma caricatura de sua relação com o amante, e vice-versa. Difícil saber o que começou primeiro. Difícil saber, inclusive, se algo ali de fato começou. Ignora a memória (tenta, pelo menos) e sabe muito pouco da inteligência. Ao que parece, não teve infância. Recorta o mundo em revistas e mais revistas femininas. E, de repente, não está mais vazia. Quando o filme acaba. [02/10/2010]
3.
Made in U.S.A. [1966] Um autoproclamado “filme de Walt Disney com Humphrey Bogart” dedicado a Nicholas Ray e Samuel Fuller, em tela larga, cores vibrantes, situado em um futuro próximo (se você estiver em 1966) e com as participações muito especiais de David Goodis, Richard Nixon e Robert McNamara, dentre outros. “Made in U.S.A.” é um filme datado no que isso tem de melhor e pior. O humor sardônico de Godard impediu que suas cores desbotassem por completo, ainda que, às vezes, tenha-se a impressão de haver mais política do que cinema dentro do quadro. Mas, seja como for, sempre há cinema. [02/10/2010]
4.
Masculino – Feminino [1966] Belíssimo filme de Godard sobre a juventude parisiense às portas de Maio de 1968. Divididos entre Marx e a Coca-Cola, conforme é dito a certa altura (sem, contudo, qualquer maniqueísmo, em mais um chiste malcriado do cineasta), esses jovens circulam livremente pelo filme. Estão à direita, à esquerda ou no vácuo, conforme observamos no seguimento “Dialogue Avec un Produit de Consommation”. Ou seja: Godard investe em uma abordagem plural e, a seu modo, afetiva. Há uma ternura no modo como ele acompanha esses personagens, independentemente de suas respectivas (des)orientações ideológicas. Não há nada que remeta a um tom panfletário. Os jump cuts, as elipses, a estrutura quebradiça, o anti-naturalismo, tudo aquilo que é próprio do estilo de Godard serve, aqui, a um passeio pelo estado de espírito de uma geração irrequieta, está certo, mas também (e a exemplo de qualquer outra) contraditória, errática, esfomeada. Por tudo isso, “Masculino, Feminino” é um filme que permanece inteiro, que não soa datado em momento algum. Ironicamente, seu desfecho brusco talvez nos diga muito sobre os rumos tomados por aquela geração. Tudo o que disseram e fizeram para, de repente, em um acidente estúpido, flutuar de costas no vazio, e é tudo. [04/10/2010]
5.
Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela [1967] Dela, Paris. Dela, Juliette (Marina Vlady), uma dona-de-casa que se prostitui para engordar o orçamento. Dela, a própria linguagem. (Se a linguagem é a casa do homem, o que aconteceria se o azul fosse chamado de verde? Não sei.) “Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela” é um desses filmes de Godard que podemos chamar de “difíceis”. Porque não há humor. E os personagens discursam. Discursam, digressionam, filosofam e pedem um cigarro. Estranhamente, o filme está muito longe de ser um panfleto, de incorrer em provocações fáceis e, acima de tudo, de ser chato. Porque ele também não oferece qualquer resposta. Porque ele sequer oferece a possibilidade de um movimento em direção a uma resposta sobre o que quer que seja. Seus questionamentos sociais, políticos e metanarrativos flutuam de um quadro a outro (reluto em chamar de “cenas”) sem esboçar a menor intenção de situar, concluir ou mesmo pontificar qualquer coisa. “Duas ou Três Coisas que Sei Dela” não tem humor também porque é fruto de uma angústia muito particular, a mesma que, arrisco a dizer, produziria o belíssimo “JLG por JLG” quase três décadas depois. Nele, está toda a “paixão por se expressar” do cineasta. Um fome por dizer e contradizer. E é um filme que parece se alimentar de si mesmo. Feito o cigarro aceso que o encerra e queima o quadro de fora para dentro. “Quanto mais o organismo é complexo, mais ele é livre”, diria Godard muito tempo depois. “Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela” é também o exercício de uma liberdade. [06/10/2010]
6.
Prénom Carmen [1983] Este é um filme sobre o corpo. O corpo que cria artisticamente (por exemplo, ao tocar um instrumento), o corpo que ama e/ou fode, o corpo que perpetra e/ou sofre a violência. Um grupo assalta um banco para supostamente financiar um filme. O filme, claro, está ali desde o começo. É o que vemos. Uma das assaltantes, Carmen, apaixona-se (ou não, difícil saber) por um dos guardas do banco, que foge com ela. Depois, tudo se desintegra. Há também qualquer coisa sobre a mecânica de uma relação amorosa, e é mesmo estranho que um filme que contém esse tipo de coisa (amor?) seja tão desprovido de qualquer afetuosidade. Godard já exercitava o amargor que tornaria filmes como “JLG por JLG” e “Nossa Música” tão lancinantes, creio. Nem parece o mesmo cineasta que nos deu “Uma Mulher é uma Mulher” (não estou reclamando). [10/10/2010]
7.
Filme Socialismo [2010] Este filmensaio dirige-se à Europa ou, como diz uma personagem a certa altura, à “pobre Europa”. Para dirigir-se ao velho continente, há primeiro um distanciamento: o primeiro dos três seguimentos do filme, “Coisas como essas” (ou “Coisas assim”), se passa em um navio de cruzeiro que vaga pelo Mediterrâneo, indo de Alger a Barcelona passando por Israel (ou, como insiste Godard, Palestina) e Nápoles. A ideia de estar à deriva, observando a Europa contemporânea sob um ponto de vista pesadamente historicista (as cidades escolhidas não estão ali por acaso), ao mesmo tempo dentro e fora do continente, não é uma simples peraltice godardiana. Na verdade, o que se observa é o lento e brutal degringolar do continente, hoje tão adoecido e governado por canalhas que, diferentemente dos de outrora, “podem ser sinceros”. “Nossa Europa”, o segundo seguimento, é o mais fraco dos três. Nele, uma equipe de televisão documenta o cotidiano de uma família francesa no interior do país. Coloca-se uma questão identitária: os filhos devem abandonar o sobrenome dos pais? Novamente, é o peso da história, qualquer que seja, e o peso (talvez bem maior, ou mais caro) de sua negação e/ou esquecimento. Já em “Nossas Humanidades”, último e melhor seguimento do filme, Godard recupera imageticamente dois momentos terríveis do século XX: o massacre nas escadarias de Odessa (imortalizado por Serguei Eisenstein em “O Encouraçado Potemkin”) e o período em que boa parte da Europa viveu sob a ocupação nazista. Com sua capacidade inigualável de fazer colagens e, a partir delas, estabelecer sentidos, Godard parece sugerir que a história europeia é o desenrolar às vezes tranquilo, às vezes convulsivo de uma mesma interminável crise. Em meio a tudo isso, ele também encontra espaço para aludir ao conflito palestino-israelense: quando duas vozes dissonantes falam ao mesmo tempo, é preciso encontrar uma nota comum a fim de que o que ambas dizem possa soar inteligível. Não é exatamente disso que se trata? [16/12/2010]