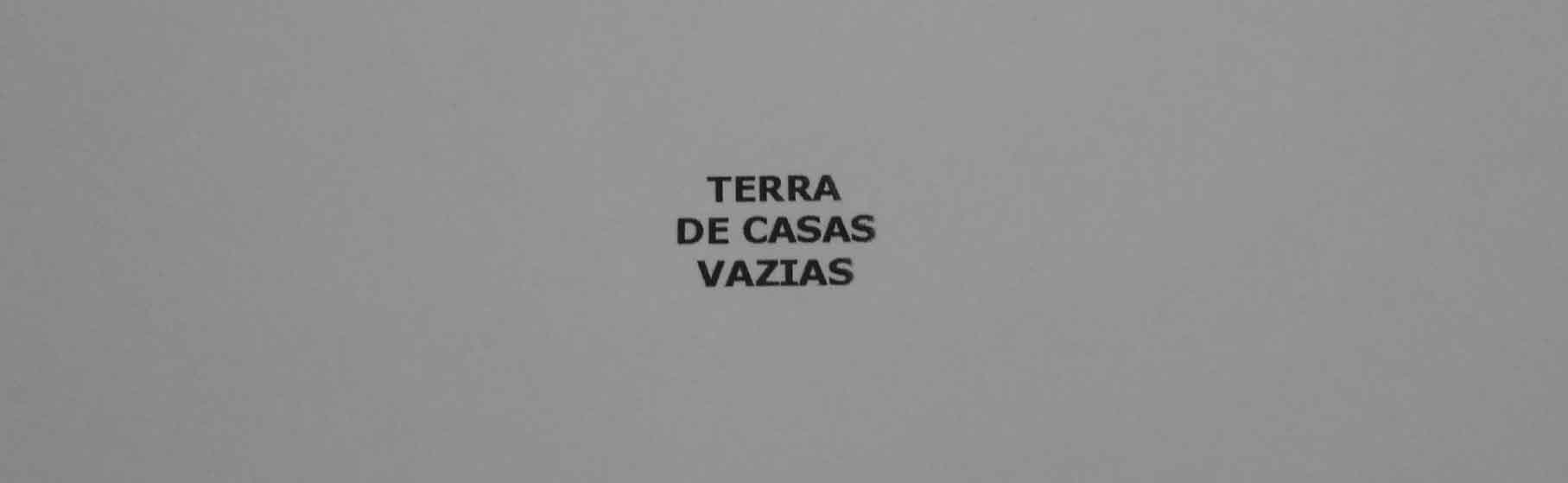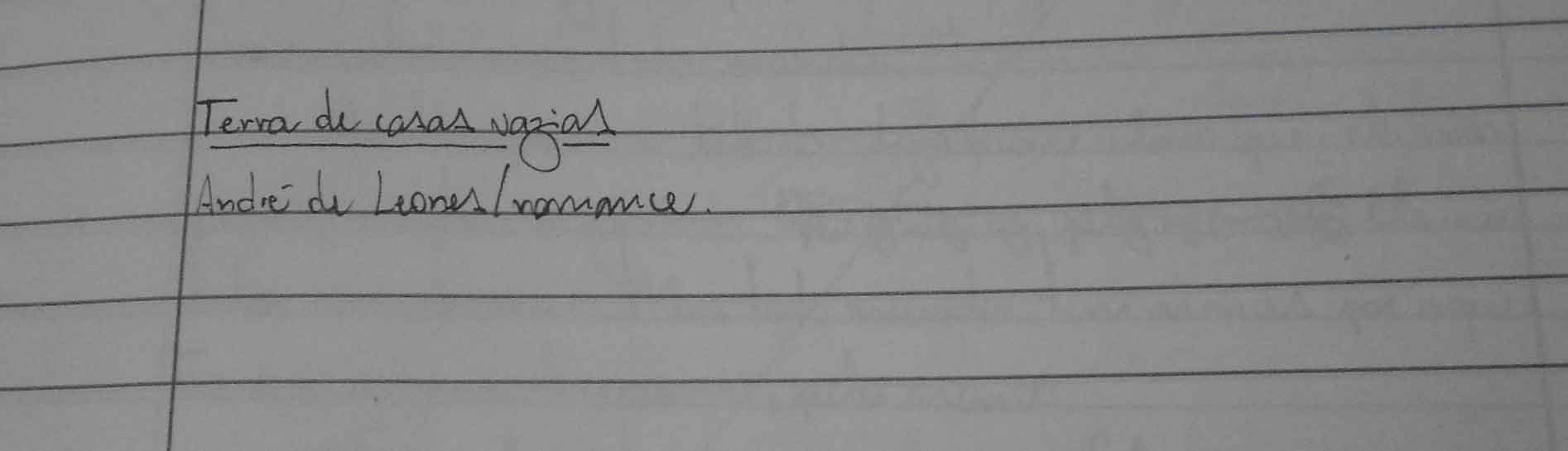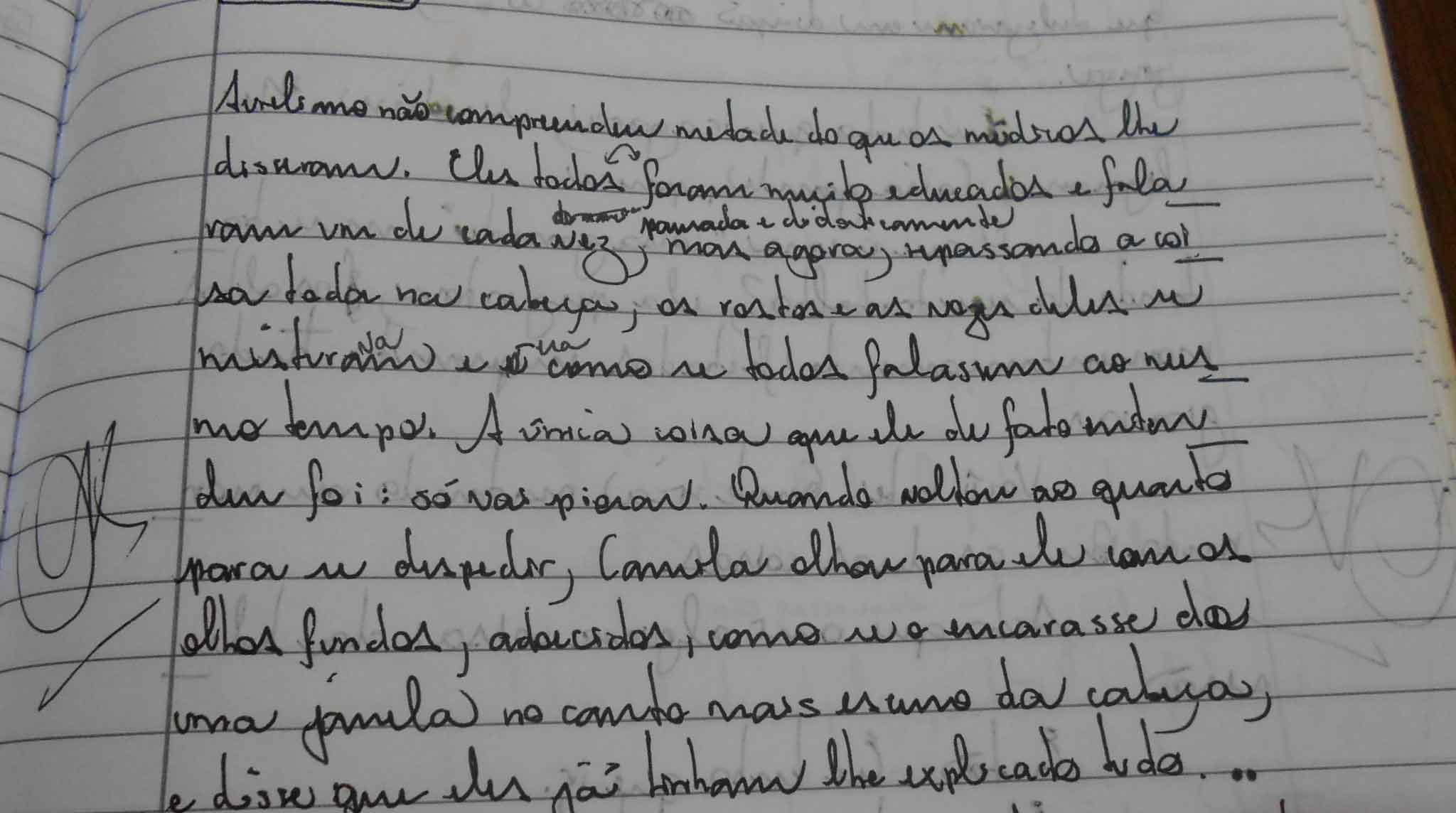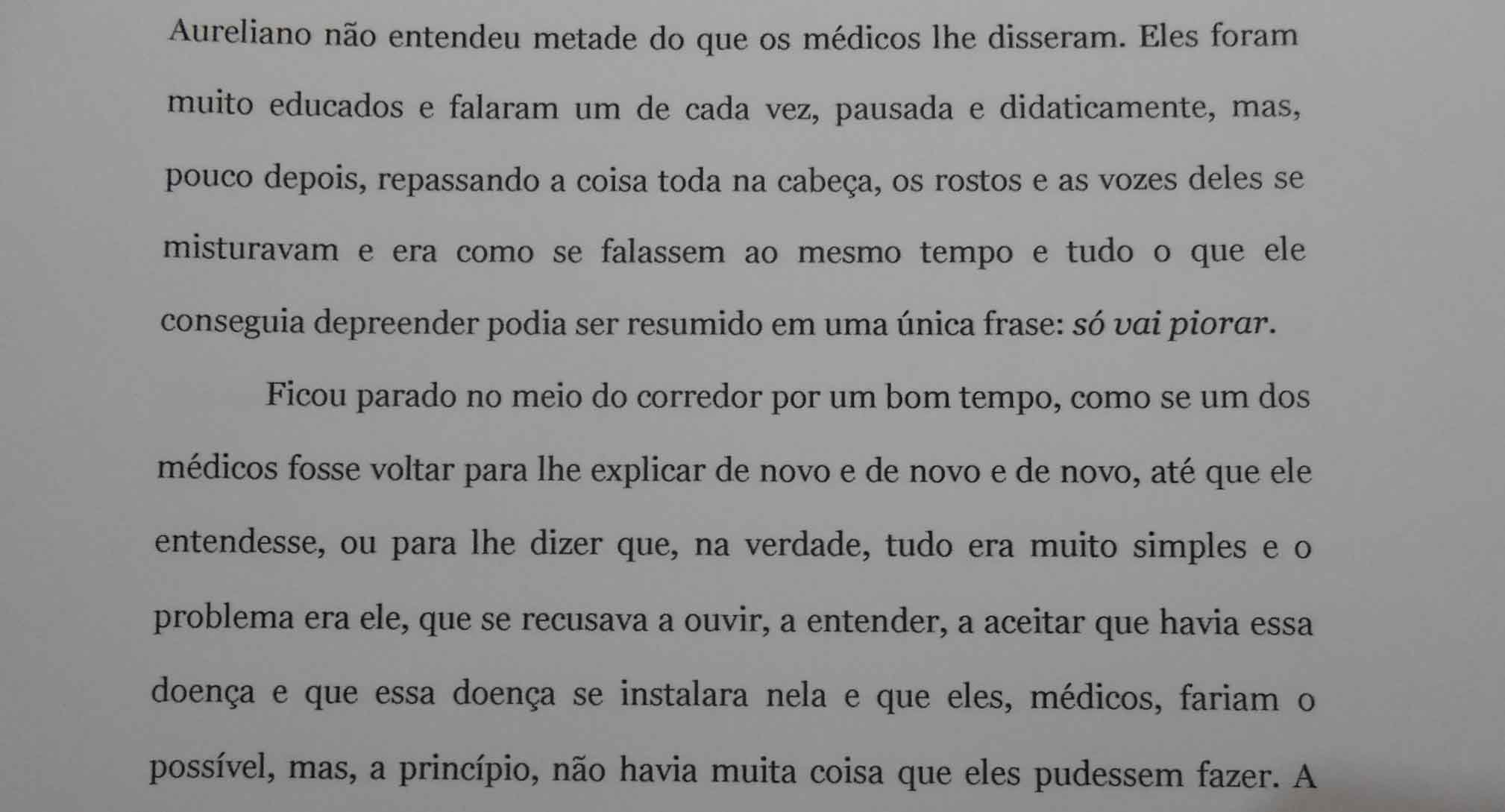No texto de apresentação à edição brasileira de Introdução à tragédia de Sófocles, Ernani Chaves nos chama a atenção para a Segunda consideração extemporânea, na qual Friedrich Nietzsche afirma que “o estudo dos clássicos precisa assegurar a permanente ligação entre conhecimento e vida”. Seguindo por esse caminho, talvez seja o caso de citar outra apresentação, feita por Donaldo Schüler para a sua própria tradução de Antígona, de que esta “é uma aventura de lealdade, dignidade, linguagem, vida”.
Por mais genérica que nos pareça a descrição de Schüler, não convém desmerecê-la ou esvaziá-la assim de imediato. Afinal de contas, e nisso somos corroborados pela própria tragédia em questão, há em Antígona elementos que justificam cada um dos termos enfileirados pelo tradutor.
Temos, assim, a lealdade da personagem-título para com seu irmão insepulto e a lei maior, divina, em contraposição à ordem, ao poder humano, citadino, temporal; a dignidade de Antígona diante do que está à sua espera após afrontar o decreto de Creonte, “criminosamente pura”, pronta para “morrer gloriosamente”, isto é, conforme a sua própria consciência e seu ideal de justiça; a linguagem como o incipit que não só coloca tudo em movimento mas que é, ela própria, movimento ou, para recorrer à imagem joyceana que abre o Finnegans Wake, riocorrente (riverrun, no original); e, por fim, vida, aqui conforme o entendimento nietzschiano da tragédia como uma afirmação da vida, a “ideia trágica é a do culto dionisíaco: a dissolução da individuação em uma outra ordem cósmica, a iniciação na crença na transcendência através dos terríveis meios geradores de pavor da existência”.
Uma das coisas que Nietzsche critica é justamente a ideia aristotélica de catarse e, sobretudo, a apropriação de cunho moralista desse conceito perpetrada por outros tantos. Paralelamente, ele também aponta o atrofiamento do dionisíaco na tragédia “por meio da prepotência da reflexão e do socratismo”. Antes, o coro era algo como a transcendência citada há pouco tornada alcançável, palpável:
O mundo poético é restaurado com o coro; a tragédia é depurada, na medida em que a reflexão é banida do diálogo; ela é posta sobre coturnos por meio da existência de um ser supranatural, altamente patético; ela suscita uma contemplação estética involuntária, na medida em que não nos fundimos com o tema. Em outras palavras, o coro é o idealizável da tragédia: sem ele, temos uma imitação naturalista da realidade (pp. 69/70).
Antígona, terceiro elo do que hoje conhecemos como Trilogia Tebana (os outros são Édipo Rei e Édipo em Colono), e muito embora não se possa afirmar que Sófocles tenha pensado em uma trilogia ao escrever cada uma dessas peças, distancia-se das origens ditirâmbicas apontadas por Nietzsche. Segundo ele, Sófocles teria introduzido uma nova forma de tragédia, caminhando “para além da trilha de Ésquilo: até então, era o instinto artístico da tragédia que a impulsionava; agora é o pensamento”. Ainda de acordo com Nietzsche, tal caminho seria levado ao extremo por Eurípedes, em cujas peças o pensamento “torna-se destrutivo em relação ao instinto”. Por outro lado, o pensador martela que Sófocles seria o único a exibir uma visão trágica do mundo, fundada no “destino imerecido” e nos enigmas aterradores da vida humana. Ele seria, portanto, um meio-termo entre a arte antiga, instintiva, representada por Ésquilo, e a ruptura trazida por Eurípedes, “o termômetro do pensamento estético e ético-político de sua época”, filosófico-socrático.
Usando dois termos caros a Guimarães Rosa, talvez possamos pensar em Antígona como um ser das mediações, dos entremeios, na medida em que é esmagada pela confrontação entre o direito natural e o direito positivo, representado por Creonte.
Filha de Édipo e de Jocasta, isto é, fruto de uma união incestuosa, ela arrasta consigo tal herança desventurosa. E, não por acaso, a tragédia inicia logo após mais um desdobramento dessa sina familiar: os irmãos de Antígona, Etéocles e Polinice, morreram um pelas mãos do outro, em sangrenta disputa pelo trono tebano; o primeiro, defendendo a cidade da invasão perpetrada pelo segundo juntamente com seus aliados argivos. Logo após assumir o poder, Creonte, irmão de Jocasta, decreta que, por ter se lançado contra a sua própria cidade, Polinice não poderá ser sepultado; aquele que tentar fazê-lo, será condenado à morte. Ao mesmo tempo, ordena que Etéocles, morto ao defender Tebas, tenha os funerais de um herói.
Antígona começa com um diálogo entre a personagem-título e sua irmã, Ismene. Há que se ignorar o decreto de Creonte e sepultar Polinice, diz Antígona. Há, reiteramos, a contraposição entre a lei (justiça divina) e a ordem (poder humano, temporal). Do ponto de vista de Antígona, Creonte estaria suplantando suas prerrogativas. Ao se colocar contra o poder da pólis, representado ou, melhor dizendo, personificado por Creonte, ela seria uma espécie de renovadora. Se levarmos em conta o fato de se tratar de uma mulher, o adjetivo revolucionária talvez sirva melhor.
É importante ressaltar que a ideia de justiça não se limita ou se conforma à ideia de poder, pois seria algo anterior, maior, e mesmo ulterior. Logo, o que se coloca em questão é: o que Creonte fez com o poder? Trata-se de algo justo ou injusto? Ele diz a certa altura que “jamais de mim obterão os maus a honra devida aos justos”. Ocorre que, para ele, “justo” é todo aquele que “tiver sentimentos partidários” à cidade, ou seja, for partidário seu. Como todo tirano, Creonte quer se confundir com a cidade que governa, como se fossem uma coisa só. Podemos enxergar isso em seu diálogo com Hemon:
HEMON
Não há cidade que seja de um só.
CREONTE
A cidade não pertence a quem governa?
HEMON
Belo governante serias, sendo único numa cidade deserta.
Voltando ao início da peça, vemos que, ainda que concorde com Antígona, Ismene não se rebela. Ela se submete à ordem vigente, talvez por encarar a situação do ponto de vista dos meios – ou da falta de meios. Diz a Antígona: “amas o impossível”. Diferentemente de Ismene, Antígona conforma tudo à sua força: “Quando me faltarem forças, cessarei”. Ironicamente, já no final da peça, é Creonte quem vê suas forças exauridas: “Eu não sou nada, / sou menos que ninguém”.
O coro, por sua vez, coloca-se noutra posição, ambígua, flutuante. Não dissuade e tampouco exorta. Isenta-se. Limita-se, a certa altura, a afirmar que não é dado ao homem colocar limites para os deuses. O ideal, portanto, é que haja um crescimento equilibrado do humano e do divino. A tragédia se inscreveria justamente quando não há esse equilíbrio, ou quando ele, por alguma razão, é perdido.
Em Aristóteles, há um entendimento muito claro desse equilíbrio. As tragédias, para ele, dariam a medida para uma melhor interação humana, distante de quaisquer extremos. O caráter, ademais, é mensurado pelas ações: você é o que faz. Estamos, assim, no âmbito da práxis (em oposição à poiesis platônica) e, na medida em que ela encerra um leque de possibilidades, pode-se afirmar que o estudo aristotélico da tragédia é eminentemente praxiológico, isto é, está debruçado sobre as diversas possibilidades de ação. A tragédia em questão é posta em movimento a partir da ação de Antígona de sepultar Polinice, contrariamente ao que fora decretado por Creonte. Nesse âmbito, Aristóteles também faz uma distinção muito clara entre o direito natural e o direito positivo na Retórica, conforme citado por Mário da Gama Kury em sua apresentação da Trilogia Tebana: “(…) É isso que a Antígona de Sófocles claramente quer exprimir quando diz que o funeral de Polinice era um ato justo apesar da proibição; ela pretende dizer que era justo por natureza”. Portando, ainda que estivesse violando as leis escritas ao ignorar o decreto de Creonte e sepultar o irmão, Antígona agiu conforme leis não escritas e, diferentemente daquelas, perenes.
Ainda conforme a leitura aristotélica, mas correndo o risco de, talvez, cometer alguma impropriedade, podemos enxergar a tragédia como uma espécie de dobra por meio da qual os gregos buscavam o próprio reflexo e o da pólis. Friedrich Hölderlin empreenderia uma leitura que muitos consideraram “desvairada” à época, mas que acaba por dever algo a essa praxiologia de Aristóteles. Segundo ele, a tragédia se basearia numa inversão: em lugar de desejar trocar este mundo por outro, o ideal seria trocar o outro mundo por este. Antígona é uma personagem selvagemente justa na medida em que é engolfada por uma hybris (desmesura, excesso) compaginada ao mundo dos mortos, ao passo que Creonte seria um legalista, um brutal ordenador. Sófocles, assim, buscaria um equilíbrio entre esses extremos por meio da imparcialidade do coro, incorporando os conflitos vividos pela pólis em seu tempo.
Condenada por Creonte ao sepultamento em vida, Antígona alcança um entendimento alucinado – logo, verdadeiro, puro – da condição humana e, vale dizer, do próprio tempo. Para Hölderlin, trágico em Sófocles não é o desfecho terrível e inevitável, mas, sim, a inevitabilidade, por parte do herói ou da heroína, quando finalmente colocado face a face com seu destino, de compreender o seu lugar no tempo, como se estivesse simultaneamente dentro e fora dele. Ela está, em suas palavras, partindo “viva para a morada dos mortos”. Logo, anuncia-se aí uma ruptura, a maior de todas.
Diferentemente da circularidade intrínseca às tragédias de Ésquilo, em que o desvio era consertado e tudo voltava ao que era antes, não é o que ocorre em Sófocles. Ante a condenação de Antígona e o que ela vislumbra em seu fim, impõe-se uma mudança de eixo: em vez de as coisas desenrolarem no tempo, é o próprio tempo que passa a se desenrolar. É o que permite a Hölderlin dizer que, na tragédia sofocliana, o começo e o fim cessam de rimar. A ruptura está feita. Nada será como antes.
…………
Trabalho de conclusão da disciplina Filosofia Geral I. Outono, 2012.
BIBLIOGRAFIA
HÖLDERLIN, Friedrich. Reflexões. Tradução: Marcia C. de Sá Cavalcanti. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.
JOYCE, James. Finnegans Wake/Finnicius Revém – Volume 1. Tradução: Donaldo Schüler. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.
JOYCE, James. Panorama do Finnegans Wake. Tradução: Haroldo de Campos, Augusto de Campos. São Paulo: Perspectiva, 2001.
NIETZSCHE, Friedrich. Introdução à tragédia de Sófocles. Apresentação, tradução e notas: Ernani Chaves. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006.
SÓFOCLES. Antígona. Tradução: Donaldo Schüler. Porto Alegre: L&PM Editores, 1999.
SÓFOCLES. A Trilogia Tebana. Tradução e apresentação: Mário da Gama Kury. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1989. 15ª reimpressão: 2011.