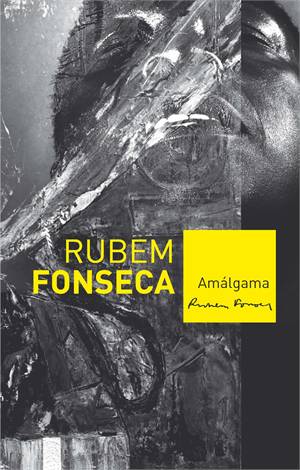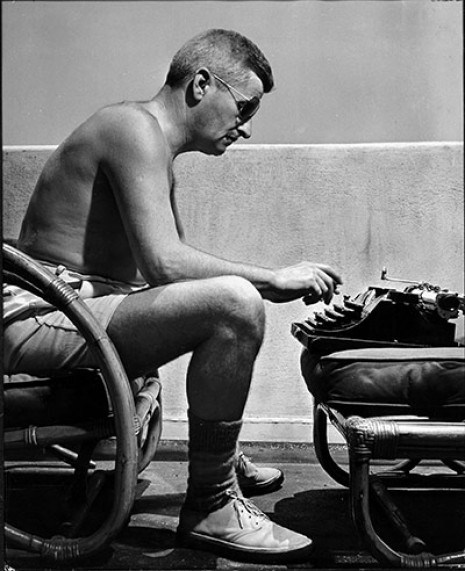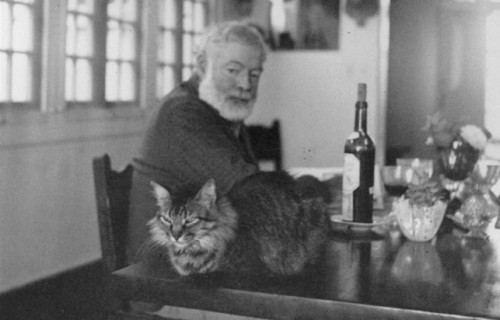Este texto propõe um breve estudo da seguinte passagem (473d-e) do Livro V da República, de Platão:
Se os filósofos não forem reis nas cidades ou se os que hoje são chamados reis e soberanos não forem filósofos genuínos e capazes e se, numa mesma pessoa, não coincidirem poder político e filosofia e não for barrada agora, sob coerção, a caminhada das diversas naturezas que, em separado, buscam uma dessas duas metas, não é possível, caro Gláucon, que haja para as cidades uma trégua de males e, penso, nem para o gênero humano. Nem, antes disso, na medida do que é possível, jamais nascerá e verá a luz do sol essa constituição de que falamos. Eis o que, há muito, põe dentro de mim uma hesitação quanto a falar, porque via como muito contrário à opinião corrente o que seria dito. É, de fato, difícil reconhecer que nenhuma outra cidade seria feliz, quer na vida privada quer na pública.
Num primeiro momento, fiando-me nas leituras de Eric Voegelin e Werner Jaeger, procuro discorrer sobre o trecho propriamente dito. A seguir, recorrendo a um ensaio de Richard Kraut, tento contextualizá-lo melhor, explicitando, na medida do possível, alguns pressupostos.
1. No capítulo dedicado à República de seu Platão e Aristóteles, Eric Voegelin sublinha (p. 130) que, embora o referido diálogo comece como uma discussão sobre a vida justa do indivíduo, ele progride no sentido de uma investigação da ordem e da desordem na cidade, uma vez que “o estado da psique individual, em saúde ou doença, expressa-se no estado correspondente” da cidade.
Aquilo a que Voegelin se refere como o “jogo da fundação” tem a sua motivação anunciada ainda no Livro II, quando Sócrates afirma que “num espaço maior, talvez haja mais justiça e seja mais fácil entendê-la” (368e). O que salta aos olhos, portanto, é que se trata de um mesmíssimo movimento especulativo ou, talvez fosse melhor dizer, investigativo: mira-se a cidade para melhor enxergar o indivíduo, na medida em que este é aquela escrita em letras menores. A fundação da cidade em logos, a arquitetura minuciosa de um tal paradigma, serve a esse mergulho interior e está ancorada numa correspondência entre homem e pólis.
Não é por acaso que Werner Jaeger, em Paideia, chama a nossa atenção para o fato de que, segundo ele, “o Estado ideal é apenas o espaço adequado que ele [Platão] necessita para a edificação de sua forma”, e é visto dessa maneira que podemos ler a República como, “antes de tudo, uma obra de formação humana”, na qual fica patente que o “homem perfeito só num Estado perfeito se pode formar, e vice-versa; a formação deste tipo de Estado é um problema de formação de homens” (pp. 836-7). Não é em outra coisa que, ainda segundo Jaeger, está baseada aquela correspondência ou correlação entre homem e pólis desde as suas respectivas estruturas internas.
Com tudo isso em vista, a identificação entre paideia e politeia parece imprescindível para uma compreensão razoável do excerto norteador deste trabalho, transcrito na página anterior. Voegelin, inclusive, chega a afirmar categoricamente que elas “não podem ser separadas”, pois “não há nada na ordem de uma vida que não afete a ordem da alma” (p. 162).
Por distintos que sejam os dois comentadores, talvez não seja de todo inútil ou absurdo colocá-los para conversar. A questão, aqui, parece ser a de elucidar, até onde for possível, a conexão entre paideia e politeia para, então, compreender o lugar que o filósofo deve ocupar na cidade imaginada e quais as implicações disso.
Jaeger oferece uma chave para a compreensão (p. 839): “Se o ideal do homem justo só num Estado perfeito se pode concretizar, a educação chamada a criar aquele tipo será, em última instância, uma questão de poder”. O que se procura, portanto, é justamente uma coincidência entre o poder político e o espírito filosófico.
Voegelin nos lembra de que o paradigma é justamente o que se passa a buscar quando os interlocutores especulam sobre a natureza da justiça e da injustiça, conforme as palavras do próprio Sócrates (472c-d):
Ah! Porque queríamos ter um modelo, procurávamos saber o que é a própria justiça e o que seria o homem perfeitamente justo, se existisse, e, por outro lado, também o que é a injustiça e o homem muito injusto para que, olhando para eles, conforme a imagem que tivéssemos deles em relação à felicidade e ao seu oposto, fôssemos obrigados a concordar, em relação a nós mesmos, que quem for muito semelhante a eles terá a sorte mais semelhante a deles. Nossa intenção, porém, não era demonstrar que esses modelos possam existir.
No entender de Voegelin, somente depois de resguardar “a natureza do paradigma como um padrão verdadeiro independente de sua realização concreta” (p. 163) é que Sócrates enuncia a condição segundo a qual, enquanto os filósofos não forem reis, coincidindo poder político e filosofia numa mesma pessoa, não haverá “trégua de males” seja para as cidades, seja para o gênero humano.
É necessário, portanto, que “a ordem verdadeira que é real na alma do filósofo” se expanda para a ordem citadina, coisa que só aconteceria (e o uso do futuro do pretérito é condizente com o teor da reflexão de Voegelin) se e quando o filósofo se impusesse à pólis (p. 164).
2. Em A Defesa da Justiça na República de Platão, Richard Kraut ressalta (p. 367) que o argumento fundamental do diálogo é a “tese segundo a qual a justiça é de tal maneira um bem que qualquer pessoa que a possua está em melhor situação do que uma pessoa consumadamente injusta que desfrute das recompensas não raro recebidas pelo justo”. No texto de Platão, o contraste entre as vidas justa e injusta aparece em 360e-362c.
Para Kraut, a teoria das Formas tem um papel crucial no argumento cuja intenção é fundamentar a tese acima, descrita como uma “complexa equação moral” (p. 368). A República oferece, segundo ele, quatro tentativas independentes de fundamentar a noção de que a justiça é um bem em si.
A primeira delas ocorre ao final do Livro IV, quando é dito que a justiça é um “certo arranjo harmonioso das partes da alma”, daí ela estar relacionada à alma como “a saúde está relacionada ao corpo, e uma vez que a vida não vale a pena ser vivida se a vitalidade estiver arruinada, é de suma importância manter a justiça da alma (444c-445c)”. Posteriormente, já no Livro IX, são comparados os tipos retratados até ali (filósofo, timocrata, oligarca, democrata e tirano) para se concluir que, dentre eles, o filósofo é o mais feliz, pois é o único a reinar sobre si mesmo (580a-c). No mesmo livro, argumenta-se ainda que o filósofo, podendo comparar melhor do que todos os outros os prazeres disponíveis, opta pelo que a filosofia oferece (580c-583a). Por fim, na descrição de Kraut, “os prazeres da vida filosófica são mostrados como mais reais, e por isso maiores do que os prazeres de qualquer outro tipo de vida (583b-588a)” (p. 370).
As quatro tentativas citadas ilustram uma gradação qualitativa (p. 377): “O filósofo é definido como alguém cuja paixão pelo aprendizado vai crescendo e assumindo a forma de um amor por objetos abstratos como Beleza, Bem, Justiça e que tais (474c-476c)”. Ora, é justamente pela conexão com as Formas, isto é, por participar delas e conhecê-las, que a vida filosófica é melhor do que qualquer outra, posto que mediada pela razão e, assim, capaz de transcender os meros apetites e emoções.
Kraut escreve (p. 385-6) que “Platão equaciona saúde, a boa condição do corpo, com certa harmonia entre seus elementos; e ele argumenta que justiça, a boa condição da alma, é também certo tipo de harmonia entre suas partes”; daí que a qualidade de bem intrínseca às Formas está “no fato de que elas possuem uma espécie de harmonia, equilíbrio e proporção”.
O filósofo, portanto, desvia o olhar dos negócios mundanos, voltando-o àquilo que é imutável e ordenado, de tal modo que, agora nas palavras de Sócrates, “torna-se ordenado e divino na medida do possível para um homem” (500c-d).
É nesse sentido que devemos pensar no filósofo como um paradigma de pessoa justa e, enquanto tal, aquele que deveria assumir o comando da cidade. Recorro, outra vez, a Kraut (p. 388):
Alguém que tiver sido plenamente preparado para amar o padrão ordenado das Formas estará livre do ímpeto de buscar vantagens extramundanas à revelia de outros seres humanos (…). Ademais, tal pessoa encontra-se na melhor posição possível para tomar decisões políticas sábias; tendo compreendido as formas, ele pode ver mais claramente do que outras o que precisa ser feito em circunstâncias particulares (500d-501a).
Voegelin formula isso de outro modo, afirmando (p. 108) que a ordem reta do homem e da sociedade é uma espécie de incorporação da ideia do Bem na realidade histórica, incorporação a ser realizada pelo homem que viu o Bem e permitiu que sua alma fosse ordenada por tal visão.
E, depois, o mesmo Voegelin ressalva (p. 123) que a filosofia não é uma “doutrina da ordem reta, mas a luz da sabedoria que incide sobre a luta” e, enquanto tal, deve ser encarada como “o esforço árduo para localizar as forças do mal e identificar a sua natureza”, o que possibilita a ele descrever (p. 131) a República como um “drama da resistência” contra a corrupção, seja do indivíduo, seja da cidade.
…………
JAEGER, Werner. Paideia – A Formação do Homem Grego. Tradução: Artur M. Parreira. São Paulo: Martins Fontes, 2011 (5ª edição, 2ª reimpressão). KRAUT, Richard. A Defesa da Justiça na República de Platão. Em: Platão (Companions & Companions). Org.: Richard Kraut. Tradução: Saulo Krieger. São Paulo: Ideias e Letras, 2013. PLATÃO. A República. Tradução: Anna Lia Amaral de Almeida Prado. São Paulo: Martins Fontes, 2006. VOEGELIN, Eric. Platão e Aristóteles (Ordem e História, volume III). Tradução: Cecília Camargo Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 2012 (2ª edição).