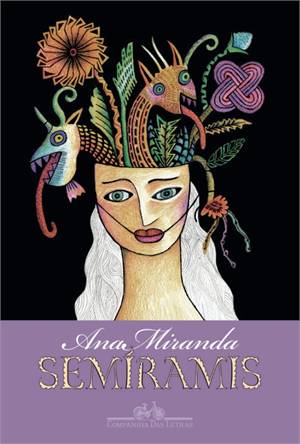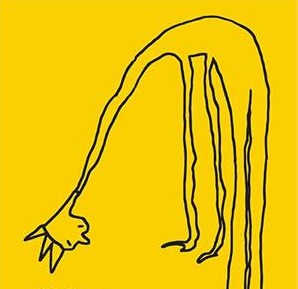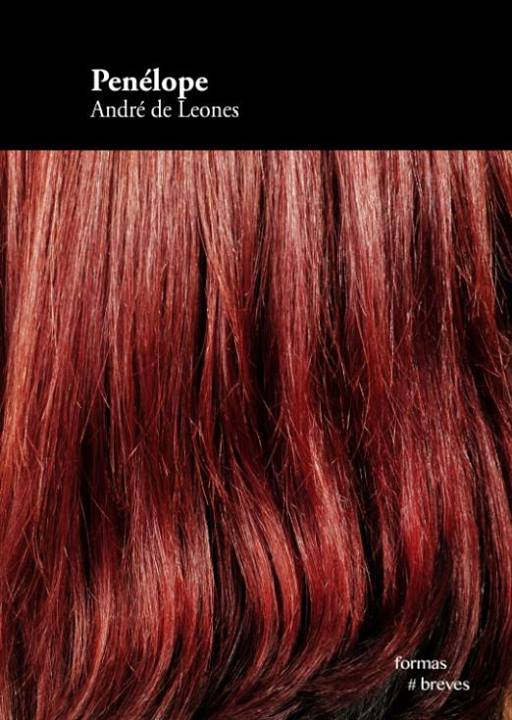Excerto de Como desaparecer completamente
[Rocco, 2010]

Ela disse à colega que não se preocupasse:
“Vou eu mesma buscar os livros.”
Vestiu o casaco e, ainda no elevador, decidiu que iria caminhando. Meia hora, talvez menos. O único problema: subir até a Paulista. Um arco íngreme de concreto da José Maria Lisboa ao Trianon. Tênis nos pés: sorriu para eles. De salto seria impossível. Mesmo assim, as pernas aqui e ali ameaçando não responder, mais e mais pesadas, como se quisessem empurrá-la de volta ou para baixo, ladeira abaixo. Um passo após o outro, lerdos, ao fim quase se arrasta, mas chega ao topo. Dois minutos parada na esquina, todo o fôlego do mundo para recuperar. Velha, pensa. E pensa em comprar água, mas não conseguiria engolir. A garganta pregada, ela toda pálida, meio trêmula, com vergonha de si. Café. Tivesse pegado um táxi e o quê? Café e cigarros. Aquela culpa. Café e cigarros e carne vermelha. Devia ter ido andando, pensaria. Café e cigarros e carne vermelha e sedentarismo. Mas, sempre que sobe a pé, é esse tal desfalecimento. Café e cigarros e carne vermelha e sedentarismo e álcool. Deitar sob uma árvore do Trianon. Outro nome antes, como era? Um velho professor dizia: “Siqueira Campos”. Mudou quando? Meio ameaçador visto de fora, não? Algo escuro. Estupros ali dentro? Malfeitores à espreita: a boceta ou a vida. Mas nunca soube de nada. Embora não frequente as páginas policiais nem com os olhos. Prefere não saber. Recusa-se a ler e a ouvir histórias escabrosas. Uma amiga estuprada aos quinze. Mas foi um primo dela, devidamente punido: ao seminário. Hoje, um padre feliz? Os clichês que. O ar ficando mais leve. Poderia dizer as horas, se alguém perguntasse. Sim, agora já seria capaz disso. Mas as pessoas não perguntam as horas em São Paulo, perguntam? Orientações espaciais, quando muito. Como chegar a? Paulistanos e seus relógios internos. Agendas eletrônicas grudadas nas vísceras. Sei exatamente aonde estou indo e para quê. Todos sempre indo a algum lugar. Mesmo os mendigos. Todos ocupados. Então, ela se lembra de que também está indo a algum lugar. Um passo de cada vez. As pernas ora duras, ora bambas, bobeando, como se não fossem dela. Na Paulista, afinal. Uma moça logo à frente. Cabelos lisos. Prefere as de cabelos cacheados. Uma ruiva de cabelos cacheados: sonho de consumo. Os pelos ruivos também. Toda ruiva. Vasta cabeleira pubiana. Morenas e loiras e negras, prefere-as raspadinhas. As voltas que a língua dá. Mas uma ruiva, não. Vastíssima cabeleira ruiva. A moça não rebola. As mulheres, o que há? Não rebolam mais. Só as meninas, crianças de 11, 13 anos. Maquiadas. O futuro, a quem pertence? De fato, nunca com uma ruiva. Quantas ruivas conhece? Nenhuma, ou não se lembra de. Passando pela rua, alguma? Tem de haver alguma, está na Paulista. Não é possível. Quando atravessa a Haddock Lobo, uma ruivinha. Onze, 12 anos? Uniformizada, São Luís. Cresce logo, menina. Velha, pensa. Pernas duras, terá cãibras depois, com certeza. A menina aperta o passo e dobra à direita na Bela Cintra. Quando chegar à esquina, já estará longe. Pessoas da sua cidade. Sobre o que conversar com menininhas? “My Humps”? Elas têm nojo de certas coisas, dizem. As novas gerações. Mas como é que dizem por aí? Experimentando. Com Cecília, pelo que se lembra, não começou assim.
Minha primeira namorada: Cecília.
Vizinhas, famílias vizinhas. Crescendo juntas. Todo mundo, depois de um certo tempo, ora, todo mundo sabia. Mas, claro, não se comentava. As meninas trancadas no quarto. As meninas o tempo todo juntas. As meninas, tão amigas. Dezoito anos. Claro, uma relação aberta. Mas 18 anos. No que a piada, ela pensa e começa a rir no meio da rua, a piada, corretíssima: dykes não têm casos, não ficam, não enrolam, não; dykes se casam.
As famílias em suas respectivas salas, em seus respectivos sofás, diante de seus respectivos aparelhos de televisão, não comentando. Filhas únicas. Tomando todo o cuidado do mundo para não comentar.
Não.
Não as famílias. A família de Cecília, apenas. Porque a família de Augusta: ela e a mãe, e só. A mãe, mesmo não comentando, jamais as censurou. Um outro tipo de silêncio. Um silêncio que não machucava, diferente do silêncio dos pais de Cecília. O silêncio confortável de sua mãe contraposto ao silêncio áspero, pontiagudo, dos pais de Cecília.
Completaram 18 e foram morar juntas. Não têm casos, não ficam, não. Casadas, sim. Uma relação aberta, mas Cecília advertia:
“Com quem você quiser, menos com homens, por favor.”
Sem problemas. Nunca teve mesmo (muito) interesse. Ou curiosidade. Tão amigas. Até que a morte as separe. Quase vinte anos sob o mesmo teto, dos 18 aos 36, e, antes, quando eles não comentavam, dois anos de educação lesboafetiva. Até que.
Ora, não era para sempre? Como você pôde?
Cecília naquele quarto, naquela cama. Martirizada, feito o quê? Uma santa. Dizendo pouco antes de:
“Acontece com todo mundo.”
E aconteceu com ela, Cecília.
“O tempo todo.”
Nosso primeiro beijo, pensa: Foi bom.
Nosso último beijo, pensa: Foi só meu.
O primeiro beijo foi na pré-escola, as tias assustadas, irritadas, não sabendo o que fazer. Dizendo:
“Não pode, não. Vocês duas, menininhas. Não pode beijar na boca, não. Ouviram? Não pode, viu? É feio.”
Ela e Cecília, de mãos dadas:
“Sim, entendemos.”
O primeiro beijo, mas e o último?
O último, ela pensa: O último foi só meu.
Aquele barulho estranho, o traço no monitor e o médico entrando esbaforido e fazendo o possível, estão sempre fazendo o possível, e dizendo em seguida:
“Fizemos o possível. Sinto muito.”
Ela então se abaixou e colou os seus lábios nos de Cecília:
“Adeus, mulher.”
Acontece com todo mundo. O tempo todo. Mesmo quando fazem o possível. Mesmo com todos eles fazendo o possível, acontece.
A moça. Uma moça. Ruiva? Não.
Uma moça está caída na esquina da Bela Cintra com a Paulista. Horário de almoço, algum risco de ser pisoteada? Atravessar a rua até a outra calçada onde ela jaz. Estatelada. Talvez alguém a ajude antes. Caída à entrada de uma farmácia. Uma jovem de branco, a farmacêutica de plantão se abaixando e fazendo o que é preciso, fazendo o possível? Não, ninguém. Todos muito ocupados lá dentro. Aproveite o seu horário de almoço. Cremes, loções, absorventes, ansiolíticos. Longas e belas pernas, inacreditável como nenhum engravatado engraçadinho tenha se disposto a dar uma ou duas mãos. Não é ruiva, contudo. Branca, cabelos pretos bem curtos, parece bonita. Mas não é ruiva. Pena.
Verde.
Atravessa a rua e se aproxima da moça e se abaixa:
“Ei. O que você tem?”
Olhos bem abertos, a voz clara:
“Não muito.”
“O que aconteceu?”
“Eu caí.”
“Te assaltaram? Alguém te acertou?”, pergunta e olha para os lados, apreensiva.
“Não.”
“Não?”
“Fiquei tonta e caí.”
“Tonta?”
“Tonta.”
“Consegue ficar de pé agora?”
“Não sei. Meio tonta.”
“Quer vomitar?”
“Acho que não. E você?”