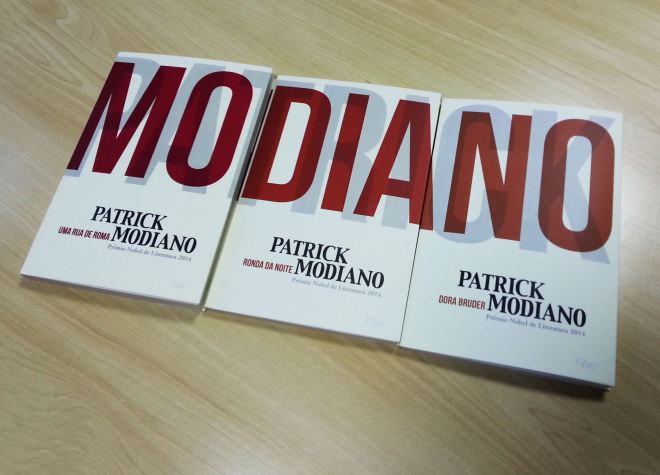Resenha publicada em 21.11.2014 no Estadão.

Há livros que é melhor encarar como aventuras literárias extremas. São extensos, exigentes, tidos pelos preguiçosos como ilegíveis, mas que podem ser — e são — muito divertidos, além de conseguirem, cada qual a seu modo, morder nacos inteiros da experiência humana. Cito três: Ulysses, de James Joyce, O Arco-Íris da Gravidade, de Thomas Pynchon, e Graça Infinita, de David Foster Wallace, lançado há 19 anos e que agora chega ao Brasil, traduzido por Caetano Galindo.
A história se passa num mundo futuro (ou, do nosso ponto de vista, alternativo), em que EUA, México e Canadá formam um superestado, a Organização das Nações da América do Norte (isso mesmo, Onan), e um bom pedaço do continente foi transformado num depósito de lixo tóxico. A Onan é presidida por uma paródia grotesca de Reagan chamada Johnny Gentle, responsável por essa “Reconfiguração” (o leitor encontra uma reconstituição da formação da Onan na forma de um filme – com bonecos – a partir da pág. 392). Com a Reconfiguração, o tempo passou a ser subsidiado, isto é, o governo negocia os naming rights de cada ano; assim, temos o Ano do Whopper, o Ano do Frango-Maravilha Perdue, o Ano da Fralda Geriátrica Depend (em que se passa boa parte do livro), etc.
Muito do romance gira em torno de uma família, os Incandenza. O pai, James Orin, referido pelos filhos como Sipróprio, foi (ele se matou) um cientista óptico, fundador da Academia de Tênis Enfield (ATE) e cineasta de après-garde (sic). A mãe, Avril (“Mães”), uma acadêmica respeitada, assumiu a ATE junto com o irmão adotivo (ou meio-irmão, mas que é mais do que isso) Charles Tavis, após o suicídio do marido. Os filhos são o caçula Hal (aluno da ETA; narra alguns capítulos), Mario (deficiente físico, assistente de direção do pai, realizador de alguns filmes, incluindo o supracitado sobre a formação da Onan) e o primogênito Orin (jogador de futebol americano, ex-namorado de Joelle Van Dyne, estrela de alguns dos filmes do patriarca).
Outro núcleo narrativo está na clínica de reabilitação Ennet, localizada proximamente à ETA (numa cidadezinha fictícia da área metropolitana de Boston). Joelle é internada ali após tentar “eliminar seu próprio mapa” e se aproxima do ex-viciado, ex-capanga de gângster e agora conselheiro Don Gately. Há um terceiro núcleo que, com liberdade, associo a Marathe, membro dos Assassins des Fauteuils Rollents (AFR), ou “Assassinos Cadeirantes”, um dos vários grupos separatistas surgidos após a Reconfiguração. Marathe repassa informações a um oficial da Onan chamado Steeply como forma de conseguir um tratamento médico adequado para a esposa. A grande ameaça perpetrada pelos separatistas é a veiculação do Entretenimento ou samizdat, na verdade o filme derradeiro de James O. Incandenza, intitulado Graça Infinita (V?), algo tão inconcebivelmente divertido que as pessoas “expostas” a ele não conseguem desviar os olhos e ali ficam, mesmerizadas, até morrer.
Para dar conta da enorme teia de relações, lembranças, idas, vindas e digressões, David Foster Wallace recorre a vários registros. Além das notas que tomam 133 páginas ao final (e nada ali é prescindível; vide a descrição da filmografia de James O. Incandenza na nota 24), temos cartas, relatórios, testemunhos, interrogatórios e descrições de filmes. Mas em nenhum momento se tem a impressão de um exercício estilístico gratuito. Graça Infinita não é cifrado ou hermético. O romance institui uma realidade alternativa, brinca com o caos político, mas jamais se desvia da matéria humano-afetiva que o anima.
O tom pseudoenciclopédico, de um detalhismo maníaco, jamais soterra o que importa: o olhar tristemente lúcido sobre as relações familiares (vide o monólogo avassalador do pai de James O. para o filho pequeno, as conversas telefônicas entre Orin e Hal sobre o pai suicida ou as lembranças de Gately sobre a mãe), os vícios (note-se os testemunhos dos residentes na Casa Ennet e/ou ouvidos por eles em reuniões do AA, NA, etc.) e a depressão (destaco a excruciante descrição de uma personagem: “É tipo horror mais que tristeza. É mais tipo horror”).
Graça Infinita se abre a partir do material humano que pipoca em suas páginas, infenso ao solipsismo. Por mais insana e pynchoniana (há até um Bodine por ali) que seja, sua aventura remete, sobretudo, a um tatear interno, anímico, do que nos constitui, bom e mau, saudável e não, e nos liga ao outro. Observe-se que o acerto de contas final (ao som de Linda McCartney, sua voz desafinada e o pandeiro que chacoalha bisonhamente isolados) é uma orgia ultraviolenta, mas deságua na imagem de Gately deixado numa praia deserta, sob a “chuva de um céu baixo”. Não obstante as circunstâncias, ou em vista delas, eis aí um belíssimo convite ao recomeço e à aceitação de si e do outro.