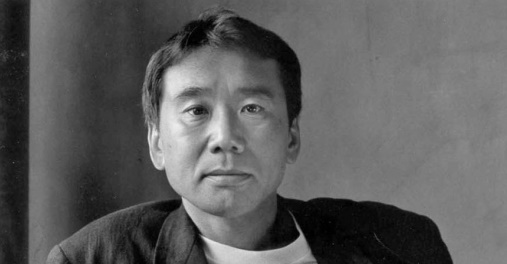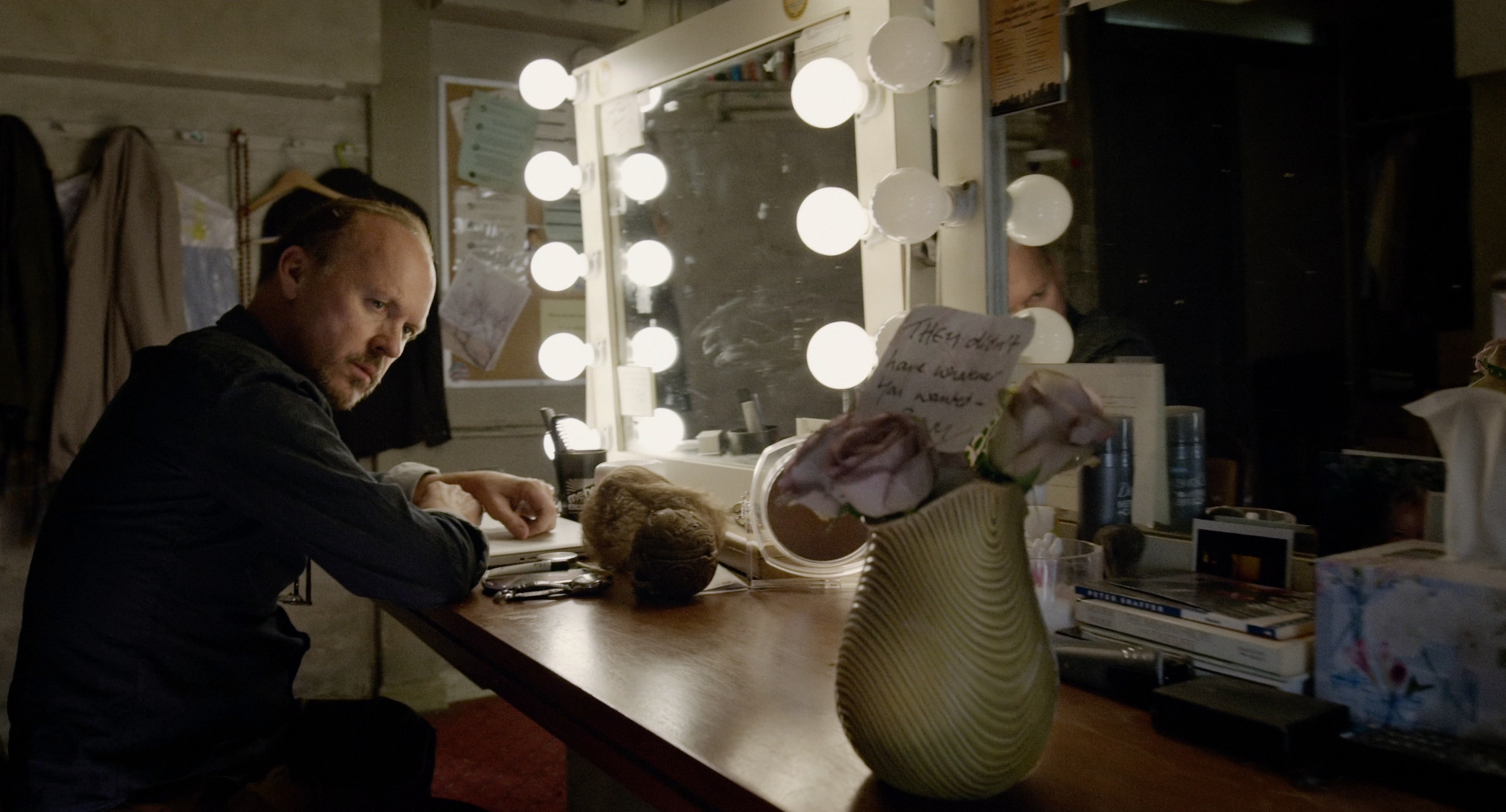Para Daniel e Lielson, dublinenses.

Introibo.
Este é um passeio pelos infernos homérico e joyciano. A descida ao Hades empreendida por Odisseu (décimo-primeiro canto da Odisseia) e a ida ao cemitério de Leopold Bloom (sexto capítulo do Ulysses) estão em seu centro.
Walter Benjamin é um referencial para o jogo de aproximações e distanciamentos que ensejo. Por mais que o objeto do ensaio O narrador não seja Joyce ou Homero, creio que seja possível que algumas das distinções traçadas pelo pensador alemão naquelas páginas sejam úteis aqui.
1. Odisseu desce ao Hades.
O décimo-primeiro canto da Odisseia está entre os narrados em primeira pessoa por Odisseu, quando de sua passagem pela corte dos feácios. No final do canto anterior, conforme conta, ele cobra de Circe a promessa de que ela o encaminharia ao lar e ouve (canto X, v. 489-495):
(…) Outra viagem haverás
de executar primeiramente, à residência
do Hades e da terribilíssima Perséfone,
a fim de consultar a psique do tebano
Tirésias, vate cego de epigástrio sólido:
só a ele, mesmo morto, concedeu Perséfone
o sopro da sapiência. Os outros vagam: sombras.
(HOMERO, 2011, p. 313)
A distinção feita por Circe é importante. De fato, no Hades, os mortos vagam como sombras esvaziadas, “restam vazios de tino, imagens de alijados” (como diz Aquiles, no verso 476 do canto XI), exceto Tirésias, de cuja “testa exangue” (v. 521) cadavérica não foi extirpado “o sopro da sapiência”. Odisseu deve interpelá-lo sobre como retornar a Ítaca.
Seguindo as indicações de Circe, depois de navegar até o extremo do oceano e caminhar até o local designado por ela, onde o Piriflegetonte e o Cocito deságuam no Aqueronte, na confluência desses rios, Odisseu e seus companheiros cavam um fosso e ali deitam as oferendas (leite, mel, vinho, farinha de cevada e, por fim, um carneiro e uma ovelha negra). Eles não devem permitir que os mortos se esbaldem com o sangue antes que Tirésias se aproxime e lhes diga o que precisam saber.
A primeira ânima a falar com Odisseu é a do pobre Elpênor, companheiro morto havia pouco, na casa de Circe, vitimado por um acidente estúpido: bêbado, resolvera dormir no terraço; ao acordar, em vez de descer pela escada, caminhou na direção contrária e despencou, quebrando o pescoço. Elpênor lhe pede que não seja deixado insepulto.
Em seguida, aproxima-se Anticleia, mãe de Odisseu, mas ele opta por ter com ela só após conversar com Tirésias. Este saúda Odisseu, mas só se dispõe a falar depois de beber do sangue oferecido. Feito isso, Tirésias lhe diz que o retorno não será fácil, uma vez que ele enfurecera Posêidon ao cegar um dos filhos deste, o ciclope Polifemo. A única maneira de contornar tamanho empecilho é pela via da moderação: ao aportar na Trinácia, não trucidar e devorar os rebanhos de Hélio-Sol. “Prevejo só catástrofe, se as molestares, / a ti, à nave, aos companheiros. Fugirás / tu mesmo – tarda volta dolorosa –, todos / os demais falecidos, num baixel de estranhos” (idem, p. 325; canto XI, v. 112-115).
Odisseu, portanto, consegue o aconselhamento que buscou ao descer ao Hades. Ele tem com o morto Tirésias e obtém dele o que Circe prometera: um meio de retornar ao lar. Devidamente aconselhado, Odisseu sabe que direção seguir para tomar o rumo de casa.
Mas a conversa com Tirésias não encerra sua jornada ínfera. Depois que aquele sai de cena, Odisseu afinal conversa com Anticleia. Ela também sorve do sangue, possibilitando a conversa, o reencontro. Afirma ter morrido em função da ausência do filho: “‘Não foram dardos hábeis da flecheira a me / ferirem mortalmente, nem alguma doença / que amiúde tolhe a vida com definamento / estígio, mas não ter a ti, teus pensamentos / agudos, Odisseu ilustre, o mel da ânima / que me afagava, eis o que me roubou a vida.’” (idem, p. 329-330, XI, 198-203). Ao ouvir isso, ele tenta abraçá-la por três vezes, mas só alcança o vazio; “a lei dos homens, quando os toma Tânatos”, faz com que eles não retenham “a ossatura e a carne”, aniquilados pela “voracidade flâmea” (idem, p. 331, XI, 218-220).
Após Anticleia, conta Odisseu, enfileiram-se “filhas de heróis e suas esposas” (XI, 227): Tiro, Antíope, Alcmena, Mégara, Epicasta, Clóris, Leda, Ifimedeia, Prócris, Fedra, Ariadne, Maira, Clímene e Erífile, entre outras.
A essa altura, Odisseu interrompe o relato, dizendo ser chegada a “hora / de me entregar ao sono em nau veloz ou mesmo / aqui: aos deuses cabe decidir e a vós / a viagem” (XI, 330-333). No entanto, Alcínoo, rei dos feácios, embora concorde em providenciar a viagem de volta, pede ao herói que não cesse a narração. Mais do que isso, o rei o identifica como o aedo:
(…) “Herói, não tens
ares de fraudador, de um ás do embuste, igual
a inúmeros que a terra negra nutre, pluri-
disseminados inventores de mentiras,
do que frustra à visão. Há forma em tua linguagem,
e em ti sobeja a precisão egrégia. Aedo
pareces do raconto exímio que narraste
acerca das amarguras tuas e de argivos.
(XI, 362-369.)
O canto XI é de uma centralidade que salta aos olhos. Além da perspectiva do retorno a Ítaca, temos, ainda, a afirmação de Odisseu não “só” como herói, mas também como aedo. Reitera-se a multiversatilidade do protagonista, e a Odisseia tem prosseguimento pela própria voz do herói-aedo.
Assim, Alcínoo pergunta a ele sobre os companheiros que morreram em Troia, guerreando, ou depois, como Agmêmnon. Este, de fato, fala com Odisseu no Hades, contando como foi assassinado por Egisto e pela sua própria esposa, Clitemnestra. Com ele, também se aproximam Aquiles, Pátroclo, Ajax e Antíloco. Quando saúda Aquiles, dizendo ser “enorme o teu poder restando entre os cadáveres” (XI, 485), ouve dele: “’Não queiras / embelezar a morte, pois preferiria / lavrar a terra de um ninguém depauperado, / que quase nada tem do que comer, a ser / o rei de todos os defuntos cadavéricos’” (XI, 487-491). O consolo, se é possível falar nesses termos, está no fato de que o filho de Aquiles, Neoptólemo, revelou-se um guerreiro de primeira grandeza, segundo Odisseu. Este ainda vê Ajax, Minos, Órion, Tício, Tândalo, Sísifo e, por fim, Héracles. Quando se vê rodeado por uma multidão de mortos, entre eles Teseu e Pirítoo, “urlando o brado cadavérico” (XI, 631), Odisseu é tomado pelo medo de que Perséfone disponha à sua frente a cabeça da Górgona e retorna correndo à embarcação, partindo com seus companheiros.
2. Bloom vai ao cemitério.
No sexto capítulo do Ulysses, Leopold Bloom vai ao enterro de Paddy Dignam no cemitério Glasnevin. Bloom é um agenciador de anúncios, judeu, casado com Molly, cantora, uma Penélope desbragada e infiel, e pai de Milly, quinze anos, que não se encontra em Dublin naquele dia, 16 de junho de 1904, em que toda a narrativa se desenrola (a rigor, o romance vai desde a manhã do dia 16 até a madrugada do dia seguinte). A jornada de Bloom, esse Odisseu moderno, é absolutamente ordinária.
Joyce estruturou o livro em dezoito capítulos. Os três primeiros seriam algo como a “telemaquia” e trazem Stephen Dedalus, alter-ego do autor, protagonista d’Um retrato do artista quando jovem, alijado do lar e de sua família, tendo de se virar com um salário miserável de professor e sendo informado de que será despejado da Torre Martelo, onde vive com o amigo Buck Mulligan. No terceiro capítulo, Dedalus não se lança no mundo em busca de notícias do pai, mas em sua própria cabeça, num ensimesmamento filosófico carregado de referências. Bloom só adentra a narrativa no quarto capítulo. Um sujeito tranquilo, ciente da infidelidade da mulher, mas incapaz de confrontá-la.
No quarto capítulo, que remete ao cativeiro de Odisseu na ilha de Calipso, Bloom, “prisioneiro” de Molly, prepara-lhe o desjejum, vai ao açougue (onde cobiça o “lombo semovente” da jovem à sua frente), volta para casa, frita um pedaço de rim, serve chá para a mulher, ainda na cama, conversa com ela, confere a correspondência (há uma carta para ele, da filha, um cartão e outra carta, endereçada à mulher, de seu provável amante, Boylan, dizendo que irá à casa deles logo mais, supostamente para levar o programa de sua próxima apresentação) e, levando consigo o jornal, vai ao banheiro.
O enterro de Paddy Dignam será às onze e, enquanto a hora não chega, Bloom resolve matar o tempo batendo perna por Dublin. O quinto capítulo remete ao episódio dos lotófagos e é narrado com um tom indolente, inercial, com várias referências a aromas e sabores variados; Bloom caminha à toa, papeia aqui e ali com conhecidos, vai ao correio com o cartão, aquele, e saca outra carta que recebera (enquanto Molly mantém relações carnais com outros homens, o contido Bloom mantém um relacionamento por meio de cartas, usando o pseudônimo Henry Flower, com uma mulher chamada Martha) e acaba por se entregar a um banho de imersão.
Enfim, o sexto capítulo. Bloom se junta aos senhores Cunningham, Power e Dedalus (pai de Stephen) no féretro. Os quatro aboletam-se numa carruagem.
A técnica utilizada por Joyce nesse capítulo é chamada de incubismo, termo derivado de incubus (espírito perverso, responsável por pesadelos e aparições fantasmagóricas), compaginando-se à mente de Bloom. O discurso indireto-livre permeia a tessitura do texto com ainda mais arrojo que nos capítulos anteriores. Veremos exemplos disso adiante.
Logo no começo do trajeto rumo ao cemitério, apontam para Dedalus a figura de seu filho, Stephen, parada na calçada. Enfurecido, Dedalus lamenta o distanciamento imposto entre eles e as companhias mantidas pelo rapaz. É a deixa para que Bloom se lembre do próprio filho, Rudy, morto ainda bebê, onze anos antes. É o primeiro fantasma com que ele terá de lidar. Um trecho:
(…) Orgulho do filho. Ele tem razão. Alguma coisa que fica. Se o meu Rudy tivesse sobrevivido. Ver ele crescer. Ouvir a voz dele pela casa. Caminhando ao lado de Molly com um terninho de Eton. Meu filho. Eu nos olhos dele. Sensação estranha ia ser. De mim. Só uma chance. Deve ter sido naquela manhã no Raymond Terrace ela estava na janela, olhando os dois cachorros fazendo aquilo perto do muro do chegademaldade. E o sargento sorrindo lá de baixo. Ela estava com aquele vestido creme com o rasgão que ela nunca remendou. Vamos brincar um pouquinho, Poldy. Meu Deus, eu estou morrendo de vontade. Como começa a vida. (JOYCE, 2012, p. 209.)
Note-se no trecho a fluidez com que, assumindo a voz de Bloom, a narração salta do desejo de ver o filho vivo, crescendo, para a lembrança das circunstâncias em que teria sido concebido. Essa alternância de vozes e tempos narrativos será levada a extremos no decorrer do capítulo. O percurso é similar e se dá mais ou menos assim: observação de um dado objetivo (terceira ou primeira pessoa), internalização desse dado (primeira pessoa), rememoração de algo suscitada pela observação (primeira pessoa), “invasão” de outras vozes no âmbito da rememoração. Transcreverei outro trecho em que esse percurso aparece com clareza:
A usina de gás. Coqueluche, dizem que cura. Sorte que a Milly nunca teve. Coitadinhas das crianças! Ficam lá viradas do avesso de convulsão. De dar dó. Se safou bem com as doenças relativamente. Só sarampo. Chá de semente de linhaça. Escarlatina, epidemia de gripe. Contato com a morte. Não perca essa oportunidade. Refúgio de cães ali embaixo. Coitado do Athos! Seja bom com o Athos, Leopold, é o meu último desejo. Seja feita vossa vontade. A gente obedece quem está no túmulo. Uma garatuja moribunda. Ele não aguentou, como sofreu. Bicho quieto. Os cachorros dos velhos normalmente são. (Idem, p. 211.)
A passagem acima também carrega a primeira menção ao pai de Bloom. Ele pediu ao filho que tomasse conta do cachorro, Athos (que, entretanto, não suportou a morte do dono). No decorrer do capítulo, a “presença” do pai e do filho de Bloom parecem se intensificar. Embora passem inúmeras outras coisas pela sua cabeça enquanto conversa com os outros homens na carruagem e observa os diversos lugares pelos quais trafegam, os mortos insistem em seu imiscuir em suas rememorações e na conversa, até pelas circunstâncias em que se encontram, a caminho do cemitério.
A certa altura, eles veem outro cortejo, o enterro de uma criança. De imediato, Bloom é acossado pela lembrança do filho que perdeu: “Corpo de anão, fraco que nem massa de vidraceiro, numa caixa de pinho e forro branco. (…) Nosso. Pequeno. Filhinho.” (Idem, p. 218-9.) Em seguida, o senhor Power comenta intempestivamente que o pior é aquele que tira a própria vida. Ora, o pai de Bloom se matou. “Eles não têm piedade disso por aqui ou de infanticídio. Recusam enterro cristão” (idem, p. 219). De imediato, ocorre-lhe a lembrança daquele dia:
Aquela tarde de inquérito. O frasco de rótulo vermelho em cima da mesa. O quarto de hotel com os quadros de caça. Abafado que estava. O sol pelas frestas da veneziana. As orelhas do legista, grandes e peludas. O camareiro prestando testemunho. Pensei que ele estava dormindo primeiro. Aí vi como que uns riscos amarelos na cara dele. Tinha escorregado pro pé da cama. Veredito: intoxicação. Morte por desventura. A carta. Para meu filho Leopold. (Idem, p. 220.)
No cemitério, Bloom é informado de que Dignam deixou mulher e cinco filhos em péssima situação. Ele observa um dos filhos do morto, o “menino com a coroa”, quando todos se detém na capela mortuária; “Será que ele estava lá quando o pai? Inconscientes os dois” (idem, p. 228). Quando o padre Coffey (o trocadilho com coffin, “caixão”, não tarda a aparecer) começa a ladainha, Bloom pensa nos mortos, a “cada dia fatalmente uma fornada fresquinha: homens de meiaidade, velhas, crianças, mulheres mortas no parto, homens de barba, negociantes carecas, menininhas tísicas com peitinho de padorca” (idem, p. 230). Os coveiros buscam o caixão e todos o acompanham no percurso derradeiro. O senhor Dedalus vê o túmulo da mulher e se emociona, chorando em silêncio. Os mortos estão ao redor. É o lugar deles, por assim dizer.
Retifico: os mortos estão ao redor, mas não podem ser alcançados. No entender de Bloom, “morreu está morto”. Assim, por mais bela que seja ou possa ser a palavra dita pelo padre ou quem quer que seja, “de que é que vale pro camarada a sete palmos comendo grama pelo nariz?”. A ideia do juízo final tampouco lhe parece interessante: “Acordem! Juízo final! E aí cada um fuçando atrás do fígado e das vistas e do resto dos pertences. E o danado tem que se achar inteirinho naquela manhã. Um pêni de pó cada crânio” (idem, p. 232).
O enterro segue como de praxe. Alguém conta uma piada (muito boa, por sinal). Os pensamentos de Bloom voejam em todas as direções, libérrimos, mas em torno de um centro comum, um estar-com-os-outros: “Dá pra arranjar uma viúva moça aqui. Os homens gostam assim. Amor entre as lápides. (…) No meio da morte estamos na vida. As duas pontas se atam” (idem, p. 235); “Um sujeito podia viver com a sua solidão a vida inteira. Podia, sim. Ainda assim ele ia precisar de alguém pra tapar a cova quando ele morrer mesmo que cavar ele consiga sozinho” (idem, p. 237). No entanto, para o defunto, a morte seria o passo inicial rumo ao esquecimento: “As pessoas falam de você um pouco: te esquecem. (…) O dia da hera vai morrendo. Depois eles seguem: caindo num buraco, um depois do outro” (idem, p. 239); “Caía a terra mais macia. Comece a ser esquecido. Longe dos olhos, longe do coração” (idem, p. 240). Vivos e mortos apartados, inexoravelmente.
Por fim, Bloom caminha para a saída do cemitério. “Chega desse lugar”, pensa. “Te leva um pouquinho mais perto cada vez”. Ainda não é o momento, a hora dele. “Muita coisa ainda por ver e ouvir e sentir. Sentir seres quentes vivos perto de você. Eles que durmam nessa cama verminosa deles. Ainda não é nessa temporada que vão me pegar. Camas quentes: vida quente purossangue” (idem, p. 244-5).

3. Benjamin e O narrador.
No ensaio O narrador, Walter Benjamin afirma logo no começo que “a arte de narrar está em vias de extinção”, uma vez que somos mais e mais privados da “faculdade de intercambiar experiências” (BENJAMIN, 2012, p. 213). No entender de Benjamin, o modo como nós contamos histórias vem se alterando em função das transformações históricas, a tal ponto que a narração tradicional, cujas características tentarei identificar nos parágrafos seguintes, cedeu lugar a outras maneiras de narrar. Benjamin identifica o mutismo dos combatentes egressos das trincheiras de Primeira Guerra Mundial como um exemplo (ou mais um sintoma) do que tem levado à extinção da narração. No campo de batalha, até pelo ineditismo como aquela guerra foi travada, com novas armas e veículos levando a violência a extremos, o tecido comum da experiência foi esgarçado. O inaudito alcançado pela técnica bélica e a brutalidade advinda disso arrancou daqueles homens qualquer possibilidade de, retornando ao lar, intercambiar ou comunicar o que viveram. É como se o homem não experienciasse a guerra moderna, mas fosse experienciado por ela. E a guerra moderna é, claro, uma decorrência da sociedade que a propõe, por assim dizer.
A narração tradicional dizia respeito à possibilidade de transmitir uma experiência. Na medida em que as experiências eram transmitidas, trocadas, o tecido comum de um determinado grupo era formado e reforçado. A narrativa pertencia a todos, era o chão comum sobre o qual todos trafegavam, inclusive porque ela trazia “de forma aberta ou latente, uma utilidade”, fosse um “ensinamento moral” ou uma “sugestão prática”, ou ainda um “provérbio ou norma de vida – de qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos ao ouvinte” (idem, p. 216). Tal narrador, originariamente, seria o viajante, “alguém que vem de longe” e tem muito a contar, comunicar, transmitir, ou “o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições” (idem, p. 214). (Com bastante liberdade, talvez possamos identificar Odisseu com o primeiro tipo, o homem que, em seu atabalhoado regresso, é acolhido na corte dos feácios e lhes transmite, tal e qual um aedo, os percalços pelos quais passou até ali – incluindo a descida ao Hades, na qual nos detivemos há pouco.) No entender de Benjamin, contudo, há uma interpenetração entre esses dois tipos:
O sistema corporativo medieval contribuiu especialmente para essa interpenetração. O mestre sedentário e os artífices viajantes trabalhavam juntos na mesma oficina; e cada mestre tinha sido um artífice viajante antes de se fixar em sua pátria ou no estrangeiro. (…) No sistema corporativo associava-se o conhecimento das terras distantes, trazido para casa pelo homem viajado, ao conhecimento do passado, recolhido pelo trabalhador sedentário. (Idem, p. 215.)
Com o desenvolvimento da sociedade burguesa e da economia mercantil, com o recrudescimento da concorrência individual, das cidades, da celeridade típica dessa nova organização, da efemeridade, aquele chão comum aos poucos deixou de existir. No lugar da narração tradicional, sobrevieram a informação jornalística, incapaz de comunicar quaisquer experiências significativas, e o romance, que “não procede da tradição oral nem a alimenta”:
O narrador retira o que ele conta da experiência: de sua própria experiência ou da relatada por outros. E incorpora, por sua vez, as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes. O romancista segrega-se. A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não recebe conselhos nem sabe dá-los. Escrever um romance significa, na descrição da vida humana, levar o incomensurável a seus últimos limites. Em meio à plenitude dessa vida e na descrição dessa plenitude, o romance anuncia a profunda perplexidade de quem a vive. (Idem, p. 217.)
Benjamin identifica o russo Nikolai Leskov como um exemplo de narrador. Leskov era alguém que se sentia “à vontade tanto na distância espacial como na distância temporal”, que pertencia à Igreja Ortodoxa mas desprezava a sua burocracia, que foi buscar subsídios nas lendas russas e só começou a escrever aos vinte e nove anos, depois de empreender diversas viagens comerciais. “Seu ideal – escreve Benjamin – é o homem que sabe se orientar no mundo, mas sem se prender demasiadamente a ele” (idem, p. 216). Leskov é diverso das formas narrativas consagradas pela burguesia (o romance e a informação) porque não se segrega, retirando das experiências, próprias e alheias, o seu material, e porque, ao comunicar sóbria e concisamente essas experiências por meio das histórias, prescinde de quaisquer explicações ou didatismos, liberando o leitor para interpretar a história conforme a sua própria experiência. Há, portanto, um intercâmbio de experiências.
A narração de Leskov também é identificada por Benjamin com “uma forma artesanal de comunicação”, desinteressada de “transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada, como uma informação ou relatório”, e mergulhando “a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele” (idem, p. 221).
Outros aspectos são considerados no âmbito da redução da comunicabilidade da experiência, como o novo aspecto assumido pelo “rosto da morte” em nosso tempo. Este é um ponto muito importante para as considerações que tentarei fazer na parte final deste estudo.
A ideia da morte, afirma Benjamin, vem perdendo “sua onipresença e sua força de evocação”, pois, no decorrer do século XIX, a sociedade burguesa, com suas medidas higienizadoras, teria apartado o homem do “espetáculo da morte”; se morrer “era antes um episódio público na vida do indivíduo”, coisa de caráter exemplar, hoje “a morte é expulsa para cada vez mais longe do universo dos vivos” (idem, p. 223-4). E que efeito teria essa mudanças?
Ora, é no moribundo que não apenas o saber e a sabedoria do homem, mas sobretudo sua vida vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias – assumem pela primeira vez uma forma transmissível. (…)
A morte é a sanção de tudo o que o narrador pode relatar. É da morte que ele deriva sua autoridade. Em outras palavras: suas histórias remetem à história natural. (Idem, p. 224.)
Talvez seja lícito afirmar, então, a partir do que é assinalado por Benjamin, que ocorre uma “desnaturação” nas formas narrativas modernas, embora seja possível encontrar esforços no sentido de uma “renaturação” em romances como os de Cormac McCarthy e Ricardo Guilherme Dicke, por exemplo. Neles, sobretudo nos que formam a Trilogia da Fronteira, de McCarthy, e em Caieira e Madona dos Páramos, de Dicke, não apenas a morte, mas as formas como o seu rosto é encarado, trabalham, ao que parece, com uma acepção mais arcaica da sua relação com o humano, inclusive nos termos daquela autoridade – ainda que nesses livros o tecido comunitário apareça, por assim dizer, em farrapos.
“A passagem do exército e a passagem da areia no deserto são uma coisa só”, lemos em A Travessia (McCARTHY, 1999, p. 145), e também:
Não é fácil a tarefa do narrador, disse. Parece que se obriga a escolher uma história dentre as muitas possíveis. Mas claro que não é esse o caso. O caso ao contrário é fazer muitas de uma. O contador de histórias deve sempre se dar ao trabalho de inventar contra a asserção do ouvinte – talvez expressa, talvez não – de que ouviu a história antes. Estabelece as categorias nas quais o ouvinte irá desejar enquadrar a narrativa enquanto a estiver ouvindo. Mas entende que a própria narrativa não tem de fato qualquer categoria, sendo em vez disso a categoria de todas as categorias pois não existe nada que fique fora de seu alcance. Tudo é narração. Não tenha dúvida. (Idem, p. 152.)
Há muitas pessoas empoeiradas e alquebradas pela vida em McCarthy e Dicke, moídas pelas distâncias percorridas, segregadas, lançadas no oco da noite, mas ainda assim (ou talvez por tudo isso) lembrando, contando, historiando, comunicando (ou tentando), em meio ao vazio. Se a “memória é a faculdade épica por excelência” (BENJAMIN, 2012, p. 227), há nesses romances aquele esforço perpetuador que já se anunciava “nas invocações solenes das Musas, que abrem os poemas homéricos” (idem, p. 228). O estabelecimento ou a problematização dessas relações, contudo, via Benjamin ou não, envolvendo McCarthy e Dicke ou não, seria objeto de outro trabalho, de outro estudo. Neste, talvez seja o momento de nos aproximarmos de James Joyce e seu Ulysses, contrapondo-o ao seu modelo maior.
4. Solidão, diáspora.
Se Benjamin discorre sobre o narrador também para atestar a sua distância, recorremos à obra-prima de James Joyce não para contradizê-lo, mas, se possível, para ilustrar algumas de suas distinções.
James Joyce, é verdade, não foi um viajante, embora tenha passado a maior parte da vida fora de sua Irlanda natal. Se formos lhe emprestar um rótulo, será o de um segregado, de alguém lançado no exílio, mas que jamais deixou de refletir Dublin, de se referir a ela, de situar naquela cidade muito de sua produção literária.
E Joyce foi um segregado também neste sentido:
O romancista segrega-se. A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não recebe conselhos nem sabe dá-los. Escrever um romance significa, na descrição da vida humana, levar o incomensurável a seus últimos limites. Em meio à plenitude dessa vida e na descrição dessa plenitude, o romance anuncia a profunda perplexidade de quem a vive. (BENJAMIN, 2012, p. 217.)
Se a narrativa tradicional pede um esquecimento de si e uma entrega ao que é narrado, “um estado de distensão”, o romance joyciano exige o contrário, uma identificação imediata, sim, mas calcada na impossibilidade de comunicar, um ensimesmamento absoluto, que reflete a solidão inexorável de cada personagem.
Assim, no Ulysses, é possível perceber como o “rosto da morte” assume outro aspecto para Bloom. O que a morte evoca nele e para ele é o signo não de uma sabedoria ou de uma vivência, mas de sua própria solidão, de seu desamparo. O pai é um suicida. O filho não vingou. O que os mortos de Bloom legaram para ele além de suas ausências e do vazio?
Diversamente, Odisseu tem um filho, Telêmaco, que parte em sua procura, e que depois auxilia o pai a retomar o lar dos pretendentes. Não por acaso, já no último canto do poema, quando os aliados dos que foram mortos se unem para se vingar, na iminência de uma nova batalha (que será evitada por intervenção de Atena), Odisseu pede a Telêmaco: “Caro, estando agora / onde os mais valorosos em combate enfrentam-se, / cuida de não enodoar a estirpe ancestre, / até o dia de hoje, filho, insuperável, / seja em coragem, seja em força” (XXIV, 505-509), ao que o rapaz responde: “Verás, querido pai, querendo, como exortas, / que o coração que bate em mim honora ancestres” (XXIV, 511-512). Ouvindo isso, Laerte exclama: “Deuses, / que dia para mim! Mal me contenho em júbilo: ambos competem em valor: o filho e o neto!” (XXIV, 513-514).
Em Homero, a “estirpe ancestre” reluz tanto no avô quanto no neto, passando, é claro, pelo filho/pai. Eles não estão desamparados, mas se encontram e se veem e se amparam uns nos outros. Não estão sozinhos. Em Joyce, pelo contrário, a estirpe (ou a sua lembrança) sinaliza a morte (pai e filho de Bloom; mãe de Stephen) e/ou a distância (filha de Bloom; pai de Stephen). De fato, a certa altura (capítulos quinze a dezessete), numa dessas típicas inversões joycianas, não temos Stephen/Telêmaco procurando pelo “pai” Bloom/Odisseu, mas o contrário, isto é, Bloom tentando proteger Stephen de gastar todo o seu parco ordenado em uma noite de esbórnia, evitando que seja preso e insistindo para que o rapaz durma em sua casa (convite que ele declina); ali, o que temos é um pai à procura de um filho, que no entanto se vai.
Similarmente, é possível contrapor o emocionante reencontro de Odisseu com Laerte, no canto final da Odisseia, à reminiscência (mais uma) de Bloom relativamente a seu pai, Rudolph, no décimo-sétimo (e penúltimo) capítulo do Ulysses.
No poema homérico, Odisseu prova ser quem diz que é mostrando a sua famigerada cicatriz na perna, “ferida / que no Parnaso o javali de alvos comilhos / gravou em mim, quando em visita à minha avó / e ao pai de minha mãe (…) / a fim de receber os dons que prometera me dar quando nasci” (XXIV, 331-336), e em seguida enunciando “as árvores / do pomar que me ofereceste um dia” (XXIV, 336-337). Ele recorre a lembranças familiares para reafirmar-se e aos laços inextrincáveis que os unem e os situam no mundo.
No Ulysses, temos a reafirmação não da estabilidade da casa e da família, sua reunião, mas a reiteração da instabilidade ancestral, própria da diáspora, e da solidão:
Rudolph Bloom (falecido) narrava para seu filho Leopold Bloom (6 anos de idade) um arranjo retrospectivo de migrações e acomodações em e entre Dublin, Londres, Florença, Milão, Viena, Budapeste, Szombathely (…). (JOYCE, 2012, p. 1020.)
Ao voltar para casa, Bloom não reencontra o pai cuidando do pomar e tampouco enxerga no filho a excelência que o caracteriza e à ascendência de ambos, não se encontram todos no chão firme do lar; o pai, ali, é uma reminiscência que remete ao solo acidentado de frequentes “migrações e acomodações”, de uma cidade a outra, de um país a outro, sem um lugar que pudessem chamar de “lar”; e o filho, ora, morreu muito antes de ombrear com seu progenitor, constituindo uma ausência, como vimos, das mais dolorosas.
5. O romance em seu mutismo
Em sua odisseia pedestre, quando alude à passagem do tempo, Joyce não o faz recorrendo à experiência, até porque no lugar desta só sobrou o vazio, um enorme vão, mas, sim, compaginando-se à linguagem, ao romance em si, levando ambos ao extremo, formalmente falando. Insere-se, aqui, um paradoxo interessante: o autor extrapola os limites da sua forma de expressão (o romance) justamente para reiterar a impossibilidade de expressar ou comunicar o que quer que seja. O romance grita o seu mutismo. Não por acaso, no Ulysses (especialmente no sexto capítulo), observa-se a estrutura fragmentária e errática, alquebrada, em que as vozes se atropelam, vagueiam, e os defuntos (pai, filho, Dignam) parecem se amontoar, esvaziados, na consciência de Bloom.
Na Odisseia, como vimos, o herói desce ao Hades em busca de conselho. No lugar em que ficam os mortos, não há vida (pois não há “vida após a morte”). Ali, os mortos não “vivem”, mas remontam incessantemente à vida que tiveram. O Hades serve a uma delimitação entre as duas esferas, sendo imprescindível assegurar não só a divisão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, mas também a sua não “contaminação” mútua. No entanto, mesmo morto, Tirésias ainda tem algo a dizer a Odisseu. Um conselho, a indicação de um caminho, uma estratégia que permita a ele, enfim, voltar são e salvo para Ítaca, para casa.
Bloom, por sua vez, vai ao cemitério para o enterro de um conhecido, Dignam. Não parece haver qualquer delimitação entre as esferas. Os mortos contaminam os vivos. Eles se fazem presentes, povoando os pensamentos de Bloom, lançando-o num redemoinho de lembranças. Ele está cercado: “Tons da morte pairando aqui com todos os mortos esticados em volta” (JOYCE, 2012, p. 235). A medida de um homem também é dada por seus mortos. Pai e filho acompanham Bloom até o cemitério e também esperam por ele ali. Ambos o acompanham por toda parte. Vivemos à sombra dos que partiram porque nos sabemos lançados nesse sentido, também. Bloom, ao menos, parece saber. É como um lembrete dos mais dolorosos. Os que partiram. A dor contingenciadora da perda, a meia-noite obscurecendo o antes e o depois. Bloom segue vivendo, caminhando. Mas é um caminhar que eventualmente fraqueja em sua precariedade, sobretudo ao se perceber ali, cercado por túmulos, os cadáveres (seus e alheios) pendendo, de certa forma infensos à cabeça: “Jardins sombrios então vieram, um por um: sombrias casas” (idem, p. 224).
A descida ao Hades de Bloom não é bem uma descida, portanto, e pouco tem a ver (nesse sentido) com a descida de Odisseu. É o Hades que parece ascender até ele. Bloom, contudo, não ouve ninguém (exceto a própria memória), não tem diante de si um Tirésias para vaticinar e aconselhar, para lhe apontar o caminho de uma nova viagem, uma segunda odisseia que o levará(ia) para casa. Num dado momento, lemos: “A casa de um irlandês é o seu caixão” (idem, p.238).
Mas, no meio da morte, Bloom encontra-se na vida. O que há para ver ali é a própria precariedade refletida na precariedade alheia, sobretudo a do alheio que partiu. Em sua epopeia negativa, Joyce nos oferece a única morte possível para seu everyman Bloom: surda. Pois assim seguimos todos, “caindo num buraco, um depois do outro” (idem, p. 239).
O Hades seria algo como a extensão do domínio da morte. Na Odisseia, é uma extensão fixa, delimitada, inteira. No Ulysses, é uma extensão móvel, fragmentada, sem limites precisos, dispersa.
Lemos n’O narrador: “Quem escuta uma história está em companhia do narrador; mesmo quem a lê partilha dessa companhia. Mas o leitor de um romance é solitário” (BENJAMIN, 2012, p. 230). Não creio que seja o caso. O leitor de um romance, até pelo ensimesmamento absoluto no qual está enfronhado, ciente da inexorabilidade de sua solidão, está em companhia de seus mortos. Se “‘o sentido da vida’ é o centro em torno do qual se movimenta o romance” (idem, p. 229), talvez não seja absurdo conceber que a vida aponta para a morte, é este o seu “sentido”, e que o precário compartilhamento de solidões e a débil aceitação da impossibilidade de comunicar o que quer que seja constituem o terreno acidentado no qual trafega a forma narrativa moderna, em todo o seu mutismo vazio de experiência e sabedoria, em toda a sua perplexidade diante do abismo.
São Paulo, 2011/14.
…
BIBLIO
BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política – Ensaios Sobre Literatura e História da Cultura. 8ª edição revista. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet. Editora Brasiliense: São Paulo, 2012.
HOMERO. Odisseia. Tradução: Trajano Vieira. São Paulo: Editora 34, 2011.
JOYCE, James. Ulysses. Tradução: Caetano W. Galindo. São Paulo: Penguin/Companhia, 2012.
MCCARTHY, Cormac. A Travessia. Tradução: José Antonio Arantes. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.