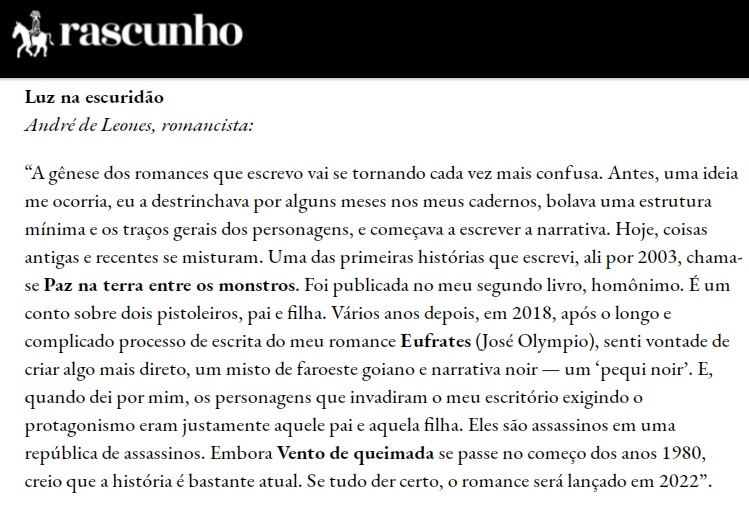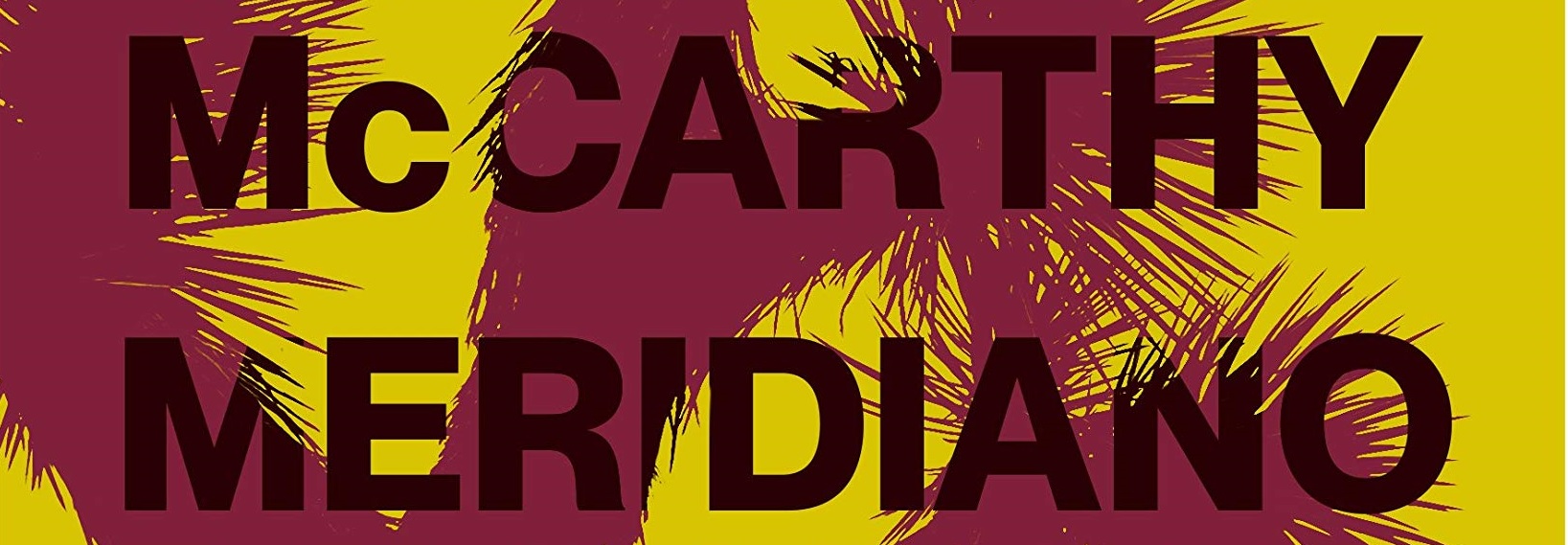Artigo publicado hoje n’O Popular.

Relendo Os Embaixadores, de Henry James (1843-1916). A excelente tradução é de Marcelo Pen, lançada pela Cosac Naify em 2010. Espero que alguma outra casa tenha adquirido os direitos da finada editora e se disponha a recolocar o livro nas prateleiras o quanto antes, pois ele é o mais importante da fase tardia do autor. A certa altura (primeiro capítulo da sexta parte), há a descrição de um pátio, trecho que, a meu ver, ilustra bem o estilo de James àquela altura da carreira.
“Ela ocupava, sua anfitriã”, ele começa (e aqui tomo a liberdade de engolir algumas palavras), “o primeiro andar de uma antiga residência ao qual nossos visitantes tiveram acesso por um pátio velho e bem cuidado. O pátio era amplo e aberto, cheio de revelações para nosso amigo sobre o costume da privacidade, o sossego dos espaços intermediários, a dignidade das distâncias e das aproximações (…)”. De fato, a prosa elegante e amiúde elusiva de James tem tudo a ver com o “sossego dos espaços intermediários” e com “a dignidade das distâncias e das aproximações”.
A sutileza de suas construções espelha à perfeição a sutileza das relações humanas ali observadas. Há um prazer evidente em circular por esse universo fadado à destruição, como alguém que caminhasse pelas ruas de uma cidade cuja devastação se aproxima e da qual esse “passeador” está ciente. Mesmo assim, a despeito dessa consciência da destruição, não se trata de um prazer estrangulado ou sequer nostálgico no sentido mais vulgar da palavra, aquele passadismo lamurioso ao qual tantos se entregam sem, contudo, refletir para valer sobre o que passou e o que ficou.
Strether, o protagonista de Os Embaixadores, é um norte-americano que vai a Paris para tentar convencer seu (talvez) futuro enteado a voltar para os EUA. Não entrarei nos detalhes dessa viagem. Para os meus propósitos aqui, basta dizer que Strether já esteve em Paris muitos anos antes, e que sua redescoberta da cidade equivale à descoberta de si. A beleza, em James, reside nas filigranas, nos gestos incompletos, naquilo que é apenas sugerido. Não por acaso, dada a força desse estilo, o crítico e historiador literário Ian Watt dedicou um ensaio inteiro “apenas” ao primeiro parágrafo da obra (esse ensaio consta da edição da Cosac e pode ser encontrado na internet).
Após descrever o pátio, na passagem que citei acima, James passa à casa e, por meio dela, à cidade, ou ao que a cidade significa para o protagonista. Embora narrado em terceira pessoa, o romance está sempre “grudado” em Strether: é por meio dele que sabemos (ou não, o que é mais frequente) o que acontece, e é apenas dele que conhecemos os pensamentos, sentimentos e pressentimentos — exceto, é claro, quando outro personagem expressa isso ou aquilo na presença dele.
Para o “espírito inquieto” de Strether, a casa “correspondia ao estilo nobre e despretensioso dos dias de antanho” e à “velha Paris da qual ele estava em perpétua procura — cuja presença às vezes sentia de modo intenso, cuja falta ainda percebia com intensidade ainda maior”. A questão não é a cidade, mas o indivíduo e o que ele procura, sim, perpetuamente.