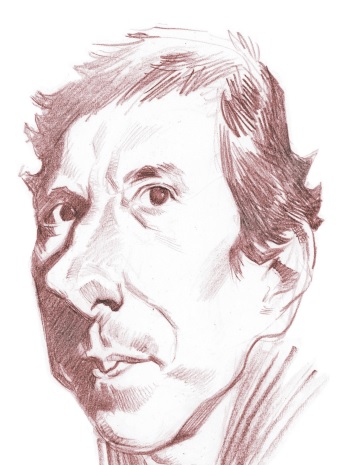Resenhei Discurso sobre a metástase, de André Sant’Anna, para a edição de hoje do Pensar, lá n’O Estado de Minas. Leia AQUI ou AQUI (PDF). A ilustração é de Quinho, publicada na edição impressa do jornal.
Sant’Anna no Pensar
Newsletter
Criei uma newsletter, Elpênor em queda. Clique AQUI para assinar ou preencha o formulário abaixo. E leia a primeira edição AQUI.
Contra a realidade
Artigo publicado hoje n‘O Popular.
Confesso que ri bastante ao ler que a XP Investimentos mudará a metodologia das pesquisas eleitorais que encomenda ao Ipespe todos os meses. O motivo é que a reiterada aferição do derretimento de Jair Bolsonaro incomoda os clientes bolsonaristas da empresa. A mudança da metodologia vai diminuir ou mesmo anular o desprezo que a maioria dos brasileiros nutre pelo presidente? Óbvio que não. Mas o caso é exemplar porque demonstra pela enésima vez que a briga dos bolsonaristas é com a própria realidade.
Em sua maioria, eles vivem em uma bolha forrada de mentiras e asneiras delirantes. E uma coisa que aprendemos nos últimos anos é que a disposição para mastigar e engolir o chorume ideológico produzido pelo pior presidente da história brasileira independe de classe social e formação intelectual. Semanas atrás, na fila para tomar a primeira dose da vacina, uma advogada me disse que contraiu Covid e não teve sintomas graves porque tomou cloroquina. Como se vê, confundir correlação com causalidade não é privilégio de analfabetos funcionais. A miséria cognitiva é democrática.
Claro que nem todos os bolsonaristas são desinteligentes. Muitos são oportunistas, julgam ter mais a ganhar do que a perder com o desgoverno em curso. Embora formado em medicina, Marcelo Queiroga, atual Ministro da Saúde, não corrigiu os seguidores que postaram tolices nas redes sociais, como: “tomou as duas doses da vacina, usou máscara, mas se contaminou”. Queiroga está cumprindo quarentena em Nova York, isolado em um hotel de luxo (às nossas custas), depois de contrair o coronavírus durante a Assembleia Geral da ONU, entre um gesto obsceno e outro. Não sei vocês, mas eu aprendi no ensino fundamental que nenhuma vacina impede a pessoa de contrair o que quer que seja; o que as vacinas fazem é evitar que os imunizados desenvolvam formas mais graves das doenças.
Queiroga fez pior do que se calar diante do desfile de ignorância e canalhice dos seguidores: ele repostou no Instagram (e depois apagou) um desses “questionamentos”, chancelando, assim, a mentira inerente ao negacionismo. Acaso vivêssemos em um país sério, o Conselho Federal de Medicina obrigaria Queiroga a se retratar. Mas o problema é que o próprio CFM tem agido de forma pusilânime desde o início da pandemia — não é por acaso que, em seu grotesco discurso naquela mesma Assembleia Geral, Bolsonaro tenha citado o CFM no mesmo fôlego com que voltou a defender tratamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid. Ter um presidente que se esmera em delinquir “autoriza” os outros a também delinquir. Forma-se uma cadeia de maus exemplos e péssimas atitudes. O descuido, a grosseria e o crime são normalizados.
Suponho que o CEO da XP e seus sensíveis clientes bolsonaristas não sejam tão afetados pela inflação e pela incompetência de Bolsonaro quanto a maior parte dos brasileiros. Nem todos podem se dar ao luxo de olhar para o outro lado ou tapar o sol com a peneira. Muitos estão abandonados, entregues à aflição e ao desespero, sem trabalho e sem ter o que comer. A real percepção de que o país está arruinado não aumenta ou diminui conforme a “metodologia” das pesquisas. Mentiras não enchem a barriga de ninguém.
Devolvendo a espingarda para Hemingway
Conto originalmente publicado na São Paulo Review em 09.11.2015.
1.
O que é que eu posso dizer? Gosto de atirar nos pombos. Eu gosto, e pronto. A minha mulher acha um horror, fica toda histérica quando me vê pegando a espingarda, escancarando a janela ou ajeitando a escada para subir no telhado, os desgraçados gostam de se reunir lá em cima e arrulhar e empestear a porra toda. São uns bichos nojentos, e poucas coisas me fazem tão bem quanto mirar no mais gordo da turminha e engatilhar e atirar. Quando acerto em cheio – e, modéstia à parte, eu acerto em cheio em noventa e nove por cento das vezes –, o desgraçadinho explode numa festa de sangue e penas, e eu me sinto verdadeiramente realizado. E daí que a patroa está lá embaixo berrando, me chamando disso e daquilo, dizendo que os vizinhos vão reclamar, Ketchum é uma cidade pequena e não sei mais o quê? Tem coisas que as mulheres não entendem. E quais são essas coisas? Bem, pela minha experiência, são justamente as coisas mais importantes. Ela que se foda. Pombos são bichos nojentos. E eu gosto de atirar neles.
2.
Fui pescar outro dia com um conhecido nosso, um sujeito enorme que já viajou pelo mundo inteiro e agora, tenho que dizer, parece meio acabado. Minha mulher diz que é escritor. Ele não me diz porra nenhuma sobre isso, graças a Deus. A gente fala de outros assuntos ou só fica lá, calado e bebendo, o que, aliás, é a melhor coisa que um homem crescido pode fazer: calar a boca e encher a cara. A casa dele tem uma vista muito bonita, dela você vê o vale com o rio Wood, e eu gosto de ir pra lá, a gente se senta ali fora, quando não está muito frio, conversa um pouco e bebe um monte e fica contemplando a paisagem. É sempre bom. Volto pra casa relaxado. O velho Ernest anda meio acabado, como eu disse, mas sempre me tratou bem, e a mulher dele, Mary, parece gostar quando eu apareço, como se eu ajudasse a distrair o sujeito do que quer que esteja incomodando aquela cabeçorra branca dele. Outro dia eu falei pra minha mulher, vai que é ela que está incomodando o desgraçado, e ri, mas a infeliz não achou muita graça. O que eu fiz? Peguei a espingarda e fui atirar nuns pombos. Acertei dois em cheio sem fazer muito esforço, eles são uns animais meio burros. Depois, bebi mais um pouco e resolvi tirar um cochilo. A vida não está fácil, vocês sabem. Quando acordei, a mulher tinha detonado a minha espingarda com uma marreta. Só não matei a filha-da-puta porque uma vizinha veio acudir. Contei tudo isso pro Ernest quando a gente foi pescar, ele soltou um grunhido e falou que ia me emprestar uma espingarda, desde que eu não usasse o troço pra matar a minha mulher. Ele consegue ser engraçado, às vezes. E eu aceitei a oferta, é claro, dizendo que ia usar só por umas duas semanas; quando a minha mulher recebesse, ia pegar a grana com ela e comprar uma espingarda nova (ela não gostou da ideia, mas acho que me ver com a porra da marreta na mão, bem, acho que isso convenceu a cretina a me ressarcir, sabe como é).
3.
Os dias passaram rápido, e fiquei bem surpreso porque eu não tive de lembrar a fulana de me dar o dinheiro. Comprei uma Stoeger de cano duplo e fui devolver a do Ernest. Ele estava sentado na cozinha, metido num roupão, e acho que devia estar bebendo desde cedo. Coloquei a arma em cima da mesa e falei, comprei uma nova hoje, vim devolver a sua. O desgraçado me encarou de um jeito esquisito. Que foi?, perguntei. Ele balançou a cabeça e agradeceu, disse, você veio em boa hora, vou mesmo precisar dela. Ué, eu falei, se tava precisando, era só ligar, eu te devolvia no ato. Não, ele encolheu os ombros, nada assim urgente. Eu me sentei ali com ele e a gente passou o resto da tarde enchendo a cara. Teve um momento em que ele olhou pra espingarda e depois pra mim, e os olhos dele se encheram de lágrimas. Cê tá bem?, perguntei. E ele me disse uma coisa bem estranha: você veio aqui pra me matar. Eu comecei a rir, como assim, porra?, mas ele insistiu nessa história por um tempo, e depois pediu desculpas, disse que andava meio paranoico. Minha mulher tinha falado alguma coisa sobre ele ter sido hospitalizado uns meses antes, mas eu achava que era por causa da bebida. Caralho, até eu precisei dar um tempo na enfermaria certa vez. Depois, ele disse que ia fazer um piquenique no dia seguinte, ele e Mary, e eu falei que era uma boa, piqueniques ajudam a relaxar. Quando fui embora, já estava escuro, e a última coisa de que lembro é do velho Ernest metido naquele roupão espalhafatoso, sentado na cozinha, os dois braços sobre a mesa, as mãos ao redor do copo, olhando pra espingarda largada ali em cima como se esperasse ouvir alguma coisa dela, algum segredo, alguma novidade, qualquer coisa, mas os dois canos da desgraçada continuavam mudos feito Deus.
Mapa da dor
Conto originalmente publicado no Blog do IMS em 02.03.2017,
inspirado pela imagem abaixo¹.
No dia em que levei meu pai para a frente do pelotão de fuzilamento, ele me disse que, entre os seus pertences, havia um livro surrado e, dentro dele, uma fotografia. “Seus pertences serão queimados junto com o seu corpo”, eu retruquei. “Eu sei”, ele disse, “mas, por favor, guarde a fotografia, fique com ela.” “Por quê?” “Você saberá quando vir.” Eu me afastei sem dizer mais nada. Estava tudo pronto. Ele gritou alguma coisa incompreensível, tudo o que ele disse a vida inteira me soava incompreensível, e foi com certo alívio que o observei ser vazado pelos tiros. Ordenei aos soldados que jogassem o corpo na carroça junto com os outros, todos seriam queimados logo mais, e que trouxessem o próximo e dessem prosseguimento aos fuzilamentos, sem descanso. “Quantos faltam?”, perguntei ao sargento. “Quarenta e oito, senhor.” “Tragam de cinco em cinco. Daqui a pouco escurece. Não podemos perder tempo.” Não era seguro fuzilar lá fora, no local onde os corpos seriam queimados, o que só nos dava mais trabalho. Saí do pátio pensando que, não fosse pelo cheiro, eu os queimaria ali dentro mesmo, uma pilha enorme ardendo noite adentro. Segui pelo corredor que levava às celas. Desde o dia em que meu pai fora preso e eu o visitara ali, não o vira mais. “Você vai morrer”, eu dissera na ocasião. “Eu sei.” “Claro que vão te interrogar antes.” “Eu sei.” “Sugiro que diga o que sabe.” “Vocês não vão arrancar nada de mim.” Mas, ao ser interrogado, entregou algumas posições e esconderijos depois que lhe arrancaram o polegar e o indicador da mão esquerda, os companheiros cercados e (os que sobreviveram) presos na noite seguinte. A porta da cela estava aberta e os pertences, jogados sobre a cama: uma Bíblia, um caderno repleto de anotações em uma língua que eu desconhecia, um toco de lápis e o tal livro, Titus Andronicus, que peguei e folheei ao acaso. Havia passagens sublinhadas. Mapa da dor, que fala por sinais, / Mesmo que o coração lhe bata louco / Não poderá dar golpes para acalmá-lo. A fotografia estava numa página em que ele circulara com força a seguinte frase: Rezem ao diabo; os deuses desistiram de nós. Joguei o livro no chão, com força, sentei-me na cama, respirei fundo e passei a observar a foto. Lá fora, no pátio, mais tiros, mais corpos. Por que meu pai queria que eu ficasse com aquilo? Não havia nada escrito no verso. Engraxates num cenário urbano e empoeirado que logo reconheci, ocupados com um jogo de bolinhas de gude. À direita, cortada ao meio por um poste, uma carroça com seu condutor em pé, ao que parecia fustigando o cavalo ou, olhando melhor, talvez não, talvez o homem olhasse para o grupo ali reunido, um braço erguido, como se acenasse ou chamasse alguém. Então me fixei na roda de jogadores e espectadores. As roupas sujas. Os chapéus, os bonés. Alguns descalços. Uns sujeitos observando bem de perto, lado a lado, um deles meio escondido pelo primeiro. Dois garotos agachados, envolvidos no jogo, e um terceiro como que prestes a se agachar, os olhos fixos no que acontecia. Outro, contudo, olhava não para o chão, mas adiante, como se prestasse atenção na conversa dos sujeitos, a caixa de engraxate presa às costas tapando o rosto de um menino negro, sentado logo atrás. Havia também um garoto à direita, ao lado dos sujeitos; a exemplo do outro, também não olhava para o chão, ignorando o jogo, mas parecia olhar além, o rosto virado para o lado contrário ao da lente, fitando a calçada pela qual, longe, uma mulher caminhava na direção deles. Foi quando me ocorreu. A mulher. Sim. Por mais distante e desfocada que estivesse. Era ela, só podia ser. Levantei-me no momento em que mais tiros se fizeram ouvir, as mãos trêmulas, e saí para o corredor. Um prisioneiro choramingava na cela vizinha. Outro parecia rezar mais ao fundo. O ar no corredor era pesado e úmido. Assim que voltei ao pátio, um sargento veio me dizer que a carroça estava lotada e a outra que mandara buscar ainda não tinha chegado. “Sigam com o trabalho mesmo assim”, eu disse. “Amontoem os corpos naquele canto, junto ao muro. Qualquer coisa, usamos a mesma carroça, descarregamos e carregamos de novo.” Ventava forte. Atravessei o pátio ainda olhando para a fotografia, distraído. Onde será que ele a encontrara? E como soubera? Eu a imaginei seguindo pela calçada e se aproximando do grupo de meninos, contornando para não atrapalhar o jogo, talvez sorrindo para um deles. Parei ao lado da carroça. Agora havia outros três ou quatro corpos atravessados sobre o meu pai, mas seu rosto e parte do tronco ainda eram visíveis. Um dos tiros lhe acertara o pescoço. Vi outros furos no peito. O braço esquerdo estava estendido, a mão mutilada pendendo para fora. Mapa da dor, que fala por sinais. Eu me debrucei e meti a fotografia sob a camisa empapada de sangue. “É sua.” Endireitei o corpo e olhei para trás no momento em que o sargento se aproximava. “A outra carroça quebrou a um quilômetro e meio daqui, senhor. Vieram correndo me contar.” Respirei fundo. “Sem problemas. Leve e queime esses aqui, depois volte para buscar mais.” Afastei-me enquanto ele chamava alguns soldados para ajudá-lo e gritava para que abrissem o portão. Alguns metros à frente, o pelotão apontou os fuzis para a leva seguinte de condenados. Por alguma razão, fechei os olhos antes que atirassem.
…………
¹ Vincenzo Pastore. Meninos engraxates jogando bola de gude. São Paulo, SP. Circa 1910.
Granada
Conto originalmente publicado na Pessoa em 14.12.2019.
Murder would also be suicide.
— William H. Gass, Omensetter’s Luck.
Bruno viu como o tio a empurrou escada abaixo, viu o movimento ligeiro do antebraço contra as costas da mulher, viu o ombro esquerdo se pronunciando à frente em uma coreografia similar à do zagueiro faltoso ao deslocar de forma desinteligente o atacante adversário diante de uma bola alçada na área e dos olhos incrédulos dos circundantes, uma clara penalidade, embora ali, naquela parte do navio e àquela hora do dia, não houvesse — não devesse haver — quaisquer testemunhas. Vindo pelo corredor, as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta jeans, pensando na revista em quadrinhos que ia buscar na cabine, Bruno também viu os braços da tia se abrindo e ouviu o grito curto e agudo e algo infantil, e então o corpo dela desapareceu como se engolido por um alçapão.
Óbvio que o tio jamais imaginaria que Bruno estava logo ali, doze passos atrás, pois deixara o menino lá em cima, no convés, jogando conversa fora com Otto, a paciência do sujeito era mesmo ilimitada, horas ouvindo sobre filmes e enlatados e histórias em quadrinhos, sentia até uma certa pena e chegara a pedir a Bruno que desse um tempo, não precisa passar o dia inteiro grudado no infeliz, por que não arranja outra coisa pra fazer? Pouco antes de empurrar a esposa, enquanto se aproximavam do lance de escadas, olhou para trás a fim de se certificar de que estavam mesmo sozinhos, de que o momento era aquele, agora ou nunca, tão nervoso quanto no dia em que a pedira em casamento (afastou essa lembrança o mais rápido que pôde), e Bruno ainda não havia apontado no outro extremo do corredor, o lugar deserto e silencioso, repleto daquela fantasmagoria que talvez tenha tornado a decisão e o gesto mais fáceis. Após o empurrão, ficou parado por alguns segundos no topo da escada, olhando para o corpo que se debatia contra o metal, os mesmos segundos durante os quais Bruno, tendo visto o que vira, testemunhado a coisa, hesitou entre correr para acudir a tia e dar meia-volta. Por fim, olhos arregalados e coração aos pulos, ele optou por dar o fora e, em questão de instantes, estava trancado em um banheiro, trêmulo e sem a menor ideia do que faria a seguir. Ali ficou por quinze minutos, com medo de que o tio soubesse, com medo de que ele o tivesse visto e agora estivesse em seu encalço, pronto para também empurrá-lo do alto da escada, estrangulá-lo com os cadarços ou atirá-lo no mar. Quando se acalmou um pouco e conseguiu sair, olhou ao redor e não percebeu nenhuma movimentação suspeita ou anormal, nenhuma agitação, nenhum alarme, nenhuma correria. Respirou fundo, reuniu alguma coragem e retornou ao local do empurrão. Ninguém. Subiu, então, ao convés. Tranquilíssimo, o oceano ignorava todo aquele drama. Bruno sentiu uma súbita vontade de xingar o mar, cuspir nele.
— Ei! Onde você se meteu?
Olhou para Otto, parado à sua direita com as mãos para trás feito um padre ou alguém algemado, e tentou dizer alguma coisa. Não conseguiu. A tontura que sentiu ao gaguejar diante do amigo não era um enjoo qualquer, mas como se o navio não tocasse mais as águas do oceano, suspenso por uma mão gigantesca que, a qualquer momento, fosse virá-lo de cabeça para baixo, e todos morreriam afogados. Quando deu por si, estava sentado em uma espreguiçadeira, Otto agachado à sua frente com uma expressão preocupada no rosto, que diabo está acontecendo com você, garoto?
— Eu… ele, meu… ela foi e…
— Você está se sentindo mal? Vou chamar o médico.
— Não, eu… espera.
Bruno se afeiçoara a Otto desde o primeiro dia do cruzeiro, quando toparam ali mesmo no convés e jogaram conversa fora por um bom tempo, o menino atraído pelo porte do sujeito, um norte-americano de cara comprida e ombros largos, cabelos cortados à escovinha e um rosto que parecia incapaz de esboçar um sorrisinho que fosse.
— Nossos cabelos são iguais — Bruno comentou naquele dia. — O senhor é soldado?
A princípio, Otto tentou se desviar da saraivada de perguntas que se seguiu à resposta (fui um marine), desvencilhar-se do menino, não embarcara naquele navio para ficar de conversa fiada com um moleque de oito anos, queria apenas ser deixado em paz e espairecer por uns dias antes de voltar à terra firme e decidir o que faria da vida, mas havia algo no brasileirinho, algo que ele provocava, uma certa identificação, talvez, eu não era um pouco assim quando criança? Falastrão, carente, curioso? Lembrou-se do dia em que o pai voltara manquitolando da Coreia e, depois de mostrar as medalhas (Coração Púrpura, Estrela de Prata), sentou-se à mesa da cozinha, encheu um copo com leite até a borda e, diante dos olhares da mulher e do único filho, abriu um sorriso e disse que poucas coisas são tão boas quanto um copo cheio de leite bem gelado, não é mesmo? Depois de beber tudo em três ou quatro goles, ele ignorou as perguntas de Otto, dizendo que não falaria sobre a porcaria da guerra, pediu à mulher que, se possível, fizesse costeletas para o jantar e desandou a falar dos Cardinals — este, sim, um tópico aceitável, dos poucos que discutiria com o filho sempre que possível e até o fim da vida.
— Você está branco — disse Otto, a mão no ombro direito de Bruno. — Sua pressão baixou? Está enjoado?
O menino concordou com a cabeça. — Eu… tudo bem, já estou melhorando.
— O que aconteceu?
— Minha tia, ela… ela… um tombo e…
— Tombo? — havia certas palavras cuja sonoridade arredondada Otto apreciava bastante, mesmo após seis anos e meio no Brasil, e adorava repeti-las. — Ela levou um tombo?
— É, ela…
— Onde?
— Na escada, indo… perto das cabines ali… embaixo, ela…
Correram para a enfermaria. O tio não disfarçou a surpresa com a chegada repentina dos dois: — Como é que vocês?…
— Como ela está? — Otto perguntou. — E o bebê?
Encarou o sobrinho, que desviou os olhos para o chão. — Estão cuidando dela. Acho que quebrou um braço e… mas o bebê, ele…
Bruno levantou os olhos.
O tio forçou um sorriso. — Parece que foi só um susto e… está tudo bem com o bebê.
— Graças a Deus.
— Sim, foi bem…
— Ela caiu da escada?
— Caiu. Tropeçou e caiu.
— Nossa, eu…
— Pois é.
— Essas escadas são traiçoeiras.
— Nem me fale.
— E é um milagre que ela não tenha se machucado mais e…
— Sim, sim, um milagre. Escuta, Otto. Você se importa de ficar com o Bruno até… até a gente… eu não sei quanto tempo e…
— Claro. Sem problemas.
— … eu não sei quando é a gente vai sair daqui. Ela deve ficar em observação.
— Não se preocupe. Eu fico com ele.
Foram para a cabine de Otto, que fazia o possível para animá-lo, viu só? Um susto, mais nada. Agora vamos relaxar um pouco. Mas, sentado na cama, Bruno começou a chorar. Como explicar o que vira? Era uma coisa muito séria, muito grave. Criminosa. Otto tinha sido um soldado, e soldados prendiam ou matavam criminosos. Era para isso que serviam. Mas Otto não era um soldado brasileiro. Otto nem era mais soldado, na verdade. Ex-soldados americanos podiam prender criminosos brasileiros? Talvez nos Estados Unidos. E talvez ali onde estavam. No mar. As leis são diferentes no mar? Otto tinha lutado em uma guerra, e o pai de Otto tinha lutado em outra guerra. Será que o avô de Otto também lutou em uma guerra ainda mais antiga? E o filho de Otto, lutaria em alguma guerra no futuro? Otto não tinha filhos, mas poderia ter, pois era casado. Ou não, porque a mulher dele tinha ido embora. Mas ele podia se casar outra vez, com outra mulher. Não era isso que o pai ia fazer? Mas como falar a respeito do que vira? Otto entenderia? E se estivesse enganado? E se o movimento do tio fosse outro, não de empurrar a tia, mas de perceber que ela se desequilibrara e tentar segurá-la, impedir a queda? Sentado a uma cadeira ao pé da cama, Otto ignorava o choro de Bruno, queria dar espaço para o amigo e sabia muito bem que não havia nada que pudesse fazer ou dizer. Olhava, distraído, para a janelinha acima da cama, bebendo bourbon do cantil metálico que sempre levava no bolso interno do paletó. Bruno achava impressionante que ele bebesse tanto e, exceto pela fala um pouco mais arrastada e pela vermelhidão do rosto, continuasse mais ou menos do mesmo jeito. O tio se transformava. Os pais se transformavam. Todo adulto que ele conhecia virava outra pessoa depois de três ou quatro doses. Todo mundo, exceto Otto. Talvez porque fosse um ex-soldado.
— Vai ficar tudo bem — Otto disse, afinal. — Sua tia, o bebê. Todo mundo. Tudo muito bem. Você vai ver.
Bruno fez que sim com a cabeça, com veemência, não porque concordasse com o amigo, mas para espantar o choro de uma vez por todas. Esfregou os olhos e se recostou na parede, as pernas esticadas sobre o colchão, pés suspensos. Olhou para a mala aberta à direita, colada à cabeceira da cama. Dentro dela, a pequena bolsa preta. Otto abrira a mala quando entraram na cabine, guardara alguma coisa lá dentro, em meio às roupas, mas se esquecera de fechá-la.
— Não tem perigo dela explodir?
— Hein? Ah. Não, não. Fica tranquilo. Perigo nenhum. Zero perigo. Palavra.
— Por que você…
Otto bebeu mais um gole e olhou para o menino. — O que você gosta de fazer quando está em casa?
— Ver televisão.
— Televisão. Televisão é bom. Distrai. O que você gosta de ver?
— Spectreman.
— Aquele seriado japonês?
— É. Também gosto do Tarzan.
— Tarzan é bom. Eu lia as histórias quando tinha a sua idade. Lia bastante, via bastante televisão. Meu pai estava sempre fora. Minha mãe também.
— Por quê? Por causa do trabalho?
— Meu pai, sim, meu pai era vendedor, do tipo que viaja muito. Depois que voltou do exército. Acho que ele não aguentava ficar parado num só lugar. Precisava ficar em movimento, sabe? Indo de um lado pro outro, de cidade em cidade. Ele se gabava de conhecer o país inteiro. Ele dizia: fala o nome de uma cidade. Eu falava e ele descrevia como era, onde ficava, como chegar lá, tudo isso. Era incrível.
— Meu pai também viaja muito.
— Sim, sim, você comentou. Minha mãe era enfermeira e trabalhava bastante, também. Às vezes, ela trabalhava a noite inteira.
— E quem cuidava de você?
— Ah, sempre tinha alguém. Minhas primas mais velhas, alguma vizinha. Sempre tinha alguém. Minha mãe pagava, sabe como é, e alguém ficava comigo. E depois o tempo passou e eu fiquei grandinho, não precisava mais disso.
— Minha mãe só trabalha em casa.
— Deve ser uma coisa boa.
— O quê?
— Ter a mãe por perto.
Bruno encolheu os ombros.
— Bom. Olha só. Eu tenho um plano. Você quer ouvir o meu plano?
— Quero.
— Vou tomar banho. Por que você não vai lá na sua cabine e toma um banho também? Daí a gente sobe junto pra jantar.
— Esse é o plano?
— Esse é o plano.
Bruno encolheu os ombros outra vez. — Pode ser.
— E tem a segunda parte do plano: depois do jantar, a gente visita a sua tia.
— Pode ser.
— Daqui a uma hora?
— Pode ser.
— Te espero aqui, então.
Ele ficou alguns minutos no corredor. Deixara a porta apenas encostada ao sair, sem que Otto percebesse. Calculou quanto tempo o amigo levaria para tirar a roupa, dar uma cagada, ligar o chuveiro. Esperou por cinco minutos, e só então readentrou a cabine. No banheiro, o som do chuveiro aberto. Calculara certo. Foi até a mala e pegou a bolsinha. Abriu o zíper. Uma pistola, dois pentes de munição e a granada. Na noite anterior, um Otto completamente bêbado mostrara como fazer. Mesmo que ele não tivesse feito isso, Bruno achava que não haveria problema. Vira incontáveis vezes na televisão. Claro que, se Otto não tivesse mostrado, ele não saberia que ali dentro daquela bolsinha havia uma granada. Como é que deixavam Otto andar por aí com uma coisa dessas? Ele não era mais soldado. Mas ali estavam: a granada na mão e o modo de usar gravado na cabeça. Otto fora muito didático. Está vendo isso aqui? É o pino. Você puxa ele assim, ó. Está vendo? Eu vou tirar e depois colocar outra vez. Não precisa ficar com medo, não vai explodir. Olha. Você tira o pino desse jeito. Presta atenção. Daí espera um pouquinho, uns dois segundos, joga na direção do inimigo e se protege. Bum. Agora deixa eu colocar isso de volta. Isso. Viu? Sem problema. Me passa a garrafa, por favor? Como era mesmo a palavra que ele usara? Estilhaços. Sim, Otto explicara, você já viu filmes de guerra? As pessoas morrem por causa dos estilhaços. A granada explode e vira um milhão de estilhaços. E os inimigos morrem. Quem estiver perto morre. Melhor não ficar perto. Melhor se proteger. Porque a granada explode, bum, os estilhaços voam, rasgando tudo, e fim de papo.
— Fim de papo — Bruno repetiu agora. Guardou a granada no bolso da jaqueta, depois fechou a bolsinha e a recolocou na mala. No banheiro, Otto tossiu uma, duas, três vezes. A garrafinha não estava à vista. Será que ele bebia até debaixo do chuveiro? Saiu da cabine com o coração apertado, mas Otto era ex-soldado, não seria difícil arranjar outra granada.
Andando com pressa pelo corredor, cabisbaixo, lembrou-se dele e do tio conversando dias antes, os quatro à beira da piscina. Bruno achava engraçado isso de ter uma piscina dentro de um navio, com aquele tanto de água ao redor. Questão de segurança? E também não seria possível o navio parar a todo momento para que as pessoas pudessem nadar, jamais chegariam a lugar nenhum se fizessem isso. O tio perguntava há quantos anos Otto vivia no Brasil e que tal era trabalhar no consulado. É tranquilo, Otto dizia, tranquilo até demais, mas não posso reclamar. O que você faz lá? Fico atrás de uma mesa, mexendo com papelada o dia inteiro. Bruno gostava de imaginar que Otto era um espião, mas o americano rira ao ouvi-lo sugerir algo nesse sentido. Era melhor quando estavam só os dois. O tio era muito, muito chato, mas não incomodava Otto com muitas perguntas porque preferia falar sobre si mesmo, sobre quando estudara na Inglaterra e depois na Alemanha, você não faz ideia do quanto é difícil a vida de professor no Brasil, meu caro, eu devia era ter dado um jeito de continuar na Europa. Mas, claro, aqui e ali pipocavam algumas perguntas de forma meio desinteressada. Não, Otto não sabia nada de filosofia. Não, Otto nunca pensou em retomar os estudos, fazer um doutorado ou coisa parecida, aquilo simplesmente não era para ele. Não, a mulher de Otto também não sabia nada de filosofia, ela era tradutora (francês, português) e tinha voltado para o Missouri meses antes, no final de abril, pouco depois do enterro do presidente. Não, Otto não sabia quando voltaria para os Estados Unidos, talvez em breve, talvez só dali a uns anos, era complicado e não dependia só dele. Sim, Otto gostava da vida e do trabalho no Rio, gostava do clima e das pessoas. Sim, Otto estivera no Vietnã. Embora tentasse disfarçar, o tio ficou incomodado quando Otto perguntou para quando era o bebê. Ainda faltam mais de três meses, a tia respondeu com um sorriso. Ele percebeu que havia algo de errado e não fez mais perguntas a respeito, nem mesmo dias depois, quando tomou aquele porre com o tio durante o jantar.
A verdade era que havia mesmo algo de errado, como demonstravam as discussões cada vez piores entre o tio e a tia. Piranha!, Bruno ouvira o tio berrar poucos dias antes do embarque. Queria voltar para casa, mas a tia explicou que ainda não seria possível, talvez no comecinho de janeiro, seu pai está viajando e a sua mãe tem umas coisinhas pra resolver, quem é que vai cuidar de você lá em Brasília?
— E a gente vai passar o réveillon no mar — a tia emendou, arregalando os olhos, procurando transmitir uma excitação que não estava lá. Era péssima atriz, mas Bruno gostava dela. Gostava de saber que se esforçava, pelo menos. Era mais do que a mãe vinha fazendo nos últimos tempos, depois que as viagens do pai se tornaram mais frequentes. — Não é o máximo?
— É. Acho que sim.
Certa noite, o tio chegou a socá-la na barriga. Bruno viu a tia caída no chão, aos prantos, encolhida. Acordara no meio da noite com a discussão, ela implorando, para, para com isso, por favor, você está bêbado, e ele:
— Quem, desgraçada? Quem?
Chegou à sala no momento em que o tio desferia o soco. Não conseguiu conter um berro, ao que o homem se virou e ordenou, apontando para o corredor escuro: — Volta pro quarto. Agora.
Não saberia dizer se a coisa terminou por ali, pois se trancou no quarto e meteu a cabeça debaixo do travesseiro. Não queria ouvir mais nada. Não aguentaria ouvir mais nada. Queria ir embora. Mas: tios, pais. Não tinha para onde ir. Não tinha para onde correr.
— E a gente vai passar o réveillon no mar.
Na manhã seguinte à noite do soco, o tio estava sozinho à mesa do café. Pediu desculpas pelo ocorrido, às vezes eu perco a cabeça, mas essas mulheres, elas põem a gente louco, sabia? — Vai saber quando for mais velho. Vai saber direitinho. Vai sentir na pele. Quer uma torrada?
— Cadê a tia?
— Descansando. A gente embarca depois de amanhã. Você já viajou de barco? Pode ser cansativo. Ela precisa descansar. Mas está tudo bem. Não esquenta a cabeça, tá bom?
Não houve resposta.
O tio levou a mão ao bolso da camisa, pegou e colocou três notas sobre a mesa, tapando-as em seguida; Bruno não conseguiu ver quantos mil cruzeiros eram. — Olha só. Me faz um favor? Não comenta sobre o que você viu ontem com o meu irmão.
— Eu nem sei onde o meu pai está.
— Nem com a sua mãe, tá? Aquilo foi um acidente. Um acidente, só isso. Não comenta nada. Com ninguém.
Ele pegou o dinheiro, mas só não disse nada porque não conseguiu falar com a mãe antes de embarcar. Mas talvez não comentasse mesmo se falasse com ela. Como explicar uma coisa daquelas?
Mantendo a mão direita no bolso da jaqueta, caminhou até a cabine que ocupava com os tios. Entrou sem bater porque imaginava que não haveria ninguém, mas lá estava o tio estirado na cama de casal, descalço, olhando para o teto, lata de cerveja encaixada na mão. As solas dos pés estavam meio sujas. Bruno contou nove latinhas espalhadas pelo chão. Vazias, amassadas. O homem não sorriu ao ver o sobrinho.
— Como… — pigarreou. — Como é que a tia está?
— Ela vai ficar bem — a voz alquebrada, os olhos ocos. Sua expressão desolada parecia comunicar uma má notícia. — Ela vai passar a noite sob observação.
— Que bom — os lábios de Bruno esboçaram um sorriso, mas não foram acompanhados pelo restante do rosto.
— Daqui a pouco eu volto pra lá. Ela não está falando coisa com coisa, mas o médico disse que isso é normal. Quer ir comigo?
— Pode ser — o arremedo de sorriso desaparecera. Bruno desviou os olhos para o lado.
— Que foi?
— Acho que esqueci a minha carteira na cabine do Otto. Vou lá correndo buscar.
— Não demora. Vou descansar só mais uns minutinhos.
— Não vou demorar, não.
Bruno saiu da cabine e parou no meio do corredor. Olhou para a esquerda, depois para a direita. Ninguém. Sozinho. Tirou a granada do bolso. Notou que estava tranquilo. Respiração normal, coração calminho. Olhou para a granada na palma da mão esquerda. Com as mãos firmes, sem hesitar, tirou o pino, virou-se, abriu a porta da cabine, jogou a granada lá dentro, fechou a porta e correu na direção da escada, a voz de Otto ecoando na cabeça:
— Melhor não ficar perto. Melhor se proteger.
………
Imagem: Hugo Simberg, Dança com a Morte (1899).
Necessidades
Um conto.
Cagar. O homem está sozinho, sentado à mesa, fuçando no telefone. Ele precisa cagar. O gabinete meio às escuras. Precisa muito cagar. Janelas e cortinas fechadas. Outra vez isso. Luzes apagadas, exceto por um abajur. Ele não aguenta mais. A noite avança lá fora. Cagar, por que é tão difícil cagar? Berros distantes, buzinaços. Os médicos disseram que. Panelas batendo? O que os médicos disseram? Sim, panelas, estão dizendo nas redes. Ora, o que os médicos sabem?
Canalhas, resmunga.
Mas ele precisa cagar. Mesmo. De verdade. De uma vez por todas. Deitar a mãe de todas as cagadas. Uma cagada-monstro. Uma cagada-brasil. Uma cagada-mundo. Uma cagada-china. Uma cagada escatológica. Ele não conhece várias dessas palavras. A única coisa que ele conhece é a necessidade/impossibilidade de cagar. Ele precisa cagar. Um pouco que seja. Um nada que seja. Bolinhas redondas e escuras, ressecadas. Merda de coelho. Qualquer merda. É isso, ou o fim. Acabar em merda. Soterrado pela própria merda. Não: entupido com a própria merda. Isso precisa ter um fim. Isso precisa terminar, findar, chegar. Acabar.
(Acabou, porra!)
Evacuar. Defecar. Bostar. Descomer. Obrar. Estercar. Borrar. Dejetar. Aliviar(-se). Sujar. Soltar um barro. Estrumar. Adubar. Bostejar.
Precisa, mas não consegue.
Sim, outra vez isso.
Tenta se distrair, respirar melhor. Mas é impossível se distrair, é impossível respirar melhor. Assim como está. Atulhado de merda. Merda, bosta, estrume, cocô. Tenta se distrair. Mas pensar em quê? Nos cavalos? É, nos cavalos. No gado. Até nos cachorros. Os bichos fazem parecer tão fácil. O cavalo que montou daquela vez, em plena Esplanada, cagando sem maiores problemas. Cagando em Brasília. Eu cavalgo, você caga. E se alguém me. Não. Impossível. Ninguém pode cavalgá-lo. Eu cavalgo, eu cago. Ele tem um exército. O meu exército caga, eu não cago. Todos os cavalos cagam. Todos os bois e vacas, todos os ministros, senadores, deputados, todos os juízes, até as porras dos juízes, até a porra daquele ex-juiz, todo mundo caga. Menos eu. Eu não cago. Eu tento e. Não. Negativo. Aquele cachorro que o dono veio buscar. Zeus. Não. Zeus, não. Zeus, porra nenhuma. Augusto. Augusto caga. As emas lá fora cagam. Todos os bichos, a mulher, a filha. Cagando, todo mundo cagando direito. Os canalhas ao redor da praça, nos outros prédios e gabinetes. Todo mundo caga. Até os bostas desses jornalistas. Cagando entre uma mentira e outra. Cagando enquanto mentem. E as porras dos índios lá no acampamento. Sim, os índios também cagam. Ele viu os banheiros químicos instalados. Pra que tanto conforto? Os putos não precisam disso. Vivem no mato. Cagam no mato. Todos cagam, por que eu. Não. Cagar dia sim, dia não: um sonho.
Preciso cagar, eu.
Sozinho, à mesa. Mexendo no celular. A respiração descompensada. Berros, buzinaços. Panelas.
Canalhas.
O lugar às escuras, exceto por um abajur e pela luz do visor. Meio azulada, a claridade distingue o rosto — azula a palidez acentuada. Aqueles índios ainda estão lá fora? Eles não vão embora? Cagando nos banheiros químicos. Por que não cagam no tribunal? A gente devia ter começado por eles, mas.
Cagões.
Enquanto mexe no celular, saltando de uma rede à outra, de um grupo a outro, sente dor. E sente raiva. Há quantos dias não caga? Não é possível. Não, não, não. A coisa mais simples que existe. Mais simples que comer. Isso é desumano, porra. É sacanagem. Tão querendo me matar. Isso lá é jeito de morrer? A barriga dura, a cabeça como que socada num torno. A dor se espalha pelo corpo inteiro. Desumano. Às vezes, tem a impressão de que os olhos vão saltar das órbitas, os dentes trincando e estourando, a cabeça em pedaços após a explosão final, sangue e miolos e. E merda. A cabeça do sujeito estourando num filme que viu outro dia. Um filme velho. As pessoas cagavam no filme? As pessoas cagam em todo lugar. As pessoas cagam nas novelas, as pessoas cagam em casa, as pessoas cagam no trabalho, os índios cagam no mato e nos banheiros químicos, os ministros cagam no tribunal e em mim.
Em mim!
Todo mundo caga, o tempo todo. As pessoas cagam sem parar. Cagam e cagam e cagam. Cagar é a coisa mais simples que existe, mas eu.
Senhor?
Não viu o bosta do assessor entrar. Está ali parado, no meio do gabinete. Nervoso. Na penumbra. As mãos dele na reunião horas antes. As mãos lavadas e perfumadas de quem passou pelo banheiro. Cagando depois do almoço. A coisa mais simples que existe. Cagou depois do almoço e agora está falando. Falando, falando. Senhor isso, senhor aquilo. Eles isso, eles aquilo. Eles quem? Eles também cagam. É, porra, todo mundo caga. O tempo todo. Opta por não dizer nada, o bostinha que fale sozinho. E ele fala. O lacaio fala sem parar. Nervoso, ali parado. Voz nervosa, mãos nervosas. Mãos lavadas e perfumadas. Mãos de quem cagou, mãos de quem ainda vai cagar mais, mãos de quem caga sempre que precisa, sem problemas, sem complicações, sem nada que. A coisa mais fácil. O que ele está dizendo?
As estradas, senhor, elas…
Volta a se concentrar no telefone. Que fale sozinho. Apaziguar os ânimos, convocar as lideranças, desescalar a coisa um pouco, só um pouquinho, até que possam repensar a. O quê? Estratégia? Precisa de uma estratégia pra cagar, isso sim. Dois generais, dois filhos e três ministros na sala vizinha, à espera. Falando merda. Todo mundo só fala merda. Todo mundo caga e todo mundo só fala merda. Na sala vizinha, em todo lugar.
Senhor, eles acham que…
Ele deixa o celular sobre a mesa com um gesto brusco, depois leva a mão à barriga. Por que essa merda tá acontecendo comigo? A garganta seca, as palmas suadas das mãos, um princípio de cãibra na panturrilha esquerda. Precisa de água. Precisa se deitar um pouco. Precisa cagar. Precisa dizer alguma coisa. Precisa tirar uma soneca, dar um pulo no quartinho e. Precisa falar com alguém. Não com esse lacaio de merda. Com um dos filhos, talvez. Mas o que o filho vai dizer? Dormir. O contrário do que diz o assessor. Dormir e não sonhar com nada. É agora ou nunca. Tantos pesadelos. Não dá mais pra recuar. No escuro. Já estão te chamando de frouxo por aí. Breu. Frouxo?
Frouxo, resmunga, a cabeça pendendo no escuro, como se tivesse caído no sono de repente, sem mais nem menos (dormir, não tem conseguido dormir muito, dormir e cagar, e se acontecer de cagar enquanto dorme?, cagar enquanto dorme, sujar a cama, sujar os lençóis, não a mulher, a mulher não dorme mais com ele, dorme noutro quarto, cagar enquanto dorme é melhor do que não cagar, qualquer coisa é melhor do que não cagar, eu quero, eu preciso, eu).
Senhor?
Hein? Ah. Nada.
Nada? Sim, nada. Não tem porra nenhuma aqui, pensa, pegando de novo o celular. Porra nenhuma. A porra dum deserto. O que as porras dos índios querem no meio desse deserto? A gente devia ter começado por eles. A gente devia ter começado melhor. A gente devia ter começado pra valer. A gente devia ter começado pior. Mas ainda tem como. Ainda tem por onde. Terminar o que começou. Ele só quer terminar o que começou, mas como? Não. Nem isso. Ele só quer cagar. Melhor não falar com ninguém. Esperar mais um pouco. Um pulinho no banheiro. Quem sabe consiga. Alguma coisa precisa sair. Qualquer tanto. Um pouquinho que seja. Não é possível que não tenha competência nem mesmo pra. Frouxo? Você aí, pensa ao ler a mensagem de algum filho da puta, pedindo, exigindo, implorando, tudo ao mesmo tempo. É, você. Canalha. Tenta fazer o que eu faço com o bucho entupido de bosta. Tenta, vai. Não é fácil, não, tá me entendendo? Porra. A coisa mais fácil do mundo. Cagar na cabeça dos ilustres magistrados. A coisa mais difícil. Todas aquelas palavras difíceis. Esticaram a corda. Meu filho, ele. A corda da descarga. Que se atrevam. Aquelas privadas antigas. Melhor nem pensar nisso. Uma cordinha junto à caixa, era cagar e se limpar e puxar. Melhor nem pensar em nada. Uma olhadinha antes. Por um tempo. Lá vai.
Tchau.
Senhor?
Hein? Ah. Nada.
Nada. Frouxo? Na semana anterior, era corno. Uma história circulando. Traído? Comia gente sempre que. Eu, eu comia. Metia no cu das vadias. Dei casa praquela ingrata. Meter no cu é simples, mas o pau precisa estar bem duro ou fica dobrando. Dei tudo, porra. Como endurecer o pau com esse bucho entupido de bosta? Ajudei todo mundo e é isso que eu ganho. Não dá pra pensar em mais nada. Traído por todos. Pelos outros. Frouxos são vocês. Meter no cu desses frouxos. Meter no cu de todo mundo antes que metam no meu. Não é uma boa ideia meter no meu cu, tô avisando, hein. Melhor procurar outro cu pra meter. Aqui? Traíras. Aqui, não. Canalhas. Eu ainda tô aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Só saio daqui depois de cagar. Só saio daqui morto.
Eu ainda tô aqui.
Senhor?
Encara o assessor. Na penumbra. Mãos lavadas, perfumadas. Cagou hoje, né? Parabéns. Aposto que dá o cu. Largo. Viado. Não. Não tem nenhum viado aqui, não. Viado caga pra dentro. Pra dentro e pra fora. Viado caga. Todo mundo caga. Que se foda. Olhos no celular, volta a circular pelas redes e grupos. O assessor desiste, deixa o gabinete. Sozinho de novo. Trespassado pela dor. Intestinos. Os olhos ardendo, fixos no visor. E as polícias? Linhas cruzadas, conversas atravessadas. Todo mundo enlouquecido. Todo mundo batendo cabeça. Caos. Precisa de um gesto salvador. Messias. Motociata, motocada. Outro ultimato, quem sabe? Mais firme. Frouxo. Não sou frouxo, não, porra. Vocês é que são.
Vocês é que são, cambada de filho da puta.
Senhor?
Não viu o general entrar. O general e mais ninguém. Nem sinal dos filhos. Melhor assim. Não quer vê-los agora. Nenhum deles. O general está falando alguma coisa. Todo mundo está falando alguma coisa. Melhor não ouvir. Mas talvez devesse. Talvez precise. Precisa de tantas coisas. Não. Só precisa de uma coisa. Precisa cagar. Precisa cagar o quanto antes. A coisa mais simples do mundo. Não consegue pensar direito. O general está falando. Que fale sozinho. Se conseguisse cagar, talvez conseguisse ouvir. E pensar. Cagar direito, pensar direito. Ouvir. Merda até nos ouvidos? Faria tudo melhor. Faria tudo pior. Sem vacilos. Vacilões são eles. Sim. Todos eles. Todos, todos eles, os que cagam direito. Vacilões. Canalhas. Filhos da puta.
Desgraçados.
Senhor?
Ele solta um berro e atira o celular na parede.
O general se cala, as mãos para trás. Não parece surpreso ou intimidado.
Ele se vira após um momento, os olhos injetados, a respiração descompensada, e vocifera: Aqui não tem corno, não!
O general sorri, compreensivo, e deixa o gabinete sem dizer mais nada. O gabinete meio às escuras. Janelas e cortinas fechadas. Luzes apagadas, exceto por um abajur. Não aguenta mais isso. Precisa falar com alguém. Não quer falar com ninguém. Precisa fazer alguma coisa. Lá fora, na rua, algo explode. Qualquer coisa. Gritaria. Precisa fazer qualquer merda. Gritaria interminável. Ele precisa ligar pra alguém. O celular espatifado, ele precisa. Não. Cagar. Ele precisa cagar.
……
Imagem: Richard Hambleton, Shadow Head (óleo sobre tela, 2017).
Tagarelas e incendiários
Artigo publicado hoje n’O Popular.
Um conhecido foi a uma agência dos Correios. Enquanto esperava ser atendido, foi sequestrado. Não, não literalmente. Outra pessoa que também estava por ali tratou de sequestrá-lo para uma conversa despropositada. Tagarelas agem como buracos negros, sugando os incautos que tiveram a péssima ideia de deslizar por seu horizonte de eventos. Isso, para mim, é uma forma de sequestro. E do pior tipo, porque o sequestrador não pedirá resgate nem — caso seja uma pessoa honesta no âmbito desonesto de seu trabalho — libertará o sequestrado. Sim, poucas coisas são tão deseducadas quanto sequestrar um estranho para uma conversa despropositada. Isso não se faz, caramba.
E sobre o que o tal sujeito começou a tagarelar com o meu conhecido? O conceito de akrasia em Aristóteles? As estupendas atuações de Fabinho no meio-campo do Liverpool? O uso da montagem no esgarçamento da violência no cinema de Peckinpah? Não, nada disso. Como estavam em uma agência postal, ele começou a tagarelar sobre a privatização dos Correios. Em como o governo — que, segundo ele, faria muito mais se não fosse tolhido por coisas chatas e bobas como a Constituição — está certíssimo em “privatizar essa porcaria”. Acabou a mamata, certo?
Em princípio, não sou contra privatizações. Mas, também em princípio, sou totalmente contra qualquer privatização ou reforma levada a cabo pelo governo atual. Por quê? Ora, porque o governo Bolsonaro é inepto e iliberal. E o termo “iliberal” vai aqui em sua acepção mais ampla. Falei a esse respeito meses atrás, na coluna do dia 2 de março, quando citei uma entrevista que a economista Deirdre McCloskey cedeu ao Estadão: “A ideia principal do liberalismo é que não haja hierarquias: homem sobre mulher, heterossexuais sobre gays ou Estado sobre indivíduos”. Liberalismo envolve respeitar as liberdades e escolhas individuais conforme princípios democráticos basilares. Quando o neointegralismo bolsonarista (ou o stalinismo zumbi do outro extremo) fala em liberdade, ele está se referindo à liberdade para oprimir. Mas voltemos aos Correios.
Quando o meu colega cometeu o erro de redarguir à ladainha do fulano (nunca, jamais, discuta com cretinos), pontuando que talvez não fosse o caso de privatizar os Correios por agora, de forma tão descuidada e onerosa, a resposta do outro foi impagável. Ele não contra-argumentou. Ele não levantou razões pelas quais a privatização seria, sim, aconselhável. Nada disso. Ele fez uma careta de nojo e disse: “Você tem cara de universitário”.
Você sabe que está atolado em um país de idiotas desvairados quando o fato de a pessoa parecer alguém que se dedica ao estudo e à busca do conhecimento seja algo não apenas ruim, mas passível de desprezo. Sim, é isso mesmo. No Brasil, “universitário” é xingamento.
Em vista de tudo isso, não surpreende que o próximo dia 7 de setembro servirá não para celebrar a nossa independência e a comunhão das diferenças que formam (ou deveriam formar) a nação. Não, não. Ao que tudo indica, servirá para extravasar a sanha golpista daqueles que, animados por mentiras e pelo ódio, querem se curvar à mesmidade obtusa de uma nova-velha ditadura. Vivemos sob a certeza do eterno retorno do fogo
Medianias
Em Discurso sobre a metástase, de André Sant’Anna (ed. Todavia):
“(…) O povo indo à praia, no litoral do Dorival Caymmi, que bonito!, bebendo a cerveja daquela mulher que tem aquela bunda, aquele rabo!, na televisão, o alto-falante tocando aquela música da garrafa que entra no cu daquele cara com aquela barriga, todo suado, fedendo, dançando com aquela mulher dele, toda suada, bêbada, com uma espuminha branca no canto da boca, uma espinha enorme e purulenta na bunda, aquela bunda que é pura desmaterialização da arte, aquele casal que, depois da praia, vai praquela pousadinha the best, comer casquinha de siri com caipirinha de kiwi e depois fazer sexo com aquelas bundas, aquelas barrigas e aquele cheiro de ovo misturado com o cheiro do bafo das caipirinhas e das iscas de peixe com molho rosé. Espetáculo do crescimento!”
Descrição tão vívida quanto essa da mediania brasileira, só no conto “Basta um verniz para ser feliz”, do Marcelo Mirisola (no livro O Herói Devolvido, ed. 34):
“O que eu gosto nele é a vida minúscula e bem-sucedida que leva. O medo de mostrar o rabo, sujar a gravata. Duarte jamais vai cagar em cima do bolo de aniversário. É do tipo que frequenta sauna finlandesa às terças-feiras e reputa uma ‘personalidade vitoriosa’ por conta e obra da colônia importada que usa depois da barba: ‘gasto mil dólares por mês com a educação das crianças’, para ele a vida é barbear rente, hipócrita e macio, ‘outros tantos em Pet-shop, treinador’; e tudo, desde o nome (ou marca, tanto faz) do ‘Colégio’ das crianças até a conta do veterinário, absolutamente tudo, poderíamos incluir plano e saúde e câncer no cu, é uma sinopse deste sentimento comprado de vitória e frescura, depois da barba. Duarte é um babaca.”
Vacinas democráticas
Artigo publicado em 17.08.2021 n’O Popular.
Enquanto assistia àquele desfile de blindados caindo aos pedaços pela Esplanada dos Ministérios dias atrás, naquela que entrará para a história como uma das maiores e mais constrangedoras demonstrações de fraqueza a que um presidente da República se entregou por conta própria, eu me peguei pensando na bactéria Clostridium tetani. Como sabemos, trata-se do bacilo causador do tétano. Sim, é isso mesmo. Ao observar aqueles monstrinhos ferruginosos e fumacentos, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: tétano.
Também me ocorreu que o governo Bolsonaro é muito bom naquilo. Bom, não. Excelente. Em quê? No seguinte: sempre que leio alguma notícia relacionada aos inúmeros descalabros que nos afligem, eu penso em doenças. Sim, é isso. O governo Bolsonaro é excelente em me fazer pensar em doenças. Doenças físicas, doenças mentais, doenças espirituais. Doenças. Penso tanto nisso que é impossível não encarar o conjunto da obra bolsonarista como um câncer metastático. Imagem pobre e já muito usada, eu sei, mas com câncer não se brinca, e a analogia me parece corretíssima.
Mas deixemos o câncer de lado e voltemos ao tétano. Acessei o verbete sobre a doença na Wikipédia: “O tétano é causado pela infecção com a bactéria Clostridium tetani, a qual se encontra frequentemente no solo, no pó e no estrume”. (Sim, no estrume. Eu ri.) Como sabemos, a bactéria costuma entrar no nosso organismo por meio de um corte: a pessoa se machuca com um prego ou lâmina enferrujada, por exemplo. A doença causa espasmos e contrações musculares, que podem levar à morte quando comprimem o diafragma e impedem a respiração. Terrível.
A nossa sorte é que existe vacina contra o tétano. Sim, há cerca de um século. E a boa notícia é que a maioria de nós tomou essa vacina. Não, não houve polêmicas em torno dela. Nenhum presidente em exercício levantou suspeitas ou sugeriu algum medicamento ineficaz contra a doença. Talvez isso tivesse acontecido se Bolsonaro fosse presidente na década de 1940. Nunca se sabe.
O que se sabe é que o desfile tetânico e poluidor dos blindados deveria servir para amedrontar os deputados federais, que naquele dia votaram contra a absurda PEC do voto impresso. Conforme já atestaram o Superior Tribunal Eleitoral, a Polícia Federal, ministros do Tribunal de Contas da União e qualquer pessoa com um pingo de inteligência, o voto eletrônico é auditável e seguro. Outra coisa que se sabe é que o voto impresso cairia como uma luva para os interesses das milícias e de outros grupos saudosos dos currais eleitorais e das fraudes que grassavam nas eleições brasileiras até outro dia.
A exemplo daquele triste blindado movido a diesel, Bolsonaro quer fazer fumaça e impedir que enxerguemos o óbvio: ele é um golpista incompetente e o pior presidente que já tivemos. E, a exemplo da Clostridium tetani, Bolsonaro quer travar a democracia por meio espasmos terríveis, até que ela morra sufocada. Existem vacinas contra isso. Ao que parece, uma delas (impeachment) não será aplicada porque quinhões do Congresso foram comprados para impedir isso. A outra vacina é o voto. Sim, eletrônico. Seguro, auditável, sem fraudes. Difícil será suportar a infecção por mais um ano. Mas sobreviveremos.