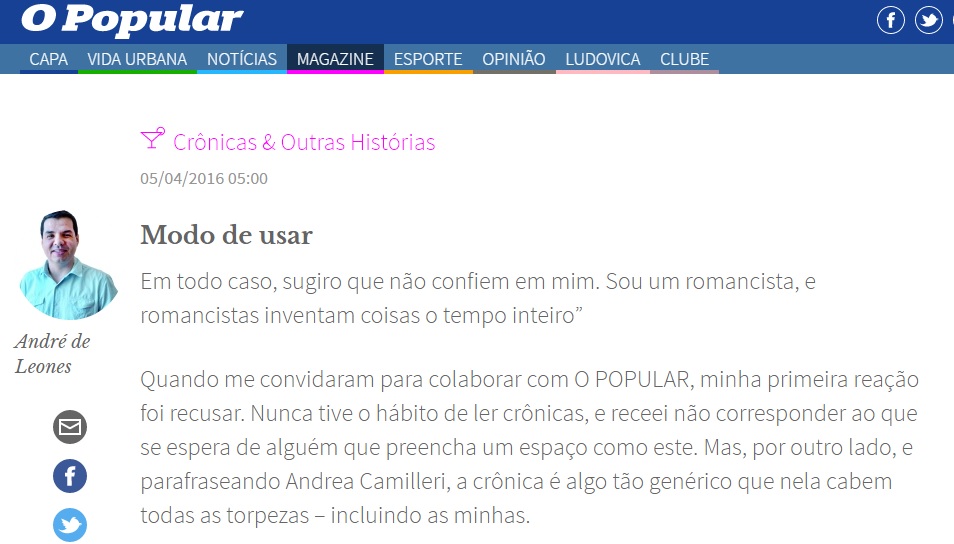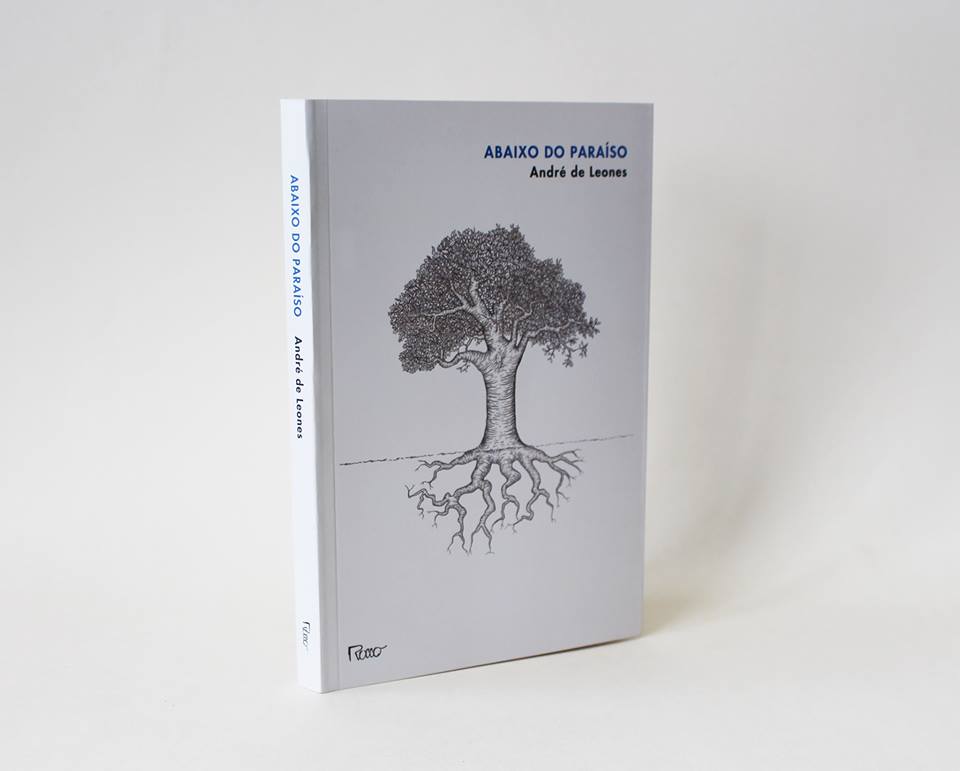Para E.M.,
que sobreviveu para me dar esta história.

INCIPIT O som de um corpo atirado n’água, o seu próprio corpo – o primeiro som guardado na memória.
MERGULHO O pai foi apanhá-lo na cama, o hálito quente de cigarro, quente e áspero ao estreitá-lo junto ao corpo, a caminho do banheiro. Viu abaixo a bacia de alumínio com água fria até a borda e, acima, o rosto espinhento, mal barbeado, e os cabelos desgrenhados do pai, e o teto amarelo-enegrecido de ripas encaixadas, fodendo umas às outras como machos e fêmeas e machos e machos e fêmeas e fêmeas. O pai o largou dentro da bacia. Meio segundo de um mergulho que se prolonga até hoje.
PALIATIVO Antes de ter com a água, entreviu a cabeça da mãe enquadrada pela porta do banheiro, às costas do homem que se preparava para mergulhá-lo, seguindo à risca as ordens médicas de que assim, talvez, conseguissem aliviar as dores, um pouco que fosse.
PÓLIO A mãe aflita às costas do pai, pelo mergulho e pelo que o antecedera, o diagnóstico, a febre alta, o horror diante das piores perspectivas: pulmões, cérebro, morte. Restaria vivo afinal, exceto por noventa por cento da musculatura da perna esquerda, setenta por cento da musculatura da perna direita e alguns músculos do lado esquerdo do peito. Vivo, a não ser por isso; restou assim.
NÃO-LADOS A mãe aflita fitando as costas do pai para não ver o que mais houvesse, o peso em seu próprio lado esquerdo do peito. Mergulhara o filho no mundo para vê-lo agora mergulhado na febre pela doença e na água fria pelo pai, quente e áspero ao descê-lo assim. Os lados quente-adoecidos da cama trocados repentinamente pelos não-lados da água em sua fluidez de entropia e desespero.
BRANCO Os pais se casaram virgens. A família dele era de holandeses e alemães e, claro, se pudesse escolher, teria preferido uma boa moça com a mesma ascendência, em vez de uma – daquela – brasileira. Eles se casaram virgens, foram de branco pela igreja escura, caminhando pelos intestinos da discórdia familiar. Aos tropeços, mas não cabisbaixos.
NOMES Ela abdicou do sobrenome marrano a fim de abraçar o sobrenome alemão do marido. Mas o que há num nome?, talvez pensasse e dissesse a si mesma. O nome dele, o meu. Famílias, histórias. A ideia quimérica de forçar a união, anular-se (em parte) para receber o outro. Um primeiro passo no sentido de contornar o mal-estar. Inútil, logo veria.
OVOS Maria terminou o curso ginasial e foi ganhar a vida, trabalhar como auxiliar de escritório. Seu irmão mais velho era jornaleiro. O outro, engraxate. A mãe, Vicentina, enviuvara aos vinte e cinco anos. Cuidava do pai. Fazendo uso dos filhos, mendigava alguns trocados do velho. Depois de muita insistência, ele liberou o galinheiro para a neta, Maria. Ela separava cinco ovos para si, a mãe e os irmãos. Vendia o resto.
GALINHA Na vida cotidiana, transformada numa sucessão de pequenas violências, os outros (a família dele) falavam em alemão para excluir e provocar a recém-chegada. Falavam mal dela e de sua família. Trabalhando fora desde cedo, Maria nunca aprendera direito as tarefas domésticas. Por exemplo: era incapaz de depenar uma galinha. Ou, depenado por outrem, ela calhou de atirar o animal inteiro na panela, sem mais. Inaceitável. Onde é que você foi arranjar essazinha? O que você foi fazer, Junior? O que você foi inventar?
ESTADO NOVO O pai de Maria fora o primeiro dentista formado em Santo Amaro. Claro, isso não impressionava a família do marido. Ela pensava no finado pai. Ele cuidava dela e dos irmãos para que a mãe fosse ao cinema com as amigas, no domingo. Lia e estudava bastante, conversava prazerosamente, cuidava bem dos pacientes. Preso como subversivo, a maldita simpatia pelos comunistas, solto unicamente para morrer. O coração não aguentou. Metido numa cela, maltratado por gostar de ler e conversar. As leituras erradas, as conversas erradas. Na contramão. Um tal rolo compressor. O que é que sobra quando assim?
BRASIL O país assolado pela epidemia. Como se a doença a princípio externa refletisse a doença interna, intramuros, entre as paredes daquela casa. A família cindida. O desarranjo, a discórdia: a doença lá fora vê isso e resolve entrar. Uma espécie de punição. A doença é D’us ou, melhor dizendo, é uma exteriorização d’Ele. D’us a movimenta com os olhos. Adoece o que vê. Sequer é preciso tocar. Ele vê. Pisca vez por outra. O que não vê, escapa. Mas D’us vê tudo. Breve desconcentração, talvez, ou um qualquer desinteresse momentâneo. Adoecer tudo e todos não parece interessante. O projeto é gratuito, mas jamais indiscriminado. D’us move a praga com os olhos. Tiro ao alvo. Acerta uns. Muitos. Vê o menino. Acerta-o. Maria, ademais, é o Brasil. Representativa dele. Brasileira. País mal ajambrado, desorganizado, corrupto, sem higiene, errado. Jogam isso na cara dela. A família dele. Maria como o Brasil: um erro.
RIO A mudança para o Rio de Janeiro não ajudou muito. O sogro transportava mercadorias de São Paulo para a capital federal e vice-versa. Junior assumira a filial em Barra Mansa. No entanto, a fúria familiar os perseguia e Junior, em vez de defendê-la, preferia se calar. O homem recém-egresso do trabalho sentado a um canto, ensimesmado. Fazendo palavras cruzadas. Calado. Como se habitasse o silêncio da cisão. Perdido entre lá e cá. Incomunicável.
BENÇÃO É quando a praga se instala no menino. O resultado de ser visto assim, pelo Alto. Uma benção. Diferente dos outros. A lembrança de D’us, de sua onipotência. A existência como um lugar e um tempo assolados por D’us. O seu próprio corpo, o lugar d’Ele. O corpo assim preenchido, tomado. Os músculos retorcidos pelo Espírito. Moídos pelo Criador. A dor altissonante, ensurdecendo a criança e seus pais. Abençoados sejam. Malditos.
MULETAS O menino terá de percorrer a existência assim, com tal dificuldade. Com a ajuda de muletas. Cada passo um riso metálico engendrado na infância. Cada passo remetendo à dor altissonante-ensurdecedora e ao mergulho interminável. Cada passo é para trás.
SILÊNCIO Acusavam o pai e a mãe. Se você nos tivesse ouvido, Junior. Se você nos tivesse ouvido em vez de se casar com essa aí. Ela é o que é, menos que nada. Atrapalhando o seu caminho. Um tropeço. Ela e os dela, e a doença é responsabilidade deles. Brasileiros sujos. Maria não aceitava, não compreendia o silêncio do marido. Passivo, atônito, paralisado. Qual é o seu problema? Por não me defende? Por que não se defende? Por que não diz nada? Diz alguma coisa. Qualquer coisa. Por que não fala? Os irmãos dela distantes, em São Paulo, que podiam fazer? Consolavam à distância, na medida do possível, e Maria restava só. O silêncio do marido como uma expressão d’Ele, também. Como se Junior soubesse. Não há o que dizer. O mutismo como sintoma da presença de D’us no filho. O pai viu aquilo e se calou, horrorizado. Surdo para o ruído familiar. Surdo para as discussões incessantes, para os apelos dela. Defender-nos? Defender-nos do quê? Olha o que já fizeram com o nosso filho. Não há o que defender. Seguir em frente, se e como for possível. No prolongamento daquela benção. Junior também restava só.
CHISTE O filho, um resto de existência. A família cindida ao meio. O menino cindido ao meio. Isto como um reflexo daquilo. Um chiste divino.
DESERTO Eles fizeram as malas e voltaram para São Paulo, mas guardando distância. Maria ainda debatia e se debatia no inferno da cisão familiar. Junior, não. Talvez tivesse alcançado uma compreensão maior de tudo, para além da balbúrdia de ressentimentos. No silêncio, de dentro dele (silêncio), talvez enxergasse melhor o deserto inteiro.
PÁRIAS Em vez de discutir, Junior optou por se afastar da família. Assumir de vez a condição de pária. De certa forma, alinhava-se com o filho e a esposa. Pai, mãe e filho palmilhando no deserto da doença. As muletas afundam na areia, mas o menino prossegue. Pai e mãe desencontrados, errando. O filho, não. O filho adivinha um norte. Segue, incerto. Mas segue, um passo, depois outro, e mais outro, e.
FINIS O que há para se ver num deserto? O próprio silêncio.
.