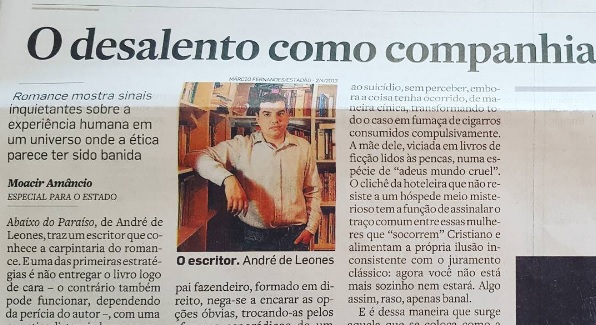No Brasil, o romance de David Foster Wallace foi traduzido por Caetano Galindo e rebatizado como Graça Infinita. Eu o resenhei para o Estadão (leia também AQUI ou AQUI), texto que reproduzo abaixo na primeira nota. As demais dizem respeito a coisas que me passaram pela cabeça enquanto navegava pelo calhamaço. São anotações-de-leitura. Algumas só farão sentido para os que já tiverem lido o romance. Outras não farão sentido algum, para quem quer que seja.

0.
Há livros que é melhor encarar como aventuras literárias extremas. São extensos, exigentes, tidos pelos preguiçosos como ilegíveis, mas que podem ser — e são — muito divertidos, além de conseguirem, cada qual a seu modo, morder nacos inteiros da experiência humana. Cito três: Ulysses, de James Joyce, O Arco-Íris da Gravidade, de Thomas Pynchon, e Graça Infinita, de David Foster Wallace, lançado nos EUA em 1996 e no Brasil em 2014, pela Companhia das Letras, com tradução de Caetano Galindo.
A história se passa num mundo futuro (ou, do nosso ponto de vista, alternativo), em que EUA, México e Canadá formam um superestado, a Organização das Nações da América do Norte (isso mesmo, Onan), e um bom pedaço do continente foi transformado num depósito de lixo tóxico. A Onan é presidida por uma paródia grotesca de Ronald Reagan chamada Johnny Gentle, responsável por essa “Reconfiguração” (o leitor encontra uma reconstituição da formação da Onan na forma de um filme — com bonecos! — a partir da pág. 392). Com a Reconfiguração, o tempo passou a ser subsidiado, isto é, o governo negocia os naming rights de cada ano; assim, temos o Ano do Whopper, o Ano do Frango-Maravilha Perdue, o Ano da Fralda Geriátrica Depend (em que se passa boa parte do livro) etc.
Muito do romance gira em torno de uma família, os Incandenza. O pai, James Orin, referido pelos filhos como Sipróprio, foi um cientista óptico, fundador da Academia de Tênis Enfield (ATE) e cineasta de après-garde (sic). A mãe, Avril (“Mães”), uma acadêmica respeitada, assumiu a ATE junto com o irmão adotivo (ou meio-irmão, mas que é mais do que isso) Charles Tavis após o suicídio do marido. Os filhos são o caçula Hal (aluno da ETA; narra alguns capítulos), Mario (deficiente físico, assistente de direção do pai, realizador de alguns filmes, incluindo o supracitado sobre a formação da Onan) e o primogênito Orin (jogador de futebol americano e ex-namorado de Joelle Van Dyne, estrela de alguns dos filmes do patriarca).
Outro núcleo narrativo está na clínica de reabilitação Ennet, localizada proximamente à ETA, numa cidadezinha fictícia da área metropolitana de Boston. Joelle é internada ali após tentar “eliminar seu próprio mapa” e se aproxima do ex-viciado, ex-capanga de gângster e agora conselheiro Don Gately. Há um terceiro núcleo que, com liberdade, associo a Marathe, membro dos Assassins des Fauteuils Rollents (AFR), ou “Assassinos Cadeirantes”, um dos vários grupos separatistas surgidos após a Reconfiguração. Marathe repassa informações a um oficial da Onan chamado Steeply como forma de conseguir um tratamento médico adequado para a esposa. A grande ameaça perpetrada pelos separatistas é a veiculação do Entretenimento ou samizdat, na verdade o filme derradeiro de James O. Incandenza, intitulado Graça Infinita (V?), algo tão inconcebivelmente divertido que as pessoas “expostas” a ele não conseguem desviar os olhos e ali ficam, mesmerizadas, até morrer.
Para dar conta da enorme teia de relações, lembranças, idas, vindas e digressões, David Foster Wallace recorre a vários registros. Além das notas que tomam 133 páginas ao final (e nada ali é prescindível; vide a descrição da filmografia de James O. Incandenza na nota 24), temos cartas, relatórios, testemunhos, interrogatórios e descrições de filmes. Mas, em nenhum momento, tem-se a impressão de um exercício estilístico gratuito. Graça Infinita não é cifrado ou hermético. O romance institui uma realidade alternativa, brinca com o caos político, mas jamais se desvia da matéria humano-afetiva que o anima.
O tom pseudoenciclopédico, de um detalhismo maníaco, jamais soterra o que importa: o olhar tristemente lúcido sobre as relações familiares (vide o monólogo avassalador do pai de James O. para o filho pequeno, as conversas telefônicas entre Orin e Hal sobre o pai suicida ou as lembranças de Gately sobre a mãe), os vícios (note-se os testemunhos dos residentes na Casa Ennet e/ou ouvidos por eles em reuniões do AA, NA, etc.) e a depressão (destaco a excruciante descrição de uma personagem: “É tipo horror mais que tristeza. É mais tipo horror”).
Graça Infinita se abre a partir do material humano que pipoca em suas páginas, infenso ao solipsismo. Por mais insana e pynchoniana (há até um Bodine por ali) que seja, sua aventura remete, sobretudo, a um tatear interno, anímico, do que nos constitui, bom e mau, saudável e não, e nos liga ao outro. Observe-se que o acerto de contas final (ao som de Linda McCartney, sua voz desafinada e o pandeiro que chacoalha bisonhamente isolados) é uma orgia ultraviolenta, mas deságua na imagem de Gately deixado numa praia deserta, sob a “chuva de um céu baixo”. Não obstante as circunstâncias, ou em vista delas, eis aí um belíssimo convite ao recomeço e à aceitação de si e do outro.
1.
Graça Infinita não é um romance difícil, e é tão divertido quanto os outros dois livrões que citei na resenha acima e, comparativamente, são bem mais complicados de se atravessar pela primeira vez: Ulysses, de James Joyce, e O Arco-Íris da Gravidade, de Thomas Pynchon. Ao enfileirar esses títulos, não estou, de forma alguma, investindo para valer em uma punhetagem comparativa entre eles, embora seja possível dizer algumas coisinhas, assim de passagem. Tudo bem, são três livros enormes, audaciosos e que, cada qual à sua maneira, abocanham uns nacos bem grandes da vida tal e qual a (in)compreendemos, mas é bom reiterar (e por mais que, como sublinhei acima, DFW dê uma piscadela para Pynchon a certa altura de GI) que são monumentos distintos e bem específicos nas viagens e alucinações histórico-literárias que propõem. É possível traçar uma linha que ligue Pynchon e Wallace sem muitos desvios, mas não Joyce. Creio que Ulysses dialoga com uma tradição mais rarefeita, por assim dizer. Os outros dois já lidam com uma realidade contaminada pela cultura pop (e, no caso de Pynchon, também pelo que se convencionou chamar de contracultura), e o fazem tão bem que tornam isso um de seus inúmeros trunfos.
2.
A legibilidade de GI salta aos olhos desde as primeiras páginas e atinge o ápice naquelas passagens em que DFW parece se colocar inteiro, com tudo aquilo que possibilitou que ele escrevesse e que, por fim, acabaria por impossibilitá-lo, isto é, torná-lo inviável, tudo o que o levou a “apagar o próprio mapa”. Pais, filhos, vícios, suicídios. Você pega, por exemplo, a descrição que Kate Gompert faz do estado em que se encontra; eu não me lembro de um palmilhar tão excruciantemente vívido pela depressão (e olha que eu procurei) (e olha que eu sei do que estou falando).
3.
Conversei com um amigo sobre DFW e ele me chamou a atenção para o quanto o autor está em toda parte do que escreveu, ao passo que Pynchon não está ou, se está, não sabemos direito onde, posto que ele é essa Grande Incógnita, o mero Princípio Organizador da narrativa. Até porque me parece impossível ler DFW sem pensar que o sujeito lutou por anos contra a depressão e acabou optando por se zerar, não é mesmo? Quero dizer, a supracitada vividez com que ele descreve determinados estados anímicos e decisões que podem ou não estar relacionadas a esses estados é um troço assim incontornável, ao menos para este (Eu estou aqui.) leitor.
4.
Há centenas de histórias de pais e filhos e mães e tios e amigos e não sei mais o quê se amontoando nas páginas de GI. Você pode encontrá-las, por exemplo, nos testemunhos dos residentes da Casa Ennet, nas reuniões de que eles participam, nas conversas que mantém entre si, no que é dito sobre os alunos da Academia de Tênis Enfield (ATE), no que eles próprios dizem e no longo diálogo entre o Cadeirante Assassino Marathe e o agente travestido Steeply, cada mísera existência ganhando o proscênio, no que se desvela um interesse real pelas vidas dos outros que, no limite, revelam um interesse real pela Vida, constituinte da própria Narrativa como um todo.
5.
Marathe, Steeply. Duas peças no xadrez lisérgico que é o estado de coisas pós-Reconfiguração. Discutem as intrigas em que estão metidos, a situação política, recorrem a digressões sobre Troia, guerras, Estado, fanatismo, mas parecem mais palpáveis (ou menos instrumentais, por assim dizer) quando, por ex., Steeply fala da desventura de seu pai, obcecado pela versão televisiva de M.A.S.H., ou, depois, quando diante de outra interlocutora, Marathe descreve a forma como conheceu a esposa, um conto de amor grotesco, mas ainda um conto de amor (e talvez Kate, sua interlocutora na ocasião, considere a coisa grotesca por ser desgraçada e fisiologicamente infensa a um afeto assim construído e/ou vivenciado. Não?).
6.
A família Incandenza (no que incluo o pseudoirmão adotivo/meio-irmão de Avril, Charles Tavis, e o sr. Incandenza, Sr. com seu monólogo para o então pequeno James O., a narrativa sobre o fim precoce e dolorosíssimo de sua carreira tenística, e um mundo de outras coisas ali adernando, desde então, a psiquê do menino & futuro cientista óptico, fundador da ATE e cineasta aprés-garde) pode ser lida, no que diz respeito à estrutura do romance, como o centro vazio do Triângulo de Sierpinski. James (James Sr.), Avril (CT), Orin (Joelle), Mario (CT?) e Hal assinalam um acúmulo de ausências, ou a atualização constante dessa ausência central, ontológica, em torno da qual o romance gira e se abre, gira e se abre, gira e se abre, infinitamente.
7.
Em um romance sobre a dor, ou que versa também sobre isso, e por mais que comporte algumas sequências bem violentas de agressão-ao-próximo (o quebra-pau entre Gately e os “canadôncios”, ou o acerto de contas final com o pobre Fackelman, por ex.), importam mais as autoagressões, o isolamento maníaco em que nos metemos e que parece conduzir, cedo ou tarde, a um descarrego de violência, contra nós mesmos ou contra os outros, ou contra os outros e nós mesmos. O suicídio do pai Incandenza é, em si e por si, uma instalação autoagressiva sem igual, a cabeça impossivelmente metida e isolada num forno de micro-ondas, pronta para a explosão que, no fim das contas, parece apenas externar a implosão interna, psíquica, anímica. Eis aí uma autoanulação das mais extremas.
8.
GI, afinal, parece ser um esforço tremendo de externalização, de palpabilização. DFW externa e torna palpáveis ou legíveis as dores do deprimido, do viciado, do suicida, dos órfãos, dos deficientes, dos loucos, e também o coração vazio (ou atulhado de lixo) de um país que não existe mais, que cedeu lugar a outra coisa, que foi reconfigurado, reinicializado, em que os sobreviventes se sentem alijados não só da constituição política como de qualquer possibilidade de agir politicamente, zumbificados por aquele emaranhado doloroso, deixados sós, abandonados “de costas na praia sobre a areia congelante”, com a chuva caindo “de um céu baixo, e a maré” indo “bem longe”. E, no entanto, apesar de tudo, há quem diga (e repita): “Eu estou aqui”.