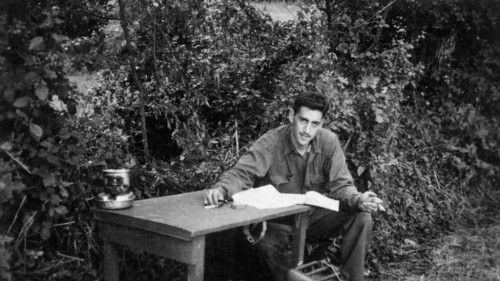Anotações esparsas sobre Bleeding Edge, romance de Thomas Pynchon.

1. LITERATURA KUGELBLITZ
Logo no primeiro capítulo de Bleeding Edge, romance de Thomas Pynchon, a protagonista Maxine Tarnow leva os filhos à Escola Otto Kugelblitz, localizada entre as ruas Amsterdam e Columbus, em Nova York, em uma travessa da cidade ainda não utilizada como locação para Law and Order (informa o narrador). A escola leva o nome de um psicanalista pioneiro (e fictício) que teria sido expulso do círculo mais próximo de Freud em função de suas teorias. Para Kugelblitz, a vida humana transcorreria em meio a uma sucessão de desordens mentais, conforme a idade do indivíduo: solipsismo (infância), histerias sexuais (adolescência e juventude), paranoia (meia-idade), demência (velhice) e, por fim, a morte, que seria algo como a “sanidade” possível. Fui à PynchonWiki e descobri que Kugelblitz é também o nome de um tanque de guerra usado na Segunda Guerra Mundial. O que eles (ainda) não informam por lá é que, além disso, trata-se de um termo da Física (kugelblitz significa, no caso, literalmente, “raio globular”) que designa uma concentração de luz tão forte que termina por constituir um horizonte de eventos, aprisionando a si própria. Uma concentração dessa natureza pode muito bem consumir o espaço-tempo até constituir um buraco negro. A diferença é que, enquanto buracos negros “convencionais” são formados por massa-energia originalmente material, o kugelblitz é constituído por radiação. Depois, ocorreu-me que a imagem de uma concentração de luz tão intensa ao ponto de formar um horizonte de eventos e aprisionar a si mesma traduz lindamente o que são algumas passagens dos romances de Pynchon. Há o paradoxo de uma impenetrabilidade da qual é impossível escapar, pois somos engolfados por ela. No seio dessa anomalia, o espaço-tempo deixa de ser relevante ou sequer aplicável.
2. A ESCURIDÃO PULSANTE
O sétimo capítulo é um belo exemplo dos procedimentos narrativos de Thomas Pynchon.
Temos, ali, Melanie’s Mall (“It’s cool at the mall!”), Dragonball Z, Akira e outros animes, uma realidade virtual alimentada por programadores de todo o mundo (e “the rest of the screen is claimed by the abyss — far from absence, it is a darkness pulsing with whatever light was before light was invented”), onde cada um pode adicionar seu “véu de ilusão” e restar “construtivamente perdido”.
Pynchon, é claro, adiciona o véu que lhe apetece e sai (p. 76) com o que parece ser uma citação direta da abertura de O Arco-Íris da Gravidade:
“(…) On she is crossfaded, up and down stairways, through dark pedestrian tunnels, emerging into soaring meta-Victorian glass- and iron modulated light, through turnstiles whose guardians morph as she approaches from looming humorless robots into curvaceous smiling hula girls with orchid leis, up to a train whose kindly engineer leans beaming from the cab and calls out, “Take your time, young lady, we’re holding her for you…”
É claro que a atmosfera de pesadelo que contamina O Arco-Íris da Gravidade empresta outro tom àquele trecho, de tal forma que a ironia de uma constatação (“É tudo teatro”) só reitera o horror dos escombros da Segunda Guerra Mundial. Em Bleeding Edge, no trecho acima, estamos no começo do século XXI, espremidos entre o estouro da bolha ponto-com e os atentados de 11/09, os quais devolveriam ao mundo a palpabilidade aterradora dos escombros e da guerra.
Depois que a protagonista passeia pelo DeepArcher, um de seus criadores fala sobre o modo como ele é protegido dentro da rede, por meio de um processo similar a uma cadeia de Markov. As cadeias de Markov são um processo estocástico, isto é, constituído por famílias de variáveis aleatórias que têm lugar em um intervalo de tempo determinado, e apresentam uma propriedade conhecida como “memória markoviana”. Nesta, os estados anteriores são irrelevantes para a predição dos estados subsequentes, desde que conheçamos o estado presente. Eis uma bela maneira de pensarmos a narrativa pynchoniana.
Não é raro, lendo seus romances, que nos sintamos perdidos em situações obscuras, enevoadas, povoadas por personagens tão desorientados quanto nós, face a circunstâncias cujo solo teima em escapar. A levada escorregadia alimenta a paranoia, e a paranoia é, por assim dizer, o elemento maior a constituir a “realidade” na qual, em tese e/ou precariamente, nós nos situamos.
Em um contexto desses, talvez seja imprescindível encararmos cada passagem desses livros de um ponto de vista assim markoviano: temos alguma noção de onde estamos, embora não saibamos ao certo de onde viemos (e isso é irrelevante) e não possamos predizer para onde iremos (e isso é maravilhoso). É a “escuridão pulsando com o que quer que a luz fosse antes que a luz fosse inventada”.
3. SETEMBRO ETERNO
Na página 174 de Bleeding Edge, fala-se de passagem do Setembro Eterno, o qual teria começado naquele mês em 1993, quando a American Online passou a oferecer acesso à Usenet aos seus clientes. Antes disso, todos os anos, desde 1980, em setembro, calouros universitários acessavam a Usenet pela primeira vez e demoravam um pouco a se acostumar com o ambiente, criando certa confusão. Mas, depois do Setembro Eterno, na medida em que mais e mais pessoas passaram a acessar o sistema mês após mês após mês, todos os meses, a calmaria pós-setembro deixou de existir.
O “outro” Setembro Eterno, aquele de 2001, irrompe no livro páginas depois, no capítulo 29.
Antes, no capítulo imediatamente anterior, a protagonista, Maxine, vai a uma festa por meio da qual Pynchon revive toda a fantasmagoria autoirônica do finalzinho dos anos de 1990, sobretudo no que diz respeito à bolha ponto-com e conforme ela seria revisitada, farsescamente, no comecinho dos anos 2000. É uma pseudoautoironia, portanto, encarnada nos “nerdocratas” que conseguiram se safar do estouro da bolha e ostentam, por ali, uma certa nostalgia esvaziada (bolha, estouro).
O tom dessas páginas é um tanto ressacado, e a sombra da ocorrência futura já se faz presente (p. 312):
“(…) Former and future nerdistocracy slowly, and to look at them you’d think reluctantly, filtering back out into the street, into the long September wich has been with them in a virtual way since srping before last, continuing only to deepen. Putting their street faces back on for it. Faces already under silent assault, as if by something ahead, some Y2K of the workweek that no one is quite imagining, the crowds drifting slowly out into the little legendary streets, the highs beginning to dissipate, out into the casting-off of veils before the luminosities of dawn, a sea of T-shirts nobody’s reading, a clamor of messages nobody’s getting, as if it’s the true text story of nights in the Alley, outcries to be attended to and not be lost, the 3:00 kozmo deliveries to code sessions and all-night shredding parties, the bedfellows who came and went, the bands in the clubs, the songs whose hooks still wait to ambush an idle hour, the day jobs with meetings about meetings and bosses without clue, the unreal strings of zeros (…).”
Pynchon escreve sobre um tempo que acabou num tom quase elegíaco, semiapocalíptico. Aquilo tudo já era. Virou poeira. E o pouco que restou também desabará dali a alguns dias e será substituído por outras coisas, sombras distintas ou, dependendo do ponto de vista, horrendamente indistintas.
Embora exausta desde o começo, Maxine permanece na festa até o final. Depois, volta para casa em um táxi dirigido por um árabe, o rádio ligado, uma ladainha onde a única palavra que ela reconhece é Inshallah. É árabe para whatever, diz o marido. Não: é “se Deus quiser”, corrige o motorista, virando-se para trás. Maxine o encara. Não conseguirá dormir, ou pelo menos é assim que, depois de tudo, pelo setembro eterno afora, ela se lembrará do ocorrido.
Assim diz o narrador.
4. MARGINAIS
Bleeding Edge começa e termina com uma cena doméstica, a mãe primeiro levando as crianças à escola e, depois, ao final, percebendo (sendo levada a perceber) que isso não é mais necessário, apesar dos acontecimentos recentes e da paranoia galopante. Também nas últimas páginas do livro, temos a reaproximação de outra mãe e sua filha. Estas são ameaçadas pelo ex-marido da filha, justamente o todo-poderoso magnata ponto-com, um nome (ele só aparece três vezes em todo o romance, sendo que, numa delas, é apenas uma voz ao telefone) ancorado em todo tipo de negócio escuso, governamental e não, coisas que, em parte, restarão inexplicadas ou meramente sugeridas.
Todos tateiam por um mundo perigoso demais, tornado ainda mais perigoso e movediço após os eventos daquele setembro. O inferno não está necessariamente abaixo, diz alguém a certa altura, mas pode muito bem estar no céu (p. 446). Logo, não é por acaso que o romance começa e termina à altura do chão, dentro do cercadinho, digamos. Assim como não é por acaso que, no momento em que o inferno se abre no céu, o foco narrativo também se volte para o que acontece dentro de casa: o quase ex-marido da protagonista trabalha no World Trade Center; onde ele está?
W. Bush parece ter estrangulado o cercadinho ao se lançar em uma longa e malfadada perseguição às sombras. A partir dos atentados, as paredes do romance parecem se mover. É uma reconstituição muito acurada da primeira década americana do século XXI ou, mais precisamente, dos meses imediatamente posteriores ao 11/09. As coisas ainda piorariam muito, claro, mas Pynchon está interessado naquele “ponto morto da História” (Montale?), quando os USA acusaram o golpe e se voltaram, primeiro, para as próprias vísceras.
Quando a protagonista busca algum respiro, acessando o mundo virtual (ou um mundo virtual específico, o DeepArcher), tudo o que encontra são as vozes e os avatares de quem já morreu. A fantasmagoria é uma constante em Bleeding Edge. E, para dar conta dela, mais do que nunca é imprescindível a atuação daqueles que, em Mason & Dixon (p. 382 da edição brasileira), o narrador chama de “fabulistas e falsários, Cantadores de Baladas e Excêntricos dos mais variados Raios”, cujo “cuidado amoroso e honrado” para com a História não permite que ela caia nas mãos daqueles que, arrogando a Verdade, abandonam-na.
Similarmente, em Bleeding Edge, alguém diz (p. 322):
“‘No matter how the official narrative os this turns out’, it seemed to Heidi, ‘these are the places we should be looking, not in newspapers or television but at the margins, graffiti, uncontrolled utterances, bad dreamers who sleep in public and scream in their sleep.'”
Pynchon mantém a sua fé nos fabulistas e falsários que, contra o dia, trafegam livres pela noite da História. “Na Escuridão, nunca se sabe” (M&D, p. 706). Por aterradoras que, em Bleeding Edge, pareçam tanto a realidade quanto a virtualidade (e, D’us, como elas se confundem), a narrativa construída à margem, “fora do alcance dos Desejos, e mesmo da Curiosidade, dos Governos” (M&D, p. 382), ainda está ao nosso alcance. E, de fato, nos dias que correm, não há nada mais marginal do que a Literatura.