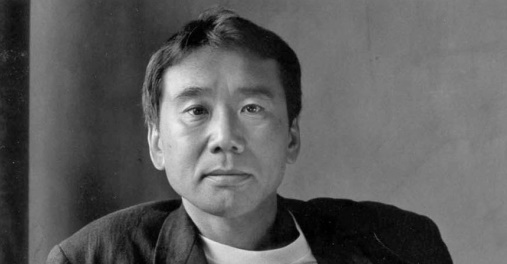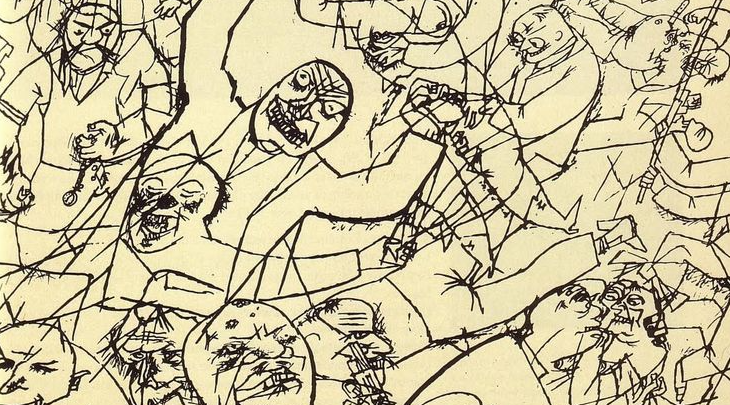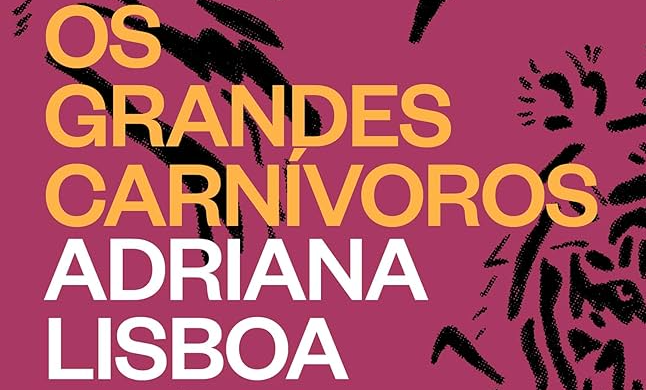André de Leones | ficção

“Queria que Deus estivesse vivo pra ver isso.”
— Homer Simpson.
Era uma vez, e nem foi uma vez tão boa assim, foi uma vez horrível, na verdade, uma vez hedionda, fedorenta, bizarra, uma vez malcheirosa, uma vez com bodum de mertiolate e merda, era uma vez essa vez e, nessa vez que era uma vez, era uma vez um sujeito que ouvia vozes e esse sujeito que ouvia vozes pegou uma faca, e nem era uma faca tão boa assim, não, senhoras e senhores, de jeito nenhum, muito pelo contrário, era uma porcaria de faca, não era uma faca dessas que os soldados de elite usam nos filmes, não era a faca do Rambo em Rambo II, não era a faca do tenente-coronel John Matrix em Comando para matar, não era uma faca daquelas táticas, acho que é assim que eles chamam aquelas facas especiais, não era uma faca tática, com aquela lâmina fodástica e serrilhadinha num dos lados, o tipo de faca que você desatarraxa a tampa do cabo e tira uma bússola lá de dentro e se orienta assim no meio da selva ou do deserto ou das cavernas quando os inimigos estão bem próximos, porque os inimigos estão vindo e é melhor você ficar esperto, quase todo mundo tem inimigos, todo mundo que importa tem inimigos, uma pessoa sem inimigos é uma pessoa da qual é melhor desconfiar, até Jesus tinha inimigos, como Caifás, Caifás era um puta inimigo de Jesus, e Caifás era um tremendo cretino, na Mishná fazem um trocadilho com o nome dele e chamam o cretinão de “Ha-Koph”, “O Macaco”, uma boa pessoa com bons inimigos tem ou deveria ter uma boa faca, exceto Jesus, é claro, a posse de uma faca talvez zoasse a mensagem de Jesus, mas estou falando de pessoas normais, terrenas, como eu e os senhores e as senhoras, uma boa pessoa terrena e normal com bons inimigos terrenos e normais tem ou deveria ter uma boa faca, uma faca bacana, e a faca desse sujeito que ouvia vozes não era bacana, não mesmo, a faca que ele pegou era uma faca comum, e não era sequer uma faca muito afiada, porque uma faca pode ser comum e meio gasta, mas afiada, uma faca afiada ainda faz o que se espera dela, isto é, ela corta e perfura, é uma faca útil, uma boa faca, embora comum e meio gasta, mas a faca do sujeito que ouvia vozes era uma faca comum e meio gasta e meio cega, e além de tudo feia, era uma faca muito feia, do tipo que a pessoa sentiria vergonha de levar consigo a uma pescaria, os amigos com tralhas novinhas e facas especiais afiadíssimas, algumas delas táticas, os amigos olhando para aquela faca comum, meio gasta e meio cega, e além de tudo feia, olhando e julgando e rindo e sacaneando, que porra de faca é essa?, vai usar essa faquinha aí?, essa faquinha não abre nem lambari, que faca mais feia você tem, olha como é feia a faca dele, pode até parecer bobagem, mas as pessoas prestam muita atenção nas facas umas das outras, e as pessoas não fazem isso apenas no relaxado e amistoso e aprazível ambiente de uma pescaria, não, as pessoas estão sempre prestando atenção nas facas umas das outras, pois a faca diz muito do caráter do indivíduo, um indivíduo com uma faca comum e meio gasta e meio cega e além de tudo feia é um indivíduo comum e meio gasto e meio cego e além de tudo feio, ao menos de certa forma ou por assim dizer, não literalmente comum e meio gasto e meio cego e além de tudo feio, embora também possa ser, as pessoas estão sempre adiando aquela consulta com o oftalmo, por exemplo, dá uma certa preguiça dilatar a pupila, embora nem sempre a pupila seja dilatada, e assim ficam meio cegas, não é mesmo?, os óculos defasados relativamente ao avanço da miopia, do astigmatismo ou da hipermetropia, e talvez o sujeito que ouvia vozes e pegou a faca, esse sujeito comum e meio gasto e além de tudo feio, fosse também meio cego, porque ele pegou a faca e, ouvindo todas aquelas vozes ou talvez apenas uma voz, sim, podia ser o caso de uma só voz tonitruando dentro da cabeça dele, não são necessárias muitas vozes para enlouquecer alguém, basta uma voz para enlouquecer alguém, uma voz incansável e insistente e desagradável dizendo isso e aquilo, pedindo isso e aquilo, exigindo isso e aquilo, provocando e instigando, basta uma voz tonitruando dentro da cabeça do indivíduo para que tenhamos configurado um caso de loucura esquizofrênica assim bem psicótica, pois as pessoas costumam ou tendem a fazer coisas muito loucas, esquizofrênicas e assim bem psicóticas quando têm uma voz ou várias vozes tonitruando dentro da cabeça, uma voz que não é a voz da própria pessoa, bem entendido, pois estamos sempre ouvindo a nossa própria voz dentro da nossa respectiva cabeça, isso é o normal, o comum, até mesmo o saudável, eu diria, alguém que não ouve a própria voz dentro de sua respectiva cabeça precisa de ajuda médica e psicológica, pode apostar, não sou especialista, mas sei do que estou falando, o problema é quando outra voz ou outras vozes tonitruam dentro da nossa respectiva cabeça, porque essa outra voz ou essas outras vozes, quando tonitrua ou tonitruam dentro da nossa respectiva cabeça, elas nunca são agradáveis ou amistosas, elas nunca dizem coisas bacanas como o seu time será campeão, anota aí os números da Mega-Sena, não esquece de pegar as roupas no varal, acho que a sua vizinha ou o seu vizinho quer transar com você, e se a gente fizesse uma pausa e bebesse um uisquinho?, vou te ensinar a ganhar uma grana extra sem sair de casa, não se preocupe porque o tumor no seu intestino reto é benigno, nada disso, a voz ou as vozes quando tonitrua ou tonitruam dentro da nossa respectiva cabeça, porra, as vozes dizem coisas terríveis, coisas absurdas, coisas nojentas, coisas abjetas, coisas criminosas, as vozes não dizem ajude aquela velhinha a atravessar a rua, as vozes dizem pegue uma marreta e arrebente os joelhos daquela velhinha que quer atravessar a rua para que ela nunca mais atravesse uma rua no pouco que resta de sua vida miserável, as vozes não dizem ajude aquele senhor cego a passar pela catraca do metrô, as vozes dizem pegue uma agulha de crochê e fure os tímpanos daquele senhor cego para que além de cego ele também seja surdo, as vozes não dizem você engravidou a amiga da sua namorada e isso é muito muito feio e é melhor você fazer uma autocrítica violenta e sentir um arrependimento bem sincero e repensar suas atitudes canalhas e suas escolhas estúpidas e confessar tudo para a sua namorada e dizer que sente muito sou uma pessoa imatura boçal babaca irresponsável ao passo que você é uma pessoa madura bacanérrima responsável sensacional e merece alguém maduro bacanérrimo responsável sensacional alguém que não sou eu evidentemente e depois procurar a amiga da sua agora ex-namorada e se desculpar por tê-la embebedado naquele feriadão que vocês passaram na chácara de um parente seu e por ter esperado a sua namorada ir para a cama e por ter levado a amiga bêbada da sua então namorada para a despensa e por ter transado com a amiga bêbada da sua então namorada na despensa e não ter usado camisinha e ter gozado dentro embora ela pedisse especificamente que você não fizesse isso depois de perceber que você não usava camisinha coisa que aliás ela perguntou no começo se você tinha e você mentiu dizendo tenho sim não esquenta vou colocar você deve se desculpar por tudo isso e pedi-la em casamento mesmo que não goste muito dela porque uma criança precisa de um pai e sacrifícios às vezes são necessários, as vozes dizem você engravidou a amiga da sua namorada e é melhor não contar nada para a sua namorada a menos que você queira magoá-la e arruinar a vida dela e se for esse o caso se você quiser magoá-la e arruinar a vida dela conte tudo mesmo e diga que se foda eu também comi a prima da sua mãe e a porcaria da sua professora de pilates e as duas nem sabem chupar uma pica direito e quanto à amiga grávida da sua agora ex-namorada primeiro duvide que o filho seja seu e jogue na cara dela que ela é uma vadia que andou trepando com meio mundo é isso mesmo você não passa de uma piranha e depois encha o saco dela para que faça um aborto e quando ela chorar e pedir dinheiro para o procedimento diga a ela que procure outro otário com quem tenha trepado porque ela trepou com meio mundo você dirá mesmo que não seja verdade ou sobretudo se não for verdade você dirá é óbvio que o filho não é meu e ela se quiser que aborte por conta própria ou tenha a criança sozinha quem se importa e depois te processe e peça um exame de DNA e se for o caso isto é se por azar você for o pai da criança ela que exija uma pensão e que se foda, as vozes não dizem vá à igreja amanhã e confesse e se arrependa de seus pecados e comungue e se esforce para ser uma pessoa melhor, as vozes dizem ouça Burzum e queime uma igreja de preferência com pessoas lá dentro incluindo padres e freiras e o filho coroinha do seu vizinho, as vozes não dizem está vendo aquele candidato a um importante cargo público ele é uma má pessoa e você precisa conversar com as pessoas e argumentar com calma e mostrar que aquele candidato a um importante cargo público é uma má pessoa e é melhor votar em outro candidato que não seja tão má pessoa ou quem sabe anular o voto qualquer coisa é melhor do que votar naquele candidato má pessoa a um importante cargo público desde que o processo democrático seja respeitado e as pessoas possam discordar de forma civilizada e respeitosa, as vozes dizem pegue uma faca nem precisa ser uma boa faca nem precisa ser uma faca dessas que os soldados de elite usam nos filmes pode ser uma faca comum e meio gasta e meio cega e além de tudo feia pegue a porcaria dessa faca comum e meio gasta e meio cega e além de tudo feia e procure aquele candidato má pessoa a um importante cargo público e enfie a porcaria dessa faca comum e meio gasta e meio cega e além de tudo feia no bucho cheio de bosta e ruindade do candidato má pessoa a um importante cargo público enfie a faca com vontade faça isso agora e que se fodam as consequências mas aconteça o que acontecer seu louco desgraçado dos infernos que ouve vozes dentro da sua cabeça aconteça o que acontecer não se esqueça de girar a porcaria dessa faca comum e meio gasta e meio cega e além de tudo feia porque se você enfiar a porcaria dessa faca comum e meio gasta e meio cega e além de tudo feia no bucho cheio de bosta e ruindade do candidato má pessoa a um importante cargo público se você enfiar mas não girar a porcaria dessa faca comum e meio gasta e meio cega e além de tudo feia tudo isso terá sido em vão seu louco burro desgraçado dos infernos que ouve vozes dentro da sua cabeça em vão está me entendendo tudo isso terá sido em vão, porque era uma vez, e nem foi uma vez tão boa assim, foi uma vez horrível, na verdade, uma vez hedionda, fedorenta, bizarra, uma vez malcheirosa, uma vez com bodum de mertiolate e merda, era uma vez essa vez e, nessa vez que era uma vez, era uma vez um sujeito que ouvia vozes e esse sujeito que ouvia vozes pegou uma faca, e nem era uma faca tão boa assim, não, era a porcaria de uma faca comum e meio gasta e meio cega, e além de tudo feia, esse sujeito que ouvia vozes pegou essa faca e invadiu uma festinha muito pobre e muito fodida, uma festinha das mais molambentas, cheia de gente mal vestida, maquiada em excesso e ouvindo músicas sem noção, esse sujeito invadiu a porcaria dessa festinha, mas não matou ninguém, só cantou parabéns, comeu uma fatia de bolo, elogiou o bolo, fez uma coisa, agradeceu pela festa e foi embora, pois o sujeito ignorou as vozes, ignorou em parte, e, usando aquela faca comum e meio gasta e meio cega, e além de tudo feia, o sujeito, depois de comer e elogiar o bolo, mas antes de agradecer pela festa e dar o fora, o sujeito fez uma coisa, e essa coisa que ele fez foi sacar a faca comum e meio gasta e meio cega, e além de tudo feia, e fincar essa faca no chão e abrir os braços e, com lágrimas nos olhos, dizer: Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou aqui pedindo a sua ajuda, me dê uns trocados, pode ser moedinha, pode ser vale-transporte, se é que ainda existe vale-transporte, faz muito tempo que não uso o transporte urbano coletivo, fiquei fora por uns tempos, internado em uma belíssima instituição, meus familiares me internaram nessa belíssima instituição para que as vozes que tonitruam dentro da minha cabeça parassem de tonitruar dentro da minha cabeça, e elas pararam por um tempo, foi muito bom, eu adorei ouvir apenas a minha própria voz dentro da minha cabeça, mas agora as outras vozes voltaram, isso talvez tenha a ver com as medicações que parei de tomar porque as medicações me deixavam brocha e me davam caganeiras terríveis, caganeiras épicas, a ausência de libido eu conseguia suportar, pois sou uma pessoa comum e meio gasta e meio cega, e além de tudo feia e maluca que ouve vozes, não é como se eu fosse sair por aí comendo uma mulher atrás da outra, mesmo mulheres comuns e meio gastas e meio cegas, e além de tudo feias, o mais provável é que eu só consiga comer alguém mediante um acerto financeiro prévio, daí eu estar aqui diante de vocês pedindo uns trocadinhos, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas só quero uns trocadinhos para somar aos trocadinhos que já tenho e, quem sabe, mediante um acerto financeiro prévio, comer uma buceta após todos esses anos afastado do convívio social com as pessoas ditas funcionais ou saudáveis ou sei lá como se chama hoje em dia, pode ser quanto for, não importa, qualquer valor ajuda, qualquer ajuda é válida, estou aqui pedindo a sua ajuda para completar a mensalidade da academia porque eu quero comer a professora de pilates da minha namorada, não, brincadeira, não quero, não, aquela não sabe nem chupar uma pica direito, estou aqui pedindo a sua ajuda para comprar uma faca dessas que os soldados de elite usam nos filmes, tipo a faca do Rambo em Rambo II, tipo a faca do tenente-coronel John Matrix em Comando para matar, uma faca daquelas táticas, acho que é assim que eles chamam aquelas facas especiais, uma faca tática, com aquela lâmina fodástica e serrilhadinha num dos lados, o tipo de faca que você desatarraxa a tampa do cabo e tira uma bússola lá de dentro e se orienta assim no meio da selva ou do deserto ou das cavernas quando os inimigos estão bem próximos, porque os inimigos estão vindo e é melhor você ficar esperto, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou aqui pedindo a sua ajuda, e que Deus te dê em dobro e te abençoe e abençoe toda a porra da sua família, amém, porque era uma vez, escuta só isso que vou contar para vocês, já estou terminando, senhor, pare de gritar, por favor, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas só quero uns trocados e contar essa história para vocês, era uma vez, e nem foi uma vez tão boa assim, foi uma vez horrível, na verdade, uma vez hedionda, fedorenta, bizarra, uma vez malcheirosa, uma vez com bodum de mertiolate e merda, e essa vez foi uma vez tão ruim que acabou com todas as vezes, e a gente se estrepou, todo mundo se estrepou, eles me prenderam e me internaram, foi uma internação do tipo compulsória, por isso me dê uma ajudinha, me dê uma ajudinha para que eu possa procurar uma mulher, uma profissional da área que não sinta um nojo excessivo da minha pessoa, para que, mediante um acerto financeiro prévio, eu possa comer a buceta dessa mulher que não sinta um nojo excessivo da minha pessoa, pois, no momento, não estou ingerindo meus medicamentos e, por conseguinte, ostento esta irrefreável ereção e não passo por nenhum episódio de caganeira, me dê uns trocadinhos ou eu juro que pegarei essa faca que finquei aqui no chão, e vejam, percebam, não se trata de uma faca bacana, não se trata de uma faca tática, é uma faca comum e meio gasta e meio cega, e além de tudo feia, me dê uma ajuda ou eu juro que pegarei a porcaria dessa faca e enfiarei aqui no meu bucho, é, bem aqui, e não se esqueça de girar, seu louco desgraçado dos infernos que ouve vozes dentro da sua cabeça, eu sou uma voz dentro da sua cabeça, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas só estou aqui falando dentro da sua cabeça, estou aqui implorando, não se esqueça de girar a porcaria da faca, e que Deus te abençoe e te dê em dobro, foda-se, obrigado pela festa, pessoal, o bolo estava mesmo uma delícia e eu realmente preciso comer a buceta de uma mulher profissional da área que não sinta um nojo excessivo da minha pessoa mediante um acerto financeiro prévio, então, por favor, que tal uns trocadinhos?
******
[Imagem: Wojciech Fangor, nº 48 (1963, óleo sobre tela).]