Entrevistei a escritora Sarah Pinborough, autora de Por trás de seus olhos, para o Blog da editora Intrínseca. Leia AQUI.
Pinborough
Ashbery
O poeta norte-americano John Ashbery faleceu há poucos dias, aos noventa anos de idade. Traduzir os dois poemas abaixo foi uma aventura silenciosa e reconfortante. Espero não ter incorrido em muitos erros, e agradeço às leituras e sugestões de Maira Parula e Martim Vasques da Cunha.

….
ABSTENÇÕES
Não o tímido turista, saltitando nos salinos degraus de Roma —
A Piazza Venezia de um ônibus, as emoções transparentes passam.
As minas antigas. Não
Algo apenas que se assemelhe a uma parte dela
Mas tudo isso como não sendo. A voz
“Por favor diz que me ama” falou,
Os monumentos ferríferos à deriva,
Os arcos pregados na madeira,
As cavernas, punhos cegos,
Verdes algas na água negra e azul,
E dos amigos a precisão entusiasmada,
“O homem que vê uma nuvem em Schenectady
Afeta alguém que ele não conhece do outro lado do globo,
que o procura,
E devemos ter aquela rosa, à parte o trabalho do holandês.”
Torres azuis, guinchos, as rosas cegas passam.
Assim temos essas poucas coisas.
Era uma tarde ou noite de verão, a glória estava na gôndola
Na percussiva lua de mel.
Mas ele pensou nas noites os lares arruinados
As lágrimas de ouro derramadas por ele.
Assim temos esses tijolos brancos.
A noiva vestia branco…
Ele veste um terno branco, carrega um jornal branco e uma maçã, suas
mãos e face são brancas;
As nuvens escarnecem mas seguem velejando no céu branco.
….
A MAQUINARIA DO CHATEAU
Era sempre novembro lá. As fazendas
Eram uma espécie de distrito policial; um certo controle
Fora exercido. Os passarinhos
Costumavam se reunir ao longo da cerca.
Era o grande “como se”, o dia como foi,
As excursões da polícia
Enquanto eu exercia minhas funções corporais, querendo
Nem fogo nem água,
Vibrando ao beliscão distante
E me revelando do jeito que sou, revelando-me para saudar você.
….
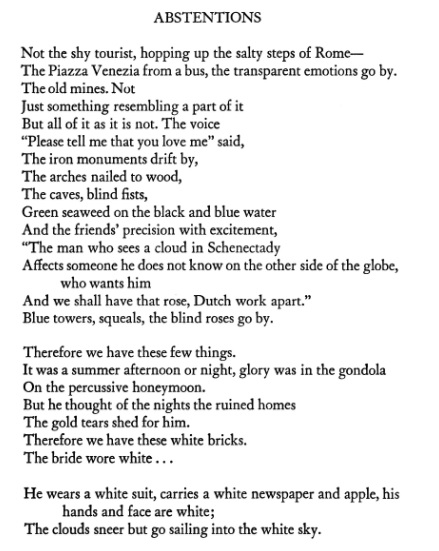
….
THE CHATEAU HARDWARE
It was always November there. The farms
Were a kind of precinct; a certain control
Had been exercised. The little birds
Used to collect along the fence.
It was the great “as though,” the how the day went,
The excursions of the police
As I pursued my bodily functions, wanting
Neither fire nor water,
Vibrating to the distant pinch
And turning out the way I am, turning out to greet you.
Uma visita à sala de dissecação
“Dir-se-ia, pela gravidade do rosto, que tinha o mundo
dentro da cabeça. Mas nada saía dela (…).”
– Gustave Flaubert, em A Educação Sentimental.
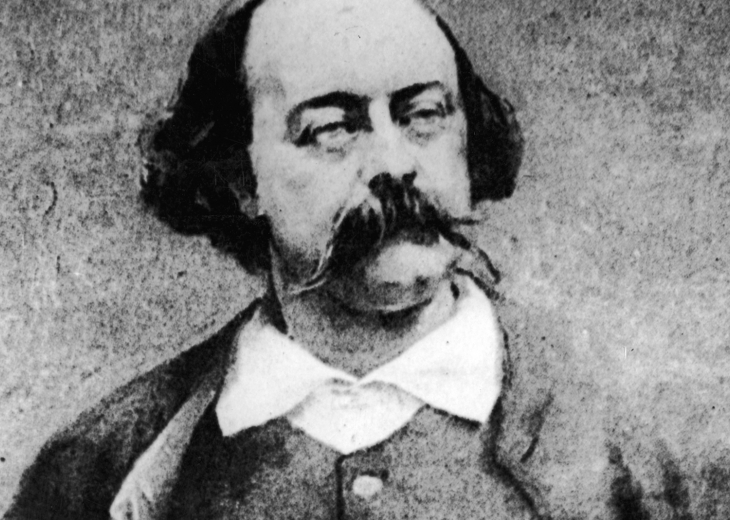
Em sua introdução a Madame Bovary, Geoffrey Wall repassa algumas informações biográficas acerca de Gustave Flaubert. Filho de um médico de província, diretor e cirurgião-chefe do hospital municipal de Rouen, Flaubert residia com a família na ala residencial do hospital. Nas palavras de Wall: “Do outro lado do muro do jardim em que ele brincava na infância, amontoavam-se os cadáveres na sala de dissecação”. Tal imagem pode muito bem ser aplicada à ficção flaubertiana e, mais especificamente, ao romance A Educação Sentimental. Dada a enorme e desfolegada proliferação de personagens e acontecimentos, por meio da qual parece suceder um amontoamento de coisas e pessoas, é impossível não pensar nos cadáveres empilhados naquela sala de dissecação, e em Flaubert como uma espécie de dissecador. O que ele eviscera é o próprio passado.
Publicado em 1869, após sete anos de trabalho, A Educação Sentimental pode, de fato, ser lido como uma espécie de acerto de contas do autor com o passado, seu, de seus contemporâneos e, vale dizer, da própria França. Em uma carta redigida quando trabalhava no romance, Flaubert fala sobre o desejo de escrever a “história moral da minha geração”. E não se trata de uma geração qualquer, mas daquela que assistiu à queda de uma dinastia com a Revolução de Julho de 1830, quando foi jogada a pá de cal na Revolução Francesa, a um turbulento período republicano, ao agravamento das diferenças entre as diversas classes constituintes daquela República e, por fim, à subida ao trono de um monarca oportunista – Napoleão III – que soube, como poucos, jogar com as cisões e estremecimentos do país.
Samuel Titan refere-se à Educação Sentimental como “o romance do fim da aventura”. Isso é justificado porque, segundo ele,
o leitor não tardará a notar que, nas páginas deste romance, as coisas decerto proliferam, mas parecem fatidicamente dar em nada: o amor se complica e se desdoura, a revolução soçobra, os negócios fracassam. O crítico Georg Lukács captou esse ponto com precisão ao notar que o tempo, neste romance, não põe, só decompõe.
A bola levantada por Titan diz respeito às distinções traçadas pelo húngaro n’A Teoria do Romance. Usando a vocabulário lukacsiano, o livro de Flaubert seria um exemplar do “romantismo da desilusão”, algo distante, por exemplo, da épica. Nesta, tínhamos relatadas as ações dos heróis, isto é, a aventura. E, de fato, conforme também aponta Titan, “a aventura foi desde sempre – desde Dom Quixote e Robinson Crusoé – o eixo central da forma romanesca”. E o que Flaubert faz? Renuncia à aventura, afirmando, assim, “que nossas vidas já não se pautam por ela”. A Educação Sentimental é pautado não pela aventura, mas por uma série de não-ações (ou de ações frustradas) e de estados anímicos. A vida é mantida em suspensão, e os personagens flutuam pela existência, margeando a História, uma vez que seus ideais, ou melhor, a sua alma é tão mais vasta do que o mundo. Tentarei explicar isso melhor.
No “romantismo da desilusão”, há uma inadequação entre a alma e o mundo. Antes, no “idealismo abstrato”, no Dom Quixote, por exemplo, tal inadequação era observada mediante um estreitamento da alma em relação ao mundo, conforme aponta o próprio Lukács (p. 106):
Assim, esse primeiro grande romance da literatura mundial (o Quixote, evidentemente) situa-se no início da época em que o deus do cristianismo começa a deixar o mundo; em que o homem torna-se solitário e é capaz de encontrar o sentido e a substância apenas em sua alma, nunca aclimatada em pátria alguma; em que o mundo (…) é abandonado em sua falta de sentido imanente (…)
Num contexto desses é que “o mais puro heroísmo tem de tornar-se grotesco”. Quixote procura por aventuras grandiosas, mas o mundo só lhe oferece moinhos de vento.
No século XIX, verificaremos uma diferente forma de inadequação entre alma e realidade, “que nasce do fato de a alma ser mais ampla e mais vasta que os destinos que a vida lhe é capaz de oferecer”. Pois é justamente isso que observamos no protagonista de A Educação Sentimental: a história de Frédéric Moreau é o atribulado desenrolar de uma derrota, a lenta e inclemente desintegração dos sonhos e ilusões, a falência de tudo aquilo em que ele se fiava, o esfarelamento de suas paixões, uma após a outra.
No romance, acompanhamos Moreau patinhando desde 1840, em plena Monarquia de Julho, até 1867, ou seja, quase vinte anos após os desastres de 1848. É verdade que há uma elipse entre 1851 e 1867, sendo que nos vemos nesta última data apenas nos dois últimos capítulos, quando o protagonista tem um breve reencontro com a sua grande e irrealizada paixão, a Sra. Arnoux, e depois faz um balanço desolador dos anos passados em uma conversa com seu velho amigo Deslauriers. Os dois culpam “o acaso, as circunstâncias, a época em que tinham nascido” pelo naufrágio de seus planos e ideais, e a “grande” lembrança que compartilham é uma visita malograda a um prostíbulo em 1837.
Moreau seria alguém condenado à frustração, paralisado, muitas vezes incapaz de agir. Nisso, também, o “romantismo da desilusão” de Flaubert se diferencia do “idealismo abstrato” de um Miguel de Cervantes. Ambos, conforme já dissemos, dizem respeito a um descompasso entre interioridade e exterioridade, entre alma e mundo, mas, e assim coloca Lukács (p. 118), “o idealismo abstrato, para de algum modo poder existir, tinha de converter-se em ação e entrar em conflito com o mundo exterior” (pensemos na condição do Quixote, encarnando um herói de cavalaria no indiferente mundo real), ao passo que, no “romantismo da desilusão”, ocorre, sim, “uma tendência à passividade” e de “liquidar na alma tudo quanto se reporta à própria alma”, esquivando-se das “lutas e conflitos externos”.
Moreau seria tão alter ego de Flaubert quanto aquela Emma Bovary. De fato, e inclusive biograficamente (a sra. Arnoux é a recriação ficcional da “sempre amada” de Flaubert, a sra. Schlésinger, por exemplo), há inúmeras correlações entre autor e personagem. É interessante observar, entretanto, que eles diferem em algo importantíssimo. Nas palavras de Dolf Oehler em O fracasso de 1848 (ensaio que abre o volume Terrenos Vulcânicos), “Frédéric difere de Gustave na medida em que não supera sua neurose por meio da criação” (p. 14). Logo, e nisso seguimos com Oehler, ao se pôr a “determinar as relações entre o fracasso individual e o fracasso de classe no contexto da revolução de 1848”, Flaubert retraça “uma experiência ao mesmo tempo singular e universal” e, por meio dela, alcança uma emancipação “de sua própria existência burguesa”.
Ainda sobre as relações entre fracasso individual e fracasso de classe, Oehler nos fornece um belo exemplo ao digressionar sobre a passagem do romance em que Moreau, em meio aos eventos de junho de 1848, é instado pelo sr. Arnoux a montar guarda em seu lugar porque ele vai visitar Rosanette, amante de ambos. Mais tarde, tendo a chance de matar o rival, Moreau não o faz e, pior do que isso, entrega a própria sorte ao acaso. Afinal de contas, ele pensa, dadas as circunstâncias, aquele homem poderá morrer a qualquer momento, não? Depois, visitará Rosanette e insistirá para que ela escolha entre ele e Arnoux. Levando-se em conta que o seu proclamado grande amor não é aquela, mas a sra. Arnoux, observamos o protagonista fazer duas escolhas emblemáticas: fugir com a amante para o interior, dando as costas para a insurreição, e, concomitantemente, optar pela prostituta em detrimento de sua grande paixão. Com isso, escreve Oehler (p. 24), Moreau “torna-se o silent partner da reação mais sanguinolenta”. O seu comportamento de prostituto é análogo à prostituição da própria República, corroída por dentro por seus partidários que, no momento decisivo, acovardaram-se ridiculamente, abrindo caminho para o morticínio e para Luís Bonaparte. Levando a analogia a um extremo psicanalítico (que D’us nos proteja, mas vamos lá), Oehler pontua (p. 26):
Frédéric é tão incapaz de embate direto com o pai como de separação da mãe (simbolizada pela sra. Arnoux): ele sonha com enganá-lo e matá-lo, porém precisa dele para manter vivo o fantasma de que um dia possuirá a senhora Arnoux (mas com a garantia de não poder consumar isso).
Assim, ele opta por fugir de Paris, da República, da tentação incestuosa e, levando consigo Rosanette, esconder-se na floresta de Fontainebleau. Há, portanto, um “duplo trabalho de repressão, erótico e histórico”. Moreau fracassa “em razão de sua fixação edípica e da debilidade de seu ego”, fazendo da própria existência uma “sequência de veleidades poético-revolucionárias e de covardes mesquinharias”. Com isso, os cadáveres empilhados na sala de dissecação vistos por Flaubert em criança justificam-se, aqui, como a imagem possível do passado de seu personagem. Mas, não custa reiterar, o trabalho de evisceração cabe a Gustave Flaubert, não ao walking dead Frédéric Moreau.
……
BIBLIO
FLAUBERT, Gustave. A Educação Sentimental. Tradução: Adolfo Casais Monteiro. São Paulo: Nova Alexandria, 2009.
_________________. Madame Bovary. Tradução: Mario Laranjeira. São Paulo: Penguin/Companhia das Letras, 2011.
LUKÁCS, Georg. A Teoria do Romance. Tradução e apresentação: Jorge de Almeida. São Paulo: Editora 34/Livraria Duas Cidades, 2000.
OEHLER, Dolf. Terrenos Vulcânicos. Tradução: Samuel Titan Jr., Márcio Suzuki, Luís Repa, José Bento Ferreira. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
TITAN JR., Samuel. Gustave Flaubert – A Educação Sentimental. Artigo publicado pela Revista Bravo!, edição de outubro/2009. São Paulo: Editora Abril.
Fantasmas de setembro
Resenha publicada em 02.09.2017 no Estadão.

“Nada neste momento fatídico é o que parece ser”, lemos a certa altura de O Último Grito, romance do octogenário norte-americano Thomas Pynchon. Situado em Nova York no começo do século XXI, antes, durante e logo após o Onze de Setembro, o livro é um belo exemplar da prosa movediça do autor de obras-primas como O Arco-Íris da Gravidade e Mason & Dixon.
Fiel ao seu estilo, em que alta e baixa culturas se esbarram o tempo inteiro e a paranoia é o alimento que os personagens mastigam e engolem todos os dias no café da manhã, Pynchon investe em uma narrativa que usa terrorismo e realidade virtual como ganchos para explicitar o quão pouco confiável é o que se apresenta aos nossos olhos, estando ou não conectados. Como nada é o que parece ser, o leitor é convidado a participar dessa “experiência de se perder construtivamente”: a história avança, veloz e intrincada, mas o que importa não é tanto a trama detetivesca, mas os elementos fantasmagóricos, próprios de uma realidade fugidia, que vemos nas entrelinhas do discurso, nas ironias e digressões que pululam em suas páginas.
De certo modo, há duas protagonistas em O Último Grito. A primeira delas é Nova York. A cidade é devassada pelas andanças dos personagens e depois eviscerada feito um organismo vivo pelos atentados terroristas de 2001, os quais são revisitados sob um ponto de vista doméstico, mas jamais domesticado ou óbvio, no capítulo 29. Após “cerca de trinta e seis horas de estupefação, recomeçam os ódios étnicos tradicionais, com a ferocidade tóxica de sempre”.
A outra protagonista é Maxine Tarnow, uma investigadora de fraudes que, fazendo um favor para um amigo, é sugada para um labirinto tipicamente pynchoniano. No centro (ou nas sombras) da intriga, está um sujeito chamado Gabriel Ice e sua empresa de segurança informacional, hashslingrz (assim mesmo, em minúsculas), que não só sobreviveu ao estouro da bolha da internet como tem inchado, abocanhando a concorrência, e isso graças a relações obscuras, quiçá criminosas, com governos, entidades e figuras suspeitas, inclusive do Oriente Médio.
Em sua investigação, Maxine esbarra em uma fauna das mais coloridas: hackers, bandidos russos, espiões a serviço sabe-se lá de quem e por aí afora. Conspirações e interesses se acotovelam, gente aparece morta aqui e ali, e ao menos duas reaproximações (entre Maxine e o marido, e entre uma mãe e sua filha) têm lugar. A protagonista também mergulha em um tour de realidade virtual chamado DeepArcher, “um outro labirinto” localizado na deep web e descrito como “um caminho invisível que se autorrecodifica” – descrição que serve muito bem ao próprio romance.
Como sempre, Pynchon costura com habilidade os desdobramentos da trama, chamando a atenção sobretudo para o que deixa inexplicado, obscuro e inconcluso. Atente-se, por exemplo, para a cena doméstica na qual a insegurança de uma mãe em relação aos filhos (que decidem ir sozinhos à escola) remete àquele receio generalizado, típico de quem vive em circunstâncias nas quais o terror se insere no próprio tecido da realidade, confundindo-se com ela a ponto de transformá-la em outra coisa, que ainda não sabemos o que é. É graças a passagens assim que a narrativa rocambolesca de O Último Grito acaba se revelando uma sofrida reflexão acerca dos rumos do mundo em meio à violência galopante e ao crescente obscurantismo deste século.
A parte do fogo
Originalmente publicado em 10.10.2014,
lá no Pelé Calado.

Cariocas.
Se eu pudesse escolher um time carioca pelo qual torcer, escolheria o Botafogo. Acho o Flamengo, como todo fenômeno de massa, tedioso (embora tenha em sua história um dos melhores que vi jogar, Zico). O Fluminense, com seus rebaixamentos contraídos e não pagos, gols de barriga, chicanas jurídicas e parreirices variadas, que me perdoem os tricolores, nunca teve o meu respeito. Tenho algum carinho pelo Vasco da Gama, e é uma pena que o clube tenha sido estrangulado por uma sucessão de gestores ineptos (para dizer pouco), coisa que também se aplica ao Botafogo, o mais encrencado financeiramente entre eles.
Batalha campal.
Anteontem, assisti a Botafogo x Palmeiras. Por morar em Perdizes, a dez minutos do Palestra, ou melhor, Allianz Parque, achava que, correndo à janela e berrando PORCOOOO a cada gol palmeirense, ganharia algum desconto no IPTU. Não é o caso, evidentemente, mas tenho acompanhado com desgosto a luta do time, em pleno ano do centenário, contra outro rebaixamento. Seu Angelo, o barbeiro, primeira amizade que fiz no bairro tão logo me mudei, não merece passar por isso de novo, e sequer tem idade ou saúde para tanto. Mas, do outro lado, em situação até pior, estava o Botafogo. Eu não sabia por quem torcer. O empate, é claro, seria péssimo para ambos.
O jogo foi uma batalha campal desesperada e desesperadora, cujo nível técnico explicou, didaticamente, por que os times se encontram em tal situação. Vi partidas melhores na Javari, em dias de chuva torrencial. O Palmeiras venceu por um a zero, e teve duas chances claríssimas de ampliar o placar e dar algum sossego ao coração do seu Angelo nos minutos finais, mas é óbvio que não o fez.
Glorioso.
No Campeonato Carioca de 1910, que venceu, o Botafogo marcou 66 gols e ganhou o apelido de Glorioso. Ao longo dos meus trinta e quatro anos de vida (completo 35 em janeiro; aceito camisa do Botafogo como presente), tenho a impressão de não ter visto (ou tomado ciência) de tantos gols do alvinegro, muito embora Túlio (159 gols, se a conta estiver certa) e Dodô (90 Gols Bonitos™) me desmintam facilmente.
Seja como for, no decorrer de sua história, o time amargou longos períodos de seca (1912-30, 1968-1989) e não vence uma competição nacional desde 1995. Foi rebaixado no Brasileirão em 2002, voltou à primeira divisão no ano seguinte e por muito pouco não voltou cair em 2004, ano do centenário.
Salários atrasados, dívidas enormes, estádios vazios (é como se o botafoguense preferisse ficar em casa, em quiet desperation) e, de novo, a ameaça do rebaixamento. Não há nada de glorioso no atual momento do Botafogo. Mas, vendo o time em campo, entregue a uma tarefa complicadíssima, talvez impossível, pensei na cena final de Heleno, em que o protagonista, alquebrado e doente, concentra o que ainda resta em si de vontade para manter-se de pé e chutar uma bola, a derradeira. Não vemos o chute, mas é impossível conceber que, mesmo tendo queimado tão rapidamente, o grande Heleno de Freitas não tenha, ali, convertido o que seria o 269º gol de sua carreira.
Caráter.
Diz-se que arquibancada forma caráter. Eu diria que derrotas formam caráter. Aprender a suportá-las, compreendê-las e mesmo acolhê-las é o que pode fazer de um mero torcedor um torcedor fiel e justo.
No Brasil, há o hábito nojento de jamais aceitar uma derrota (a culpa é do juiz, do bandeirinha, do gramado, do técnico, de um ou outro jogador, do clima, do horóscopo, de Deus etc.). Mas, no botafoguense, talvez em função daquele peso histórico excruciante, as secas intermináveis, percebo não uma resignação, mas uma resiliência silenciosa. Acho que isso denota caráter.
O botafoguense sabe que a noite é longa, e que ela se arrasta.
Fogo.
Heleno, mesmo doente, equilibrando-se como pode, mantém os olhos fixos na bola. Ele mesmo não sabe se conseguirá alcançá-la, quanto mais chutá-la, mas lhe parece impossível, pecaminoso, concentrar-se em qualquer outra coisa. Há que se manter de pé enquanto for possível. Há que se buscar a bola, capturá-la, de novo e de novo. Há que se deixar arder mais do que o próprio fogo.
Você e eu somos reais, não somos?

David olhava pela janela. — Teddy, sabe no que é que eu estava pensando? Como é que a gente distingue as coisas que são reais das que não são?
O ursinho rearranjou suas alternativas. — Coisas reais são boas.
— E será que o tempo é bom? Eu acho que a mamãe não gosta muito do tempo. Outro dia, muitos dias atrás, ela disse que o tempo estava passando. Será que o tempo é real, Teddy?
— Os relógios marcam o tempo. Os relógios são reais. A mamãe tem relógios, logo ela deve gostar deles. Ela tem um relógio no pulso, ao lado do sintonizador.
David tinha começado a desenhar um avião no verso da carta. — Você e eu somos reais, não somos, Teddy?
Os olhos do ursinho encararam o menino sem pestanejar. — Você e eu somos reais, David. — Era especializado em oferecer conforto.
Brian Aldiss (1925-2017), falecido no último dia 19. Que descanse em paz.
O trecho é do conto Superbrinquedos duram o verão todo.
Tradução: Beth Vieira. Cia. das Letras, 2002.
Não se preocupe
“Eu morava numa casa de oitocentos metros quadrados dispostos em quatro pavimentos. O que inviabilizou nossa permanência nessa casa foi meu pai ter sido colocado em definitivo na cadeira de rodas. A entrada nos setenta acelerou uma debilitação que até então fora branda, um calmo exercício de evacuação feito pela brigada de incêndio sucedido pelo pânico ante uma combustão real e fora de controle. Os dias falhavam cada vez mais em desmentir que ele estava sendo abandonado por sua máscula soberania, sua presença passou a ser uma ameaça apontada a mim, como se aquela decomposição toda me dissesse, você também não conseguirá evitar quando for sua vez, não se preocupe.”
Trecho do conto Apartamentos, de Eduardo Haak. Leia na íntegra AQUI.
Dr. Bucéfalo
“(…) Hoje — isso ninguém pode negar — não existe grande Alexandre. É verdade que muitos sabem matar; também não falta habilidade para atingir o amigo com a lança sobre a mesa do banquete; e para muitos a Macedônia é estreita demais, a ponto de amaldiçoarem Filipe, o pai — mas ninguém, ninguém, sabe guiar até a Índia. Já naquela época as portas da Índia eram inalcançáveis, mas a direção delas estava assinalada pela espada do rei. Hoje as portas estão deslocadas para um lugar completamente diferente, mais longe e mais alto; ninguém mostra a direção; muitos seguram espadas, mas só para brandi-las; e o olhar que quer segui-las se confunde.”
Franz Kafka, O novo advogado.
Em Um Médico Rural. Trad.: Modesto Carone. Cia. das Letras.
Tezza
Resenha publicada no Estadão em 25.10.2016.

Aos poucos, a crise política, econômica e identitária que o Brasil atravessa começa a se ver refletida na produção literária contemporânea. Não é uma tarefa fácil. Ainda estamos no olho do furacão, e qualquer um sabe o quão fácil é resvalar num tom panfletário ou, pior, lamuriento, em que a perplexidade cega e/ou os vícios ideológicos impossibilitam qualquer rede compreensiva que se procure lançar sobre a nossa realidade. Em A Tradutora, Cristovão Tezza evita todas essas armadilhas – e outras tantas – com uma narrativa inventiva e muito bem costurada.
A personagem-título se chama Beatriz, a mesma que já marcara presença no romance Um Erro Emocional e em alguns contos do autor. Ela acabou de passar por um rompimento amoroso, livrando-se de um relacionamento abusivo com outro velho conhecido nosso, o escritor Donetti, está enfronhada na tradução de um livro do agressivo (e fictício) filósofo espanhol Felip T. Xaveste, encomendada por um editor de São Paulo (com quem almoça a certa altura no Figueira Rubaiyat), e, paralelamente, trabalha por três dias como guia e tradutora de um alemão, executivo da FIFA, em visita a Curitiba meses antes da Copa do Mundo de 2014.
Tezza consegue alternar todos esses planos narrativos sem tropeços, criando quase que uma simultaneidade de eventos e suas consequências psicológicas, brincando com a cronologia e as vozes dos personagens (sempre do ponto de vista de Beatriz) e, ao mesmo tempo, traçando um desenho acurado do Brasil nesta segunda década do século 21.
Observe-se que o momento no qual se passa o romance, com a Copa do Mundo e as malfadadas eleições presidenciais de 2014 à frente e as manifestações de junho de 2013 ainda bem nítidas no retrovisor, oferece um posto privilegiado de observação: a desilusão relativa às “jornadas” já ganhava forma, assim como a crise e a irascibilidade generalizadas dos anos seguintes.
Também é interessante notar como a posição ocupada pela protagonista oferece uma visão dos vários tons e camadas de corrupção inscritos em nosso DNA. Beatriz é uma tradutora e literata, alguém que almeja escrever livros infantis, mas que não hesita em se colocar a serviço de escroques – e até mesmo se relacionar sexualmente com um deles – quando surge a oportunidade. Por esse viés, e também pelo que ouvimos dos outros personagens, o escritor Donetti, o editor paulista, é bem fácil perceber a subserviência pragmática e, no limite, a pusilanimidade do intelectual brasileiro, exploradas com sutileza e bom humor ao longo do romance.
O executivo alemão tem um papel importante nesse jogo de espelhos. Ele sempre parece ter algo que escapa a Beatriz e, por decorrência, ao leitor, mesmo quando age e fala de forma frívola, como um turista deslumbrado. Mas é a partir dos contrastes com esse forasteiro e também com a voz estrangeira do filósofo Xaveste, que volta e meia invade o texto, que Beatriz alcança alguma perspectiva, ainda que fugidia, de sua condição e A Tradutora se coloca com maior firmeza.
Cristovão Tezza não oferece respostas, e este nem seria o seu trabalho, mas estabelece um solo no qual, com o devido cuidado, talvez algum dia possamos semear um questionamento honesto acerca de nós mesmos, dos modos como nos relacionamos e do país em que vivemos.
Cidade pesadelo
Texto publicado n’O Popular em 08.08.2017.

Há um conto do escritor norte-americano Dashiell Hammett (1894-1961) em que a própria cidade parece ser um organismo corrupto e assassino. Salvo engano (não estou com o livro à mão), o título é “Cidade Pesadelo” e pode ser encontrado em A Mulher do Bandido e Outras Histórias, lançada no Brasil pela editora L&PM, com tradução de Heloísa Seixas, Alexandre Raposo e Roberto Muggiati.
No conto, os protagonistas lutam não só contra o chefão criminoso que controla o lugarejo, mas também contra o próprio lugarejo, que lança suas sombras sobre eles e a todo momento insiste em expô-los e jogá-los ao encontro dos inimigos. É como se a cidade estivesse viva, e não valesse muita coisa. Ou, por outra, é como se o humano, no que tem de pior, contaminasse até mesmo as ruas e os edifícios, cada mísero pedaço de concreto, cada parede do lugar.
Algo dessa atmosfera ecoa no belo filme Ajuste Final, talvez o mais subestimado dos irmãos Joel e Ethan Coen. Como eles próprios fizeram questão de ressaltar em entrevistas à época do lançamento (nas quais também citavam a obra de outro grande escritor, James M. Cain), há a ideia de uma cidade inteiramente tomada pelo crime, em que a violência não só grassa livremente como, de certa forma, define o que é o ambiente. Não me lembro de ninguém que não seja corrupto no filme dos Coen. Todos respiram o mesmo ar.
Anos atrás, quando li o romance 2666 (traduzido por Eduardo Brandão e lançado no Brasil pela Companhia das Letras), do chileno Roberto Bolaño (1953-2003), ocorreu-me pensar na cidade mexicana de Santa Teresa — versão ficcionalizada de Ciudad Juárez — como análoga ao vilarejo criado por Hammett. Creio que a comparação se sustenta.
Dominada por narcotraficantes, Ciudad Juárez já chegou a contabilizar mais de três mil assassinatos por ano. O número diminuiu de uns tempos para cá, mas ela ainda é uma das cinquenta cidades mais violentas do planeta, inclusive pela onda de feminicídios que a assola pelo menos desde 1993. Centenas de mulheres, a maioria pobre, com idades entre 15 e 25 anos, torturadas, estupradas e assassinadas cotidianamente. Dadas a extensão dos crimes e a aparente insolubilidade da maioria deles, é lógico supor que boa parte da cidade e suas instituições estão envolvidas na calamidade, direta ou indiretamente, por omissão. Além dos assassinos de fato, é como se o próprio lugar se voltasse contra uma parcela de seus viventes, não por acaso os mais frágeis e expostos à brutalidade.
Roubando as palavras de um personagem do romance de Bolaño, os feminicídios em Santa Teresa/Ciudad Juárez e a sua narrativa seriam “um retrato do mundo industrial no Terceiro Mundo”. “Todos estão metidos”, diz um personagem. Olhando por esse lado, não custa lembrar dos “industriosos” narcotraficantes e de como eles se apropriam do tecido urbano. Mais uma vez, é aquilo que o conto de Hammett me sugeriu, de como os homens contaminam e corrompem não só outros seres humanos, mas também as ruas e os edifícios pelos quais circulam, roubam, estupram e matam.
Para concluir, transcrevo o que outro personagem de 2666 diz sobre a prisão da cidade: “Mais viva que um edifício de apartamentos, por exemplo. Muito mais viva. Parece, não se espante com o que vou dizer, com uma mulher esquartejada. Esquartejada, mas ainda viva. E dentro dessa mulher vivem os presos”. Se os presos vivem dentro de uma mulher esquartejada, onde estão os demais citadinos? Claro que ao redor dela. Esquartejados, e nem sempre vivos.
