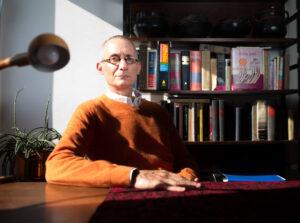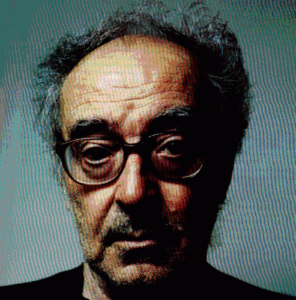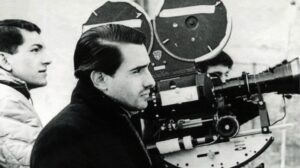Artigo publicado hoje n’O Popular.
Há um pequeno vídeo circulando pelas redes sociais desde a outra semana. É um trecho do documentário O Fórum, de Marcus Vetter, sobre os bastidores da edição 2019 do Fórum Econômico Mundial, em Davos. No trecho em questão, acompanhamos um encontro constrangedor (para nós, brasileiros) entre Jair Bolsonaro e Al Gore, ex-vice-presidente dos EUA. Ernesto Araújo, ministro das relações exteriores do Brasil, está por ali atuando como papagaio de pirata.
Começa com Gore dizendo que é um bom amigo do jornalista e ambientalista brasileiro Alfredo Sirkis (falecido há poucas semanas, a propósito). Bolsonaro responde: “Lá atrás, fui inimigo do Sirkis na luta armada”. Gore tira de letra, retrucando — com ironia — que não sabia disso, e que, portanto, trouxe a “pessoa errada” para a conversa. Bolsonaro complementa afirmando ser “capitão do exército”, e diz: “A história recém passada (sic) no Brasil dos militares foi muito mal contada”. (Impossível discordar disso: tivesse sido bem contada, não teríamos tantos energúmenos pedindo intervenção militar e coisas do tipo.) Gore tenta mudar de assunto e diz estar muito preocupado com a Amazônia, pede desculpas por levantar a questão em uma reunião informal (eles estão em uma espécie de coquetel), mas reafirma que é algo que o preocupa bastante. Jair, então, bolsonariza total: “A Amazônia não pode ser esquecida. Temos muita (sic) riquezas. E gostaria muito de explorá-la (sic) junto com os Estados Unidos”. Assim que o intérprete traduz o que o presidente brasileiro acabou de dizer, a reação de Gore é impagável: “I’m not sure what that mean”, isto é, “Não estou certo do que isso quer dizer” — mas no sentido (e no tom) de: “Eu não acredito que ouvi uma imbecilidade dessas”.
Há uma célebre frase atribuída a Samuel Johnson: “O patriotismo é o último refúgio do canalha”. No Brasil, eu diria que é o primeiro, pois é curioso como um político tão enamorado da histeria patriótica se dispõe a dizer para um ex-vice-presidente norte-americano que “gostaria muito” de “explorar” as enormes riquezas da Amazônia “junto com os Estados Unidos”. A coisa é ridícula e absurda sob todos os aspectos. Gore é um notório defensor das causas ambientais. Mesmo que não fosse, mesmo que estivesse disposto a violentar a Amazônia de braços dados com Jair, ele e os Democratas não estavam no poder na época em que se deu a conversa, assim como não estão agora. O que Bolsonaro esperava ao dizer aquilo para ele? Que espécie de aceno é esse? E que recado ele manda não só para Gore, mas para o mundo inteiro? “Venham, estamos de pernas abertas”?
A (péssima) postura do presidente brasileiro já não é novidade para ninguém. O problema não é só a falta de papas na língua, coisa tão festejada pelos apoiadores quanto contraproducente em termos de governabilidade e estratégia política. O problema é a falta de tato, humanidade e inteligência. Sem falar na cara-de-pau: Sirkis foi para o exílio em 1971, e Bolsonaro só ingressou no exército um ano depois; logo, como eles teriam se “enfrentado”? Ademais, o único registro de “participação” de Bolsonaro na luta armada é o fato de que, aos quinze anos de idade, teria denunciado um suposto campo de treinamento de Carlos Lamarca. Longe de pegar em armas contra os inimigos, ele teria apenas — e “patrioticamente” — bancado o alcaguete. Preciso contar essa pro Al Gore.