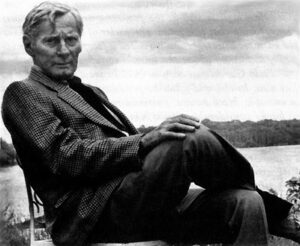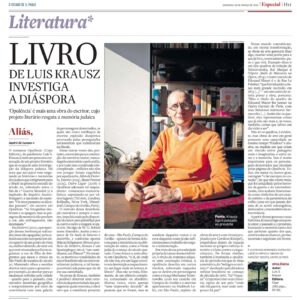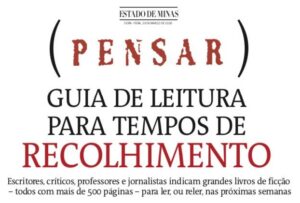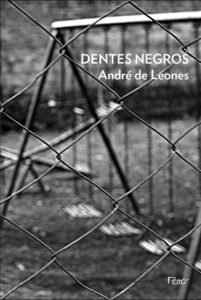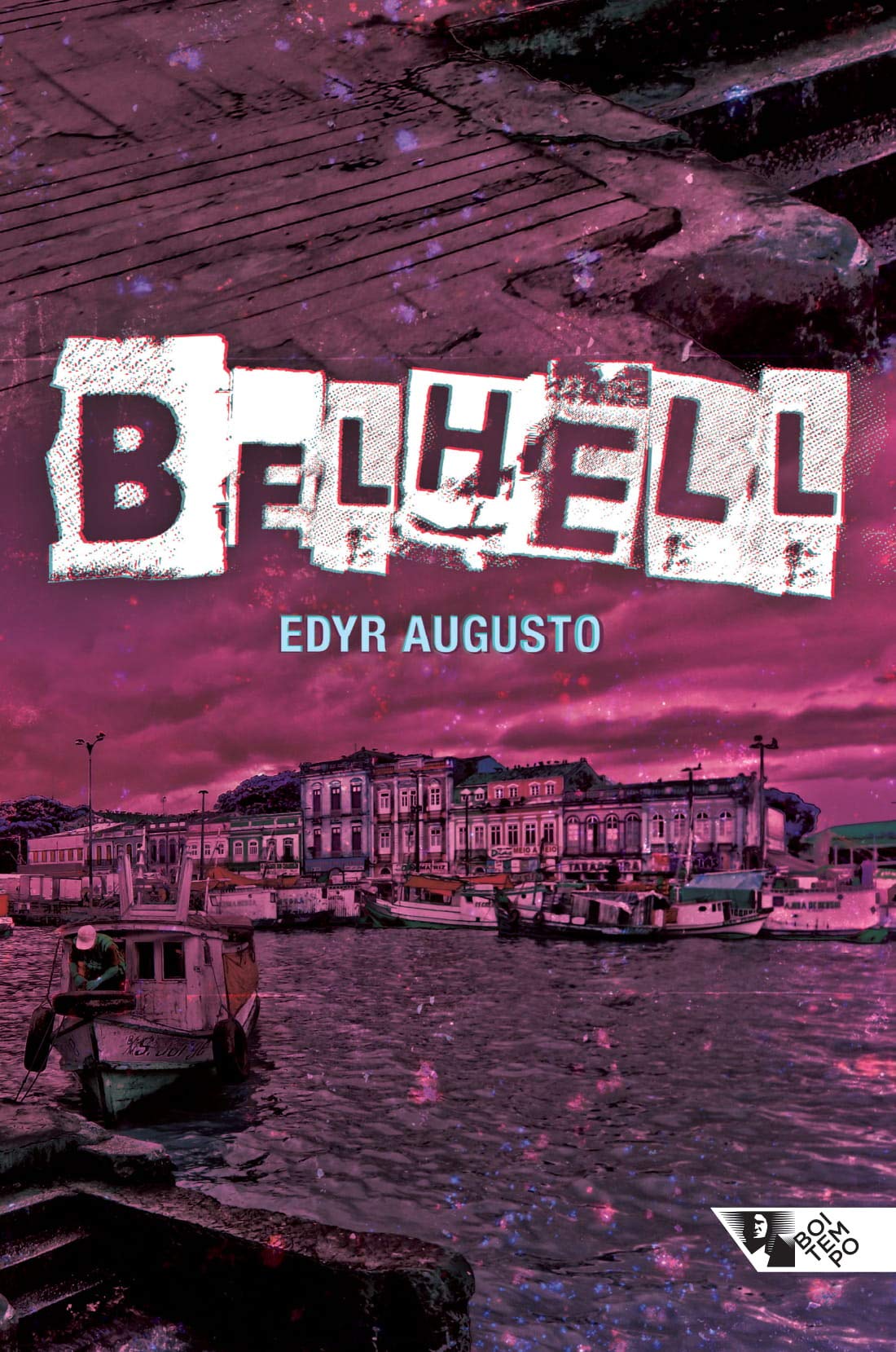::: Os doze narradores de Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo têm em comum “a certeza do efêmero” de que nos fala a epígrafe virgiliana do romance. Não são vozes que nos chegam, mas, conforme aquela estruturação típica em António Lobo Antunes, ecos e estilhaços de vozes coalhados de outras vozes, outros ecos, outros estilhaços. Não é bem uma polifonia, mas o indício de uma derruição, espécie de poliafasia em constante recrudescimento.
::: O romance é dividido em prólogo, três livros e epílogo. A trama envolve as sucessivas viagens de agentes portugueses à Angola pós-independência e ainda (e sempre) em guerra para recuperar diamantes contrabandeados, mas não só para isso. Os eventos colocam em loop infinito a descida conradiana: cada um daqueles homens viaja (retorna) ao coração das trevas também com a missão de trucidar aquele que o precedeu. Alguns deles, mais do que diamantes, tentam (sem sucesso) contrabandear as próprias vidas, desaparecer no interior ou alhures, mais ou menos como aquele Kurtz. Sublinhe-se, aqui, a imagem recorrente de touros indo para o abate, um após o outro. Ao se lançar à vampirização da ex-colônia, os agentes são engolidos por ela e — o que é mais irônico — pelos próprios conterrâneos; cada “alvo” é “um português que nos anda a deixar mal em Angola”, como diz um superior ao agente Seabra (p. 31). E assim eles vão se devorando e se deixando devorar pelos mabecos, pelo fogo, pela terra “vermelha ou amarela”, a depender dos olhos de quem vê.
::: Os doze narradores: Seabra e Marina (mestiça, sobrinha de um contrabandista) tomam conta do prólogo e do primeiro livro; Miguéis (outro agente), sua esposa e a filha (morta) nos falam no segundo livro; Major Morais e os cinco contrabandistas que persegue com apoio militar norte-americano se alternam no terceiro livro; por fim, a voz infantil da filha do diretor do Serviço (órgão responsável pelo envio dos tais agentes) assume o epílogo, cuja forma é de uma redação escolar do tipo “minhas férias”. Os cinco contrabandistas do terceiro livro são Gonçalves (referido em outras passagens como Correio), Mateus (“o do mapa”), Mendonça (“o da coronha”), Sampaio (“— Não há passaporte nem dinheiro nem bilhete de barco vão matar-te como aos outros Sampaio”, p. 496) e Tavares (“o ferido”).
::: Cada livro tem dez capítulos, e todos são crivados de vozes alheias, soltas, que invadem e corroem a narrativa, criando um delírio no qual se misturam lembranças familiares e lembranças de guerra — como se estas e aquelas não fossem uma só coisa, não é mesmo? Em momentos, a voz de outro personagem (por exemplo: a filha morta de Miguéis a certa altura do quinto capítulo do livro três) assume a primeira pessoa, às vezes “a pedido” do próprio narrador, momentaneamente incapaz de dar prosseguimento à história: “escreve isto por mim filha, acaba isto por mim, assina com o teu nome, impede-me de dizer o que falta” (p. 285). Note-se que, no exemplo citado, Miguéis implora por um impedimento.
::: Esses ruídos e atravessamentos narrativos também funcionam como mais um indício das inúmeras formas de violência que têm lugar no decorrer do romance. A palavra nunca chega, nunca é suficiente para dar conta desse emaranhado de desgraças, e é por isso mesmo que Lobo Antunes investe em seu esgarçamento desde a estrutura do livro. E este é tão bom quanto a sua incompletude essencial, seu constante desmoronar, seu desfazer-se ao menor toque, seu esvaziar-se da memória e dos traumas sem explicitá-los ou sequer compreendê-los de todo, sua aceitação das ruínas, em suma, seu entregar-se à impossibilidade de narrar por completo e “linearmente” aquilo que é ruinoso, faltante, lacunar e, claro, insuportável.
::: Ora, ainda circula por aí aquela assertiva tola e vazia segundo a qual “a ficção não dá conta da realidade” ou “a realidade ganha fácil da ficção”. Autores como Lobo Antunes — a rigor, qualquer escritor digno de nota — sabem muito bem disso, e sabem que não se trata disso. Não há experiência que seja representável ou traduzível por inteiro, e a literatura desliza por essa incompletude, faz dessa contradição — narrar o inenarrável, representar o irrepresentável, traduzir o intraduzível — a sua força. À certeza do efêmero, juntamos a certeza da fratura. Narrar é faltar.
::: É por isso que, em Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo, tudo e todos são “ausências calcinadas”, todos aludem a uma “Luanda incompleta”, cuja nitidez “até o fim da baía” é elusiva, enganadora, fugidia. Não por acaso, Miguéis hesita em “definir a cor do mar”, “nem azul nem verde, porque não roxo transparente, um escarlate mas diáfano, como que aceso por baixo” (p. 241), a cor da terra é às vezes referida como amarela, às vezes como vermelha, as árvores mudam “de nome com a vinda da noite”, restamos cercados por “ruídos sem cor” (p. 368), “julgamos que somos e não somos, não há nós, há os mil ecos do que apenas se torna casa quando o abajur se ilumina” (p. 372), perdidos “onde não só as pessoas e as palavras se desvanecem, o passado também, um soluçozito de vida ou nem sequer vida, a imprecisão dos sonhos” (p. 379).
::: Outra formulação recorrente no romance diz respeito à “demora” para se “contar uma história”. É uma frase repetida sobretudo pela filha de Miguéis, justo ela, que nos fala de sua cova no cemitério do Montijo e que teria todo o tempo da morte à disposição. Ocorre que até mesmo a extensão do domínio da morte no corpo da narrativa remete àquela incompletude essencial.
::: Reitere-se: tudo em Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo é uma voz que falta e que, no entanto, fala justamente para comunicar de alguma forma, ou de muitas e muitas formas, essa falta. Aqui, tudo bebe “o próprio silêncio” para melhor regurgitá-lo na página, tudo é uma lembrança “cheia de vincos, rasgada” (p. 213). Nesse sentido, enquanto índice de tudo que nos olha “com as feições vazias” (p. 420), os limites do pesadelo traçados por Lobo Antunes são precisos, a fratura se mostra certa e por inteiro, e a fuga é apenas outro caminho que leva à extinção: “— Vocês morreram calem-se” (p. 554). Mas não nos calamos. Por que nos calaríamos?
…………
Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo foi lançado em 2003. A edição brasileira (também de 2003) é da Objetiva.