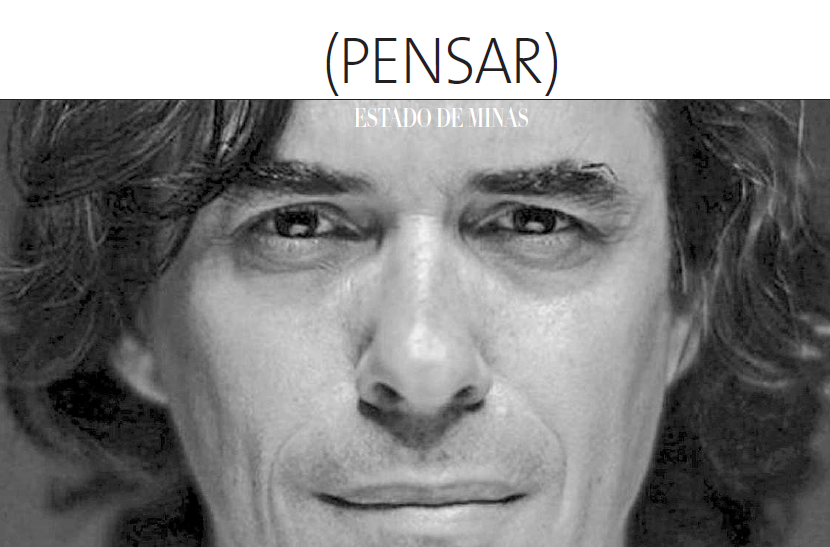
Resenhei “Solenoide” (ed. Mundaréu, tradução de Fernando Klabin), de Mircea Cărtărescu, para o caderno “Pensar” do jornal Estado de Minas. Leia AQUI (PDF) ou AQUI.
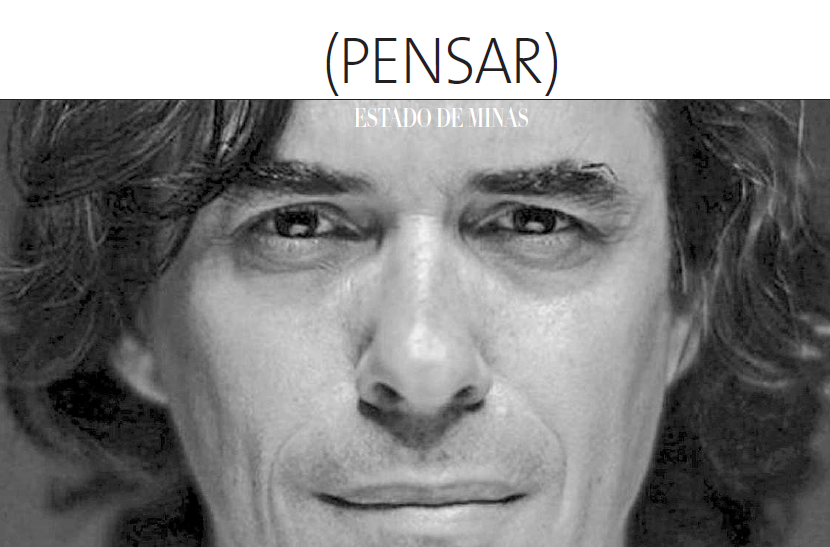
Resenhei “Solenoide” (ed. Mundaréu, tradução de Fernando Klabin), de Mircea Cărtărescu, para o caderno “Pensar” do jornal Estado de Minas. Leia AQUI (PDF) ou AQUI.
Resenha publicada em 21.12.2024 no Estadão.

A certa altura do elusivo “As planícies”, o narrador discorre sobre paisagens influentes, mas raramente vistas. Eis aí uma bela forma de apresentar o australiano Gerald Murnane. Nascido em 1939, ele já foi descrito como o maior prosador de língua inglesa sobre quem a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Existem alguns autores assim, que parecem trabalhar à margem e, talvez por isso mesmo, produzam obras tão ímpares. O israelense Youval Shimoni e o norte-americano Michael Brodsky são ótimos exemplos de escritores pouco conhecidos, mas estupendos. Voltando a Murnane, o lançamento pela Todavia desse grande romance do autor, em tradução de Caetano W. Galindo, talvez angarie leitores entre os poucos que ainda se interessam por literatura em nosso país escangalhado.
Murnane cogitou se tornar padre, mas abandonou logo essa ideia. Bacharelou-se em artes pela Universidade de Melbourne e lecionou em escolas primárias e no Victoria Racing Club. Depois de ensinar pessoas a montar cavalos, ele passou a lidar com literatos em aulas de escrita criativa, o que não deixa de ser uma curiosa trajetória profissional. Seus dois primeiros romances, “Tamarisk Row” (1974) e “A lifetime on clouds” (1976), são narrativas previsivelmente semiautobiográficas, mas caracterizadas por estilo e abordagens peculiares. O primeiro é um relato sobre a infância no interior do estado australiano de Victoria. O segundo, talvez o livro mais engraçado que escreveu, é dominado pela figura de um adolescente que, vivendo em Melbourne nos anos 1950, reage à repressão católica com uma coloridíssima imaginação sexual.
Publicado em 1982, “As planícies” é o primeiro romance no qual se verifica o que poderíamos chamar de estilo maduro do autor. Não é que os dois trabalhos anteriores sejam “imaturos”, mas, olhando à luz do que ele publicaria depois (incluindo sua obra-prima, “Inland”), temos aqui uma bem-humorada reflexão de ecos metafísicos acerca da própria constituição da realidade. Lemos no parágrafo inicial: “Estava à procura de algo naquela paisagem que apontasse para algum sentido complexo por trás das aparências”.
O narrador sem nome é um suposto cineasta que se lança às planícies da Austrália a fim de produzir um documentário intitulado “O interior”. Ali, encontra a elite local que, ciosa de sua cultura, costuma contratar intelectuais e artistas que, vivendo nos casarões dos proprietários, trabalham para deslindar as peculiaridades ambientes. É um trabalho sempre fugidio, como se a paisagem e os habitantes das planícies esvanecessem por entre os dedos daqueles que procuram fixá-los. Não é de se admirar que os próprios locais discordem entre si e com os contratados, e há páginas e páginas engenhosas e engraçadas sobre querelas filosóficas (vide o conflito entre “Lonjuristas” e “Leporinos”).
Contratado por um desses proprietários, o narrador se muda para o casarão da família do mecenas, onde passa a trabalhar nas anotações que futuramente resultarão (ou resultariam, pois não há indícios de que o filme tenha sido ou venha a ser realizado) no documentário. “Eu já tinha pensado em ‘O interior’ como um conjunto de cenas de um filme muito maior que só podia ser visto de um ponto de observação que eu ignorava por completo”, ele diz. E mais: “Quando meu carro foi entrando pela estrada eu disse a mim mesmo que estava desaparecendo em algum mundo particular e invisível cuja entrada era o ponto mais solitário da planície”; “Não apenas meus anos de leitura mas também minhas longas conversas com homens das planícies (…) me conferem a certeza de que as pessoas daqui concebem a vida como um outro tipo de planície. Não lhes serve de nada a conversa banal a respeito de jornadas que atravessam os anos ou coisas assim”. Como registrar isso?
O último dos trechos citados acima é importante por servir como um comentário acerca do próprio andamento do romance. Não há nele nada parecido com uma progressão narrativa tradicional. A voz do narrador, sobre quem quase nada sabemos, narra pouquíssimas ações e progressões. Temos, na parte inicial, a preparação para o momento (e a descrição do momento em si) no qual o protagonista se colocará diante dos proprietários de terras e discorrerá sobre o projeto cinematográfico que tem em mente, buscando apoio logístico e financeiro. Depois, na segunda metade, há digressões acerca de uma das filhas e da esposa do mecenas, e também sobre este e sua propriedade, sobretudo a biblioteca, onde, aliás, o narrador “dialoga” (em silêncio e imaginativamente, por assim dizer) com a mulher do patrão.
O protagonista nos lembra de que “há poucas chances de que os homens das planícies tomem o que tenho a lhes mostrar por alguma espécie de história”. Na verdade, uma das melhores passagens do livro diz respeito justamente aos livros lidos pela esposa do mecenas, os quais “seriam talvez chamados de romances numa outra Austrália”, embora, nas planícies, eles sejam “um ramo respeitado da filosofia moral”. Há sempre algo de escorregadio nessas caracterizações. A exemplo das paisagens lá fora, é como se tudo fugisse a qualquer categorização: a “essência” das planícies, das pessoas, das leituras, do documentário e do próprio romance é fundamentalmente inapreensível, mas, por outro lado, a tentativa de apreendê-la é incontornável.
Quando lemos “As planícies”, é como se o romance visível, legível, tangível, escondesse outro romance, inalcançável ou mesmo incognoscível. “Estamos viajando em alguma direção no mundo que tem forma de olho”, diz um personagem. “E ainda não vimos as outras terras que esse olho enxerga.” Murnane parece vaguear justamente pelos limites das fronteiras literárias e metafísicas, tangenciando o indizível e oferecendo alguma definição ao indefinível.
[Escrevi este texto anos atrás.
Seria o posfácio de uma nova edição de “Calibre 22”, nunca publicada.
Foto: AP/Guillermo Arias.]
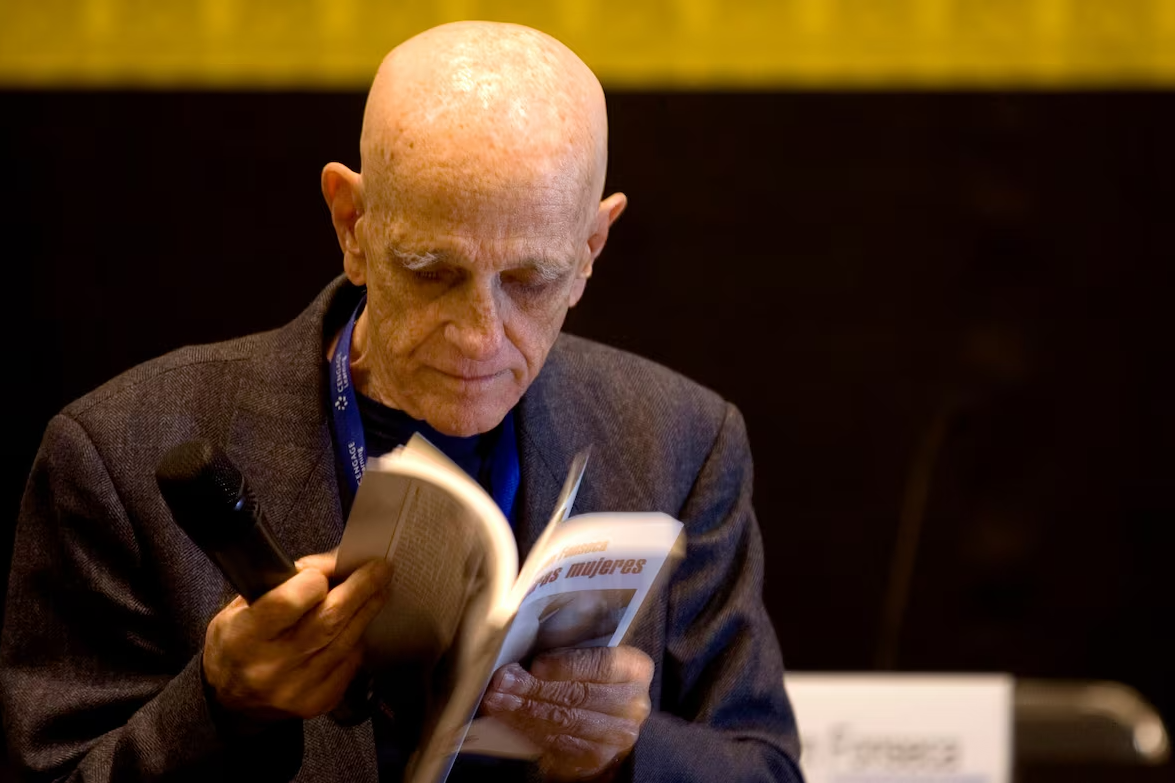
A recepção do terço final da obra de Rubem Fonseca (1925-2020), aquele iniciado após a publicação da obra-prima “Pequenas criaturas” e que engloba desde “Ela e outras mulheres” até “Carne crua”, é um caso exemplar de miopia, preguiça e má vontade por parte dos críticos e resenhistas. Em maior ou menor grau, e salvo por algumas exceções, esses volumes foram mal lidos e mal recebidos. Mas, se levarmos em conta a quantidade de bobagens e chavões ditos até mesmo acerca de seus livros tidos como clássicos (como “Feliz ano novo” e “O cobrador”), essa incompreensão não chega a espantar. E, ironicamente, a irreflexão e a falta de cuidado ecoam à perfeição a abordagem adotada por Fonseca em vários de seus contos mais recentes: se, antes, o autor descrevia as rachaduras nos tetos, paredes, ruas, almas e calçadas, em livros como “Calibre 22” ele se dispõe a enquadrar as ruínas. Em outras palavras, há uma radicalização que traduz o nosso gradual empobrecimento, e uma autoironia que ajuda a sustentar esse olhar ruinoso.
Penúltima coletânea lançada em vida pelo autor, “Calibre 22” traz vinte e nove narrativas que passeiam pela corrupção e pela violência, às vezes assumindo um tom de aparente senescência para melhor dar conta da decrepitude circundante. O mundo nos maltrata e envelhece, e eventualmente nos mata. Como dar conta dele? Como encará-lo, descrevê-lo? Como dar conta do outro, esse (não raro) monstro? E como dar conta de si mesmo em tal contexto? Anos atrás, quando escrevi sobre outro livro do autor (“Amálgama”) para o jornal O Estado de São Paulo, pontuei que os narradores de Fonseca deitam seus olhos exaustos sobre uma realidade tão esgarçada quanto incompreensível. Por mais que as palavras não deem conta dessa avassaladora violência cotidiana, eles insistem em resgatar e descrever as coisas pelas quais passam. Não há, contudo, qualquer tom ou sentido testemunhal — as histórias se sucedem como garranchos nas paredes de um banheiro público; de certa forma, elas são as pinturas rupestres da nossa contemporaneidade. Creio que isso também se aplique a “Calibre 22”.
Aqui e ali, cansados da ineficiência e da surdez do mundo, os personagens desses contos tomam para si a responsabilidade de agir ou reagir. Em “O morcego, o mico e o velho que não era corcunda”, por exemplo, o idoso protagonista dá cabo do assassino de um amigo. Depois de atirar no sujeito, um homofóbico e abusador, ele reclama que a “mão ficou doendo uns dez dias. Aquela Taurus matava, mas era horrível para quem atirava”. A economia da descrição alude a um mal-estar que vai muito além do mero incômodo na mão causado pelo coice da arma. O coice metafísico, por assim dizer, nos atinge desde as entrelinhas.
Uma característica comum a vários narradores de Fonseca é o didatismo: “Eu não disse a Mildred que o avô dela tinha certamente visto o filme Alma em Suplício, no original Mildred Pierce, dirigido por Michael Curtiz, com Joan Crawford no papel principal, baseado no livro de James M. Cain…” (em “Mildred”); “Para exercer bem a profissão, o psicanalista deve regularmente consultar um psicanalista, conforme ensinam vários psicanalistas importantes, como Freud, Lacan, Klein, Winnicott, Bion, Dolto e outros” (em “Fantasmas”); “Você conhece a história do chapéu-panamá, por que ele se chama ‘chapéu-panamá’?” (em “O chapéu-panamá”); no mesmo conto do chapéu, o narrador se incomoda que uma de suas amantes não só fala pelos cotovelos como se dá ao trabalho de explicar a expressão “falar pelos cotovelos”. Como se vê, esse didatismo é muitas vezes divertido, mas não só isso. Ele combina muito bem com o tom autoirônico das narrativas, expondo as idiossincrasias dos personagens e, ao mesmo tempo, aludindo ao que há de artifício na coisa como um todo. Fonseca alcança isso sem recorrer à metaficção propriamente dita (embora também vá por esse caminho de vez em quando, como em “Camisola e pijama”), restringindo-se aos meios, contextos e vozes de seus narradores.
Há, também, uma atenção especial dada aos impostores e às imposturas. Cito alguns exemplos. Em “Fantasmas”, temos uma engenheira florestal que “nunca viu uma floresta na vida”. Celebrado inadvertidamente como um inovador, o escritor de “Camisola e pijama” diz que toda “a literatura e tudo o que se escrevia era sempre a mesma merda”. Outro pretenso escritor, o ex-surfista de “O intrépido”, afirma ser “fácil escrever um livro, surfar é muito mais difícil”, e compreende que tantos escritores tenham se matado, pois “hoje ninguém lê livros de ficção”.
Em “O intrépido”, a opção pela escrita é também uma opção pela morte. Salvo engano, foi o autor francês Philippe Sollers quem disse certa vez que todo escritor faz uma opção pelo futuro, “quando todo mundo estará morto”. Em sua maioria, os narradores de Fonseca não parecem interessados nesse tipo de abstração e, em alguns casos, sequer parecem cientes da possibilidade de uma aposta como essa. O futuro não é vislumbrado ou mencionado, e mesmo o passado só aparece como curiosidade (as interpolações didáticas já mencionadas), chiste (“Sou do tempo em que as pessoas gostavam de ópera, de foder e de sanduíche de mortadela”) ou algo que aponta para a morte física (“Tenho um interesse especial pela morte dos seres vivos em geral, gosto de determinar local e tempo dos incidentes de acordo com a fauna encontrada no cadáver e o estágio de desenvolvimento desta”, em “O escorpião e outros animais”).
Entre impostores, suicidas e loucos, talvez o mais sóbrio e honesto seja o matador em “Um homem de princípios”: “Não gosto de matar barata, nem piolho, nem seres humanos. Não mato por ódio, ciúme, inveja, medo, casos em que o matador é também vítima desse sentimento, ou, se preferem, dessa percepção, ou noção, ou senso, ou consciência. Não conheço as pessoas que eu empacoto. Nada sinto por elas, mas tenho meus princípios”. Note-se nesse trecho o eco de “O cobrador”, mas quase na forma de um negativo — não há o ódio que revisitamos em “Réveillon”, por exemplo: “Matei um Papai Noel, e matar aquele Papai Noel deu-me uma grande felicidade”. Note-se, também, um personagem similar ao do romance “O Seminarista” (está lá o Despachante, mas faltam as citações em latim e a Glock, substituída por uma Beretta). Em “Réveillon”, há outra menção ao “despachante”, mas o exercício gratuito e raivoso da violência aponta para outra direção, esta, sim, mais próxima de “O cobrador”. Com isso, Fonseca enseja uma espécie de contraponto àqueles personagens norteados por “princípios”, como o já citado velho e sua Taurus, o narrador de “Homem não pode bater em mulher”, obrigado a lidar com o vizinho covarde após ser ignorado pela polícia, o sujeito que se depara com um assassino em série em “Gastronomia” ou o vendedor de rua que vai à forra contra um concorrente em “Carnaval”.
É importante ressaltar e sublinhar essas modulações para afastar de vez a noção de que Fonseca estaria “se repetindo” nos derradeiros anos de carreira. Longe disso. Consciente dos desdobramentos de seu estilo e de seus temas, e atento à depauperação material e espiritual sempre em curso no mundo ao redor, ele sempre buscou e encontrou novas formas de recriar literariamente esse recrudescimento das ruínas, algo que vai muito além de quaisquer problemas “sistêmicos”, ideológicos e pontuais. Mesmo quando reencontramos um personagem icônico como Mandrake no conto que dá título ao volume, inexiste a sensação de algo requentado. Ali, a sujidade moral que leva aos crimes (“Ela fez a minha filha se tornar homossexual”) é típica não só do nosso presente desesperador, mas de toda uma história ancorada em massacres, violações e espoliações de toda espécie. É claro que Rubem Fonseca, em “Calibre 22” ou qualquer outro de seus livros, não é um moralizador ou coisa parecida. Ele concebe e ilumina para nós essas pinturas rupestres, esses relatos de um país naufragado, e então, a exemplo de Mandrake, passa “o problema de crer-ou-não-crer adiante”.
Texto publicado no Estadão em 11.12.2024. Leia abaixo ou AQUI ou clique na imagem para ampliar.
Dados o aspecto reservado da personalidade do escritor curitibano Dalton Trevisan (1925-2024) e a forma como ele conduziu sua vida profissional, a melhor maneira de abordar sua enorme contribuição à literatura é ignorar detalhes pessoais e privados e se fixar na produção ficcional. O epíteto que lhe infligiram, relativo ao título de seu livro mais conhecido, O vampiro de Curitiba, diz muito do estranhamento com que costumam ser vistos autores que preferem deixar que as obras falem por si, mantendo-se longe dos holofotes e da interminável procissão de egos que caracteriza o meio literário. Trevisan ocupou-se de escrever e de silenciar, e foi genial em ambas as atividades. Graças à primeira dessas atividades, foi agraciado com os prêmios Camões, Machado de Assis, Portugal Telecom, APCA, Biblioteca Nacional e Jabuti, entre outros.
Embora tenha escrito um romance, A polaquinha, e novelas como Mirinha e Nem te conto, João, Trevisan firmou-se como um dos melhores e mais inventivos contistas brasileiros desde Novelas nada exemplares, lançado em 1959. Antes, publicara histórias em folhetos e na revista Joaquim (1946-48), fundada por ele, Erasmo Pilotto e Antônio P. Walger. A concisão, “o olho aberto no escuro”, a utilização e reinvenção da linguagem coloquial, as imagens (“Bastava dizer João, eu beijava o sexto dedo do pé”; “cada morto é uma flor de cheiro diferente”; “O tropel de corvos no telhado: era a chuva”) e as repetições, elipses e supressões — tudo isso já marca presença em Novelas nada exemplares.
Ao se fixar nas existências corriqueiras, mais a-heroicas do que anti-heroicas, e não raro marcadas por ocorrências trágicas (“A mulher chorava de pé, a cabeça apoiada na parede. Uma vizinha esfregava vinagre nos pulsos do menino desmaiado. Debruçou-se o pai na cama — a criança virou o branco do olho”) ou ridículas (“Paulo reparou nas duas sombras. Uma, bule de chá, gorda e grávida. Outra, selvagem albatroz da noite, abrindo asas na glória de arremeter voo”), Trevisan cria e recria dramas domésticos e não raro comezinhos, elevando-os por meio de um trato único com a linguagem e as estruturas narrativas.
Tomemos como exemplo o que ele faz no conto “A visita”, de Cemitério de elefantes (1964). Uma mulher visita o amante, acompanhada pela filha “doentia, de grandes olhos machucados”. A criança é o álibi, pois a mulher não quer “ficar falada”. Após trancar a menina no banheiro, ela e o amante se entregam ao objetivo da visita. Depois, o casal ainda na cama e a menina no banheiro, a mulher conta uma história envolvendo a própria mãe e o amante desta. A narrativa “interna”, em primeira pessoa, no corpo de um diálogo, adensa a narrativa “externa”, em terceira pessoa. As elipses são radicalizadas: “Não basta que mamãe… Certa manhã descobri o que mamãe era”. As ironias são lancinantes: “Não gostava de Nestor, não sei por quê. (…) Eu recolhia as pontas de cigarro dele e fumava no banheiro. Sonhava todas as noites com ele”. Dois casais de amantes, duas filhas solitárias — uma delas, a protagonista de ambas as histórias. Em um só conto, duas narrativas que se espelham.
Trevisan jamais aliviou suas marcas narrativas e estilísticas, mas tratou de levá-las ao extremo. Assim, elementos do sujeito acanalhado que repara nas “duas sombras” em “Idílio”, das Novelas, e do amante grosseiro d’“A Visita” (“Você parece louca, Ema.”), por exemplo, reaparecem com maior violência no conto-título d’O vampiro de Curitiba, na voz do famigerado Nelsinho: “Maldita feiticeira, queimá-la viva, em fogo lento”; “Toda família tem uma virgem abrasada no quarto”; “Mãe do céu, até as moscas instrumento de prazer — de quantas arranquei as asas?”. A boçalidade e a raiva do macho brasileiro, estuprador em potencial ou violador contumaz, são traduzidas à perfeição desde a estruturação tensa, abrasiva e rascante dos períodos compostos por Trevisan. A violência do texto ecoa a violência da rua ou da alcova, bem como a brutalidade do toque indesejado e do olhar vampirizador.
Um dos desdobramentos mais extraordinários da radicalização dessa estilística se dá nos microcontos de Ah, é?, 234, Pico na veia e Arara bêbada, lançados entre 1994 e 2004. As “ministórias” presentes nesses e outros volumes da mesma época não são maneirismos, mas expressões cristalizadas de um autor no auge da forma: “Reinando com o ventilador, a menina tem a ponta do mindinho amputada. Desde então as três bonecas de castigo, o mesmo dedinho cortado a tesoura”; “Eu? Nove lances, eu? É mentira da moçada. Uma delas grávida? O que eu tenho são três assinados. Não sei dizer, não. (…)”; “Assim o cãozinho quer pegar no chão a sombra do voo rasante do pássaro, você persegue no tempo a lembrança em fuga dos teus mortos queridos”.
Em uma bibliografia extensa e geralmente associada à repetição, impressiona como o autor jamais se perde. Do teor arquetípico dos joões e marias de Guerra conjugal (1969) aos batimentos do “coração delator do tempo” (o relógio) que marcam O beijo na nuca (2014), há um tensionamento que sempre transforma o mesmo em algo novo. É como se Curitiba e seus habitantes continuamente nos escapassem ou se tornassem outros, e outros, e outros, deixando estilhaços, fragmentos e restos humanos que, somados, apontam para uma completude maior, uma integridade ulterior — a própria obra literária de Dalton Trevisan.

Uma boa surpresa (dentre várias outras) que tive assistindo a “Megalópolis” foi constatar que a estrutura narrativa do filme é absolutamente convencional, com os três atos muitíssimo bem delineados. Eu temia que, dominado pela húbris, Francis Ford Coppola tivesse sucumbido sob o peso das próprias ideias e do tamanho de um projeto acalentado há décadas e financiado com seus próprios recursos. Não é o caso.
Mas essa constatação leva águas para outro moinho. Reli algumas críticas (positivas e negativas) publicadas desde as primeiras exibições do filme e, em muitas delas, tive dificuldades para enxergar ali a obra que vi na tela. Não há nada da “bagunça” que alguns apontaram. É como se, em alguns casos, o crítico (ou “crítico”) visse a si mesmo vendo o filme através de um filtro no qual se acumulam zilhões de preconceitos e expectativas desencontradas. Ou seja, a “bagunça” estava nos olhos de quem viu.
Sim, sim, todos alimentamos expectativas, é algo inescapável (falo a respeito das minhas daqui a pouco), mas também estou me referindo a algo diferente: há muita gente que não vê (ou lê) a obra pela obra, a obra pelo que ela é ou tal como se apresenta, cinematográfica ou literariamente falando, mas, sim, mediante uma impressão ou uma ideia difusa do que ela (obra) “deveria” ser. Essas pessoas não se abrem ao que veem ou leem, desarmadas, mas se fecham de forma antecipada e julgam “saber” exatamente o que esperar. Se a obra corresponde a essa expectativa (boa ou ruim), está tudo certo, “eu já sabia” etc. Se a obra foge a essa expectativa, é rejeitada logo de cara. Não há curiosidade. Não há espaço para/possibilidade de surpresa.
Eu vi “Megalópolis” esperando que fosse desastroso, mas por uma boa razão: desde meados dos anos 1990, os filmes de Coppola oscilam entre a mediocridade (“O homem que fazia chover”) e a extrema ruindade (“Jack”, “Twixt”). Esperava que “Megalópolis” fosse desastroso, mas em nenhum momento me fechei para a possibilidade de que fosse bom ou mesmo excelente (ou sequer teria ido ao cinema). Em outras palavras, mesmo esperando pelo pior, fui desarmado à exibição e vi o filme com os olhos bem abertos. E “Megalópolis” foi uma ótima surpresa, tanto quanto “Dias perfeitos”, de Wim Wenders. Sim, são filmes muito, muito diferentes entre si, mas cito Wenders porque seu trabalho no cinema de ficção descarrilhara feio após “Asas do desejo”. Há essa coincidência entre eles: dois cineastas que perderam a mão.
Não é absurdo trazer Wenders para a conversa também por outra razão: “Hammett” (1983). Caso não saiba do que se trata, sugiro que veja o filme e leia a respeito de sua conturbada produção. Ali, Coppola (no papel de produtor) fez com Wenders o que reclama que os executivos dos estúdios de Hollywood fazem com os artistas de verdade. Curioso, não? Ironias assim sempre me divertem.
A trajetória de Coppola também é curiosa porque a ideia que ele parece ter a respeito de si foi sistematicamente desmentida ao longo de quase seis décadas. Embora quisesse se firmar como uma espécie de auteur, um realizador independente de filmes “pequenos” e ousados, seus melhores trabalhos (a trilogia “O poderoso chefão”, “A conversação” e “Apocalypse now”) são narrativamente clássicos, além de financiados e/ou distribuídos por majors. Sim, o homem enterrou dinheiro próprio em “Apocalypse now” e quase se estrepou por isso (ele se estreparia feio poucos anos depois, com “O fundo do coração”), mas a United Artists distribuiu o longa. Não é por estabelecer sua produtora Zoetrope em San Francisco que ele escaparia dos estúdios, do “sistema”. Não escaparia e não escapou. Toda essa conversa me parece sintoma de autoengano.
Quando deu com os burros n’água (ou numa das vezes em que deu com os burros n’água), Coppola voltou correndo para o colo da Paramount e fez o terceiro “Chefão”. E, como ainda tivesse dívidas para quitar, sugou 40 milhões de dólares das tetas da Columbia e entregou “Drácula de Bram Stoker” — seu último grande filme antes de “Megalópolis”, aliás.
Mesmo os (ótimos) filmes “pequenos” que fez após o fracasso financeiro de “O fundo do coração”, como “Vidas sem rumo”, “O selvagem da motocicleta” e “Tucker”, são estruturalmente clássicos, isto é, obedecem a uma gramática narrativa formalizada no cinemão norte-americano desde (ou a partir de) Edwin S. Porter e D. W. Griffith. E não custa lembrar que um dos grandes colaboradores de Coppola é o montador Walter Murch, criador da famigerada “regra dos seis” (ele a explica AQUI).
Óbvio que o trabalho sob parâmetros bem estabelecidos não impede a inovação. Na verdade, não é raro que tal rigidez resulte em inovações mais consequentes, isto é, direcionadas a objetivos específicos ou resultantes de problemas pontuais. Vide o trabalho revolucionário do próprio Murch com o som em “Apocalypse now”, por exemplo, ou a ousadia trevosa do fotógrafo Gordon Willis na trilogia “O poderoso chefão” (especialmente no segundo), exemplo genialíssimo de subexposição.
Em “Megalópolis”, Coppola se movimenta dentro daquela estrutura narrativa sedimentada e, sem extravasá-la (o que arruinaria o filme), brinca com ela, força, empurra, ironiza e autoironiza. Os alicerces do filme são todos clássicos, desde o discurso (roteiro, mise-en-scène, montagem) até os discursos (Shakespeare, Cícero, Marco Aurélio). Mesmo os excessos ocorrem coerentemente no âmbito de regiões bem delimitadas. Tome-se como exemplo a extraordinária sequência no “Coliseu”. Apenas um criador com pleno conhecimento das possibilidades e dos limites de seu modelo narrativo conseguiria alinhavar de forma tão brilhante tantos e tão variados elementos que não só correm paralelamente como num crescendo estonteante e muito divertido. Apenas com tesoura e cola (não literalmente, claro), Coppola nos dá todas as informações necessárias acerca de cada um dos personagens principais, faz a história avançar e, ao mesmo tempo, insere uma lisergia capaz de comentar aquelas mesmas informações e criar sentidos ulteriores. Como se não bastasse, ele ainda coroa a sequência com o discurso mais célebre das “Catilinárias”, enunciado, é claro, por Cícero (Giancarlo Esposito) — “Até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência…”. Tudo ali é primoroso.
As reverberações políticas e as metáforas acerca da criação artística em “Megalópolis” exigiriam outros textos. Aqui, limito-me a sublinhar a fala do banqueiro interpretado por Jon Voight (que ficou a cara da Judi Dench com aquele cabelinho): “América kaputt”. Antes, um de seus sobrinhos (Shia LaBeouff) berra para a massa enraivecida: “Vamos pegar o nosso país de volta!”. O problema é quando não há mais país algum para retomar.
Em “Megalópolis”, a cidade não é retomada, mas reimaginada e construída sobre novas bases. O filme tem um final feliz, condizente com tudo aquilo que eu procurei ressaltar acerca do jogo narrativo no qual se fia, cujas regras Coppola segue coerentemente do começo ao fim. Mas nada me afasta a impressão (corroborada por meus olhos) de que aquele bebê flutua no vazio.
(Sacaneei os cabelos do Voight, mas ele é uma das melhores coisas do filme. Todo o elenco está fenomenal.)
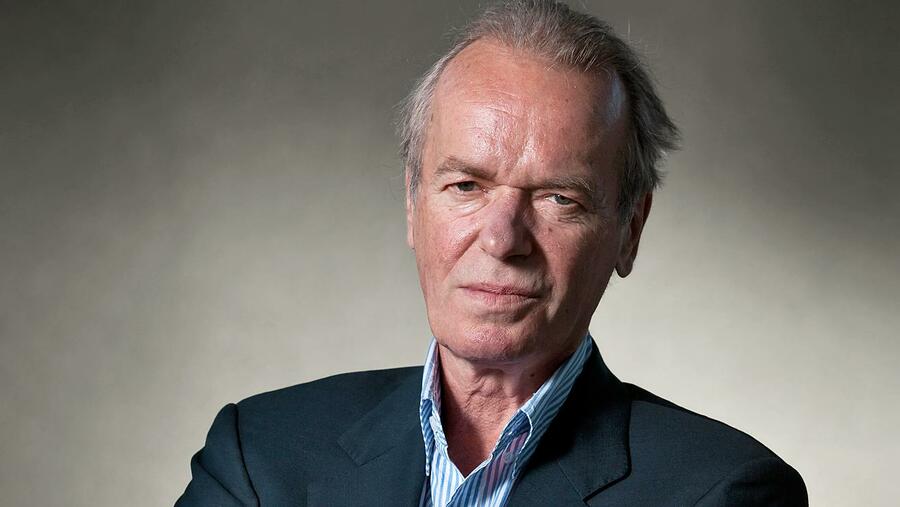
Resenhei “Os bastidores” (Cia. das Letras, tradução de José Rubens Siqueira), de Martin Amis, para o caderno Pensar do jornal Estado de Minas. Leia AQUI (PDF, páginas 6-7) ou AQUI.
Com Búfalos selvagens, Ana Paula Maia encerra sua trilogia apocalíptica.
Resenha publicada no Estadão.
A “Trilogia do Fim” compreende os romances Enterrem seus mortos, De cada quinhentos uma alma e Búfalos selvagens, todos publicados pela Companhia das Letras. Neles, Ana Paula Maia trafega pelo interior de um mundo colapsado na companhia de Edgar Wilson, personagem recorrente em quase toda a ficção da autora, especialista em fazer o “trabalho sujo dos outros”: recolher carcaças em rodovias, abater animais em matadouros, lidar com a sujeirada do mundo. Como é dito em De gados e homens, romance de 2013 que antecipa o esgarçamento que observamos na “Trilogia do Fim”: “Alguém precisa fazer o trabalho sujo. O trabalho sujo dos outros. Ninguém quer fazer esse tipo de coisa. Pra isso Deus coloca no mundo tipos como eu e você”.
Mesmo em um ambiente degradado, no qual a escuridão “engoliu a Terra, levando-a para os abismos de um deus”, sempre há trabalho sujo a ser feito. Em Búfalos selvagens, reencontramos Edgar Wilson circulando pela estrada, recolhendo corpos de animais e levando-os para serem triturados. A impressão é de que o (ou um) fim do mundo veio e já passou, levando consigo nacos inteiros da realidade e dos personagens. O livro remete a acontecimentos da obra anterior, De cada quinhentos uma alma, como a pandemia não identificada que varreu o mundo: “Antes havia o silêncio, o desaparecimento dos vermes necrófagos e a iminência do fim de todas as coisas. Mas esse fim recaiu sobre a Terra como raios diluídos”. O que ocorreu, portanto, foi uma espécie de apocalipse parcial, do tipo que — ilusoriamente ou não — permite algum recomeço àqueles que sobreviveram.
E é nesse espírito que Edgar Wilson aceita o convite para voltar a trabalhar em um matadouro, ocupação que já tivera em De gados e homens. Mas, agora, em vez de gado, lidará com búfalos, ciente de que todos “seguem para a morte”, todos compartilham da “mesma angústia”, do “mesmo espectro das próprias trevas”. O cadáver de um palhaço na rodovia e o mistério que cerca a sua morte, a bizarrice das apresentações de um autoproclamado “Circo das Revelações”, no qual uma vidente oferece algum conforto à arraia-miúda (procure não se espantar com Boris, o galo), e uma confusão envolvendo a origem dos búfalos levados ao matadouro se misturam em uma narrativa no qual importam menos quaisquer peripécias e mais a rotina dos trabalhadores, por um lado, e as digressões, por outro. As intrigas comezinhas são resolvidas rapidamente, sem maiores pirotecnias, e o homicídio aponta para o mistério maior e inexplicado, relacionado à vidente.
Mas, claro, não há descanso. No recomeço ensaiado em Búfalos selvagens, quase tudo aponta para a morte: “Edgar Wilson precisa enterrar todos os mortos, ainda que aparentemente estejam vivos e andando sobre a terra. Ainda não é tempo de paz, ainda não é tempo de descansar”. É nesse sentido que o romance assume suas feições apocalípticas: todo fim enseja um recomeço, redentor ou não. Tal caráter é afirmado em mais de uma passagem, ainda que, em pelo menos em um caso, a ressurreição surja como uma piada impagavelmente doentia.
Por fim, há que se ressaltar a organicidade do projeto. Em uma rápida folheada de outros livros da autora, lemos: “Até os cães comem os próprios donos com lágrimas nos olhos” (Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos); “Olha comovido a pilha de carvão animal ao lado da pilha de carvão mineral. Não é possível identificar qual é mais negro. Se misturados, homens e fósseis se confundiriam” (Carvão animal); “Todos são matadores, cada um de uma espécie, executando sua função na linha de abate” (De gados e homens)”; “Ali vai o homem que sepulta os mortos no rio e que faz reviver um novo ser humano. A única maneira de nascer de novo é morrendo” (Enterre seus mortos). Na construção de seu inferno nada provisório, Ana Paula Maia ostenta exemplares domínio estilístico e clareza de propósitos.
Resenha publicada no Estadão em 03.06.2012.
Talvez você se lembre do escocês Irvine Welsh no filme Trainspotting. Naquela adaptação de seu romance de estreia, nós o víamos como Mikey Forrester, um traficantezinho que vendia supositórios de ópio para um Mark Renton (Ewan McGregor) desejoso de abandonar o vício em heroína sem sofrer demais no processo. Lendo Requentando repolhos (Rocco, trad.: Paulo Reis), coletânea de contos de Welsh recém-lançada no Brasil, não é difícil pensar naquele sujeito careca e barrigudo, a cabeça já um tanto avariada pela bebida e pelas drogas, errando por Leith, distrito de Edimburgo no qual se passa a maioria das histórias que compõem o livro.
À exceção da última delas, a dolorosamente esperançosa “Eu sou Miami”, são narrativas publicadas entre 1994 e 2000 em diversas antologias que, nas palavras do próprio autor, “exploravam as fraquezas dos escoceses ou o tema das drogas, dominantes na década de 1990, pelas quais assumo ao menos parte da culpa” e, em seguida, afirma sentir muito por isso. E a verdade é que alguns desses autoproclamados “contos de degeneração química” não agradarão aos leitores de estômago fraco.
Tomemos como exemplo “Falta em cima da linha”, que abre o volume. A exemplo dos dois contos subsequentes, ele é narrado em raivosa primeira pessoa por um cidadão de Leith beberrão, boca suja, machista, homofóbico e torcedor do Hibernian F.C., time local mais conhecido como Hibs. E é justamente em dia de embate dos Hibs contra o seu maior rival, o Heart of Midlothian (ou apenas Hearts), que a esposa do nosso herói o chama para passear com ela e o casal de filhos. Ele aceita, desde que estejam em casa a tempo de assistir ao jogo. A “linha” do título é a férrea, pois acontece de, quando estão voltando para casa e são instados pelo chefe de família a cortar caminho pelos trilhos, a mulher não atravessar a tempo, ser atingida por um trem expresso e ter as pernas arrancadas. Em meio ao horror da situação, com uma das crianças em estado de choque, a outra buscando nos trilhos os membros da mãe, a correria até o hospital, a única preocupação do protagonista é com o jogo que perderá.
Após três histórias narradas por vozes bem parecidas, Welsh pega o leitor no contrapé com “O incidente de Rosewell”, uma longa viagem envolvendo desde a juventude inerte e drogada de Edimburgo até uma invasão alienígena levada adiante por um torcedor dos Hibs abduzido anos antes. A habilidade com que Welsh estrutura um painel dos mais inusitados e sem recorrer gratuitamente à violência é o que mais chama a atenção. Parece haver uma compreensão maior desse tecido social esfarrapado. Antecipando certa ternura que externará no conto que fecha o volume, ele se permite um olhar cúmplice sobre personagens como Shelley, uma adolescente que sonha em se casar com Liam Gallagher, então vocalista da banda Oasis, enquanto se entrega por puro tédio a um frentista de posto de gasolina e, o que é pior, acaba engravidando dele. Folheando uma revista e fitando os olhos do ídolo numa fotografia, imaginando conseguir “ver um pouco da alma dele ali”, ela só consegue pensar sobre o estado em que se encontra de forma tortuosa: “Ela não sabia se manteria o bebê ou se o descartaria. Naturalmente que Liam também teria que ser consultado. Era justo”. Ainda que seja absurdo, o raciocínio não soa de todo patético em função do desespero mudo que enseja.
Acabamos envolvidos por essa humanidade torta que irrompe aqui e ali. Logo, é interessante notar como a brutalidade explícita dos primeiros contos aos poucos cede lugar àquela compreensão de que falamos há pouco. Não é que Welsh comece a se valer de sutilezas, mas é inegável a compaixão suscitada por um personagem como Collum, de “A festa”, tendo de lidar com a morte súbita por overdose de um amigo e, depois de (mal) resolvida a questão que se coloca (o que fazer com o corpo?), dizendo com enorme dificuldade: “Nós… vimos o Boaby… o Boaby… vimos o Boaby morrer… não devia ser assim, não devia ser como se nada tivesse acontecido…”. O mesmo esforço transparece em “Disputada”, no qual dois amigos brigam por uma mesma mulher que talvez nem queira ficar com nenhum deles, mas acabam se entendendo (ok, o ecstasy ajuda), e, sobretudo, em “Eu sou Miami”. Neste, um ex-professor viúvo e aposentado está em Miami visitando o filho. Ali, uma série de coincidências o coloca frente a frente com alguém que fora um de seus piores alunos, agora um DJ famoso.
A implausibilidade das coisas que se sucedem acaba por resultar em um reencontro do velho consigo mesmo e com os outros: “Ele ainda viu seu antigo professor sorrir, num agradecimento tímido, antes de se virar e sair caminhando, ainda trêmulo nos primeiros passos, mas, depois, como o velho soldado que era, marchando firme pelo jardim tropical, dando a volta na piscina”. Desse modo, e até pela forma inteligente como a coletânea foi organizada, Irvine Welsh permite que olhemos para esses personagens como se alguma coisa estivesse, sim, acontecendo. No caso, boa literatura.
Artigo publicado no Estadão.

A Primeira Guerra Mundial chegou ao fim há 106 anos, mas a sujidade das trincheiras e as explosões dos obuses ainda se fazem literariamente presentes: Tempestades de aço, clássico do alemão Ernst Jünger originalmente lançado em 1920 (quando a lembrança do conflito ainda fritava na memória das pessoas), acaba de ganhar uma reedição pela Carambaia, com tradução e posfácio de Marcelo Backes; e Guerra (Cia. das Letras), escrito no começo da década de 1930, mas só publicado na França em 2022, é um exemplar formidável (embora inacabado) da prosa do francês Louis-Ferdinand Céline, em tradução de Rosa Freire d’Aguiar. Falemos um pouco dos autores.
Céline, pseudônimo de Louis Ferdinand Auguste Destouches (1894-1961), niilista e femeeiro, é responsável por um dos maiores romances do século XX, o qual também parte de (mas não se limita às) suas experiências nas trincheiras: Viagem ao fim da noite. O manuscrito de Guerra foi roubado do apartamento de Céline ao final da Segunda Guerra, quando ele fugia dos aliados e da resistência francesa, pois publicara panfletos antissemitas e era citado com frequência pela imprensa colaboracionista. Prenderam-no na Dinamarca em dezembro de 1945. Solto em 1947 e obrigado a permanecer no país escandinavo, foi julgado e condenado in absentia na França, mas anistiado por ser um veterano da Primeira Guerra. Retornou ao país natal em 1951.
Jünger (1895-1998), filho de um empresário afluente, foi membro do movimento Wandervogel (anti-industrialista e teutônico até a medula) e, sedento por ação, chegou a se alistar na Legião Estrangeira, pelo que quase foi preso. Por “sorte”, veio a Primeira Guerra, ele se juntou às fileiras alemãs e, no decorrer do conflito, foi ferido mais de uma dezena de vezes. Suas experiências são brilhantemente narradas em Tempestades de aço. Durante a República de Weimar, seguiu militando contra valores liberais-democráticos, mas não se deixou seduzir por Hitler e cia. Em 1943, lotado como capitão do exército regular na Paris ocupada, escreveu o ensaio Der Friede (“A Paz”), no qual se coloca frontalmente contra o nazismo e advoga a criação de uma federação europeia que evitasse novos confrontos armados. Indiretamente implicado no atentado de 20 de julho de 1944 contra Hitler, acabou dispensado do exército. No mesmo ano, por razões também políticas, seu filho mais velho foi sentenciado ao “batalhão penal” e morreu em combate na Itália. Nas décadas subsequentes, Jünger viajou e escreveu bastante, aprofundou seu ideário individualista e conservador e experimentou drogas (sobretudo mescalina e LSD). Morreu aos 102 anos de idade.
Jünger e Céline são criaturas bem diferentes. Em Tempestades de aço, a guerra é descrita como uma experiência quase mística, em consonância com a natureza e apontando para a essência elusiva da existência (não por acaso, Heidegger foi um leitor atento de seu conterrâneo). Em Guerra, não há vestígios de quaisquer transcendências, tudo é carne, é “terra podre por todo lado”, e a prosa crua descreve a guerra e a vida como gratuitas e sem sentido.
O romance de Céline se passa em 1914 e não vai às trincheiras, por assim dizer: ferido, o narrador é levado para um hospital na retaguarda, onde lida com uma enfermeira licenciosa, a estupidez dos pais e um coleguinha militar que prostitui a própria esposa e acaba se estrepando em grande (e baixíssimo) estilo. Exemplos típicos da voz de Céline: “Peguei a guerra na minha cabeça. Ela está trancada na minha cabeça”; “Nunca vi ou ouvi alguma coisa tão nojenta quanto meu pai e minha mãe”; “Bater as botas, ainda é possível aceitar, mas o que esgota a poesia é tudo o que precede, toda a charcutaria, as futricarias, as torturações que precedem o soluço final. Portanto, é preciso ser bem breve ou bem rico”; “Em matéria de experiência, eu envelhecia um mês por semana. É no ritmo em que se deve ir para não ser fuzilado na guerra”.
Tempestades de aço se filia à tradição bélico-literária ocidental que, conforme aponta Marcelo Backes no posfácio, remonta à Ilíada de Homero. Mais do que uma invenção humana, a guerra é encarada como um fato incontornável da natureza. Jünger narra suas experiências no front, entre 1915 e 18, com sobriedade, mas não distanciamento. Fiel ao individualismo, ele deplora a mecanização do confronto — prefere o combate corpo a corpo, no qual se sobressai a destreza de cada soldado. O apego ao caráter imediato e fenomênico da coisa e a extrema elegância da prosa impedem que o livro seja facilmente rotulado: há quem o considere belicista, há quem o ache neutro e há até quem enxergue ali um teor antibelicista. O que importa é que o homem escrevia bem demais: “Ali imperava a grande dor, e pela primeira vez eu vislumbrava as profundezas de seu reino através de uma fresta demoníaca. E as explosões não paravam”; “A concentração monstruosa das forças na hora decisiva em que se lutava por um futuro distante e o desencadeamento que se seguiu a ela de modo tão surpreendente e abalador haviam me conduzido pela primeira vez às profundezas de regiões suprapessoais. Isso era diferente de tudo o que eu vivenciara até então; era uma iniciação que não apenas abria as câmaras incandescentes do horror, mas também as atravessava do princípio ao fim”.
O fato de Tempestades de aço ter sido escrito logo após o confronto contribui para o frescor e a ambivalência que tornam a obra atemporal. Em Guerra, redigido quase duas décadas após o fim da Grande Guerra, é justamente o distanciamento que ajuda a depurar a prosa cínica de Céline. Lidas em sequência, as obras são antagônicas e complementares, e ressaltam as violentas contradições inerentes a qualquer conflito armado e a qualquer indivíduo.