Resenha publicada em 07.02.2014 no Estadão.
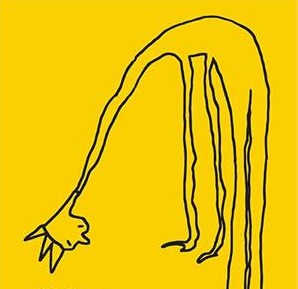
Se imaginássemos um filme baseado nos ensaios de O Rei se Inclina e Mata, ele talvez recorresse a um close no rosto da autora, a romena de origem e expressão alemãs Herta Müller, cuja voz ouviríamos lendo os textos sem que, contudo, os lábios se movessem. Ao se debruçar sobre o passado e, ao mesmo tempo, problematizar a capacidade da linguagem para uma tarefa dessa natureza, ela sabe que está se dirigindo a um espaço onde “as palavras não podem permanecer” ou mesmo alcançar, mas ao qual é impossível deixar de referir-se.
Müller foi perseguida pela ditadura comunista de Nicolae Ceausescu, interrogada inúmeras vezes, teve amigos assassinados e sofreu barbaridades nas mãos desse “rei do Estado” que, ela escreve no ensaio-título, “regateia no limiar entre a vida e a morte: atira os que se lhe tornaram incômodos secretamente da janela, embaixo de trens ou carros, de pontes de rios, pendura-os na corda, envenena-os – encena seu suicídio como suicídio”. A experiência da repressão aparece intimamente ligada à da expressão. Esta é paradoxalmente alimentada por aquela.
Há nove ensaios em O Rei se Inclina e Mata, e todos, direta ou indiretamente, dizem respeito à relação conflituosa, dolorida e no mais das vezes incompleta entre experiência e relato. “O vivido enquanto acontecimento não está nem aí com a escritura, não é compatível com as palavras”, ela escreve em “Se nos calamos, tornamo-nos incômodos – se falamos, tornamo-nos ridículos”. E, no entanto, por conflituosa, dolorida e incompleta que seja tal relação, remontar ao passado por meio da escrita torna-se imprescindível justamente porque presente e passado “se entrecruzam e tiram sentido um do outro” o tempo todo, ainda que se distorçam “numa dimensão inesperada”, conforme lemos em “Pegar uma vez – largar duas”.
Nascida em um vilarejo romeno da região do Banat, povoado pela minoria alemã historicamente conhecida como “suábios do Danúbio”, Müller viu-se desde cedo lançada no “lado noturno da garganta”, aquilo que “levianamente se denomina história”: seu avô, outrora um rico proprietário de terras e comerciante, teve os bens confiscados pelo regime comunista; o pai lutou na Segunda Guerra Mundial como soldado da Waffen SS, fato que depois tentaria anestesiar com a bebida; a mãe foi mantida prisioneira por cinco anos em um campo soviético de trabalhos forçados.
Os lábios não se movem, mas a voz muda da escrita alcança desde as lembranças mais remotas até o cotidiano em Berlim, cidade para onde Müller emigrou e na qual seguiu confrontada com a estranheza advinda do que é familiar. Um anúncio publicitário irresponsável, em que uma mão é pisada por um sapato, é o mote para que ela reflita sobre como a brutalidade oblitera a beleza (no ensaio “Em cada língua estão fincados outros olhos”). A vizinha reclama que é acordada pela filha de três anos no meio da noite, querendo brincar com uma ovelha de pano, chama isso de “um verdadeiro terror” e afirma que “o serviço secreto romeno não poderia ter inventado nada pior”. Para nossa surpresa, a tal vizinha é historiadora. “Devo dizer-lhe que o serviço secreto romeno não queria brincar de boneca de pano comigo?”, pergunta-se a autora (em “Aqui na Alemanha”).
Agraciada em 2009 com o Prêmio Nobel de Literatura, Müller tem plena compreensão do caráter movediço da linguagem. Entre o incômodo do calar e o ridículo do falar, ela opta pelo trânsito silencioso da escrita, o “caminho sobre o cume, entre o revelar e o manter em segredo”. É só por aí que parece possível divisar algo naquele lado noturno.
