Texto publicado no Blog da Rocco em 21.12.2017.
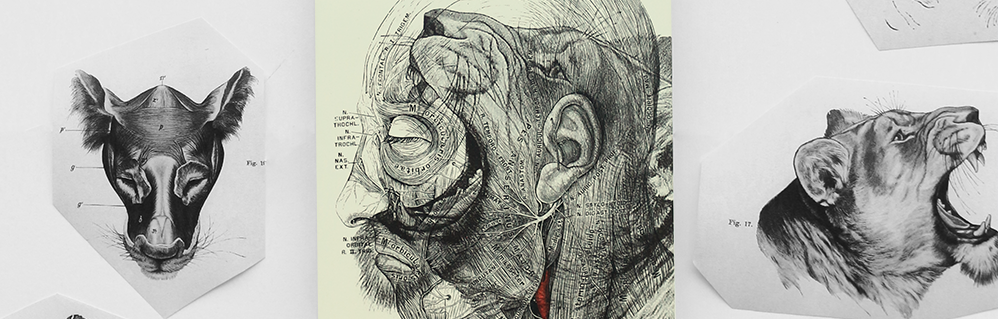
O inferno é um lugar barulhento, e é por lá ou, melhor dizendo, por aqui, nesse inferno onde nos acotovelamos na interminável noite brasileira, que Patrícia Melo oferece um passeio em Gog Magog, Neste que é o décimo romance da autora paulista, o ódio irrompe como a doença nacional por excelência, a infecção que se espalha, a princípio silenciosa e por fim ensurdecedora, mas sempre anuladora, por todo o tecido social.
Tudo começa com uma desavença entre vizinhos. O narrador, um professor de escola pública, não entende “por que o ruído não é considerado um tipo eficiente de arma branca” e é cotidianamente achacado pelos barulhos perpetrados pelo morador do apartamento acima, Ygor, a quem chama de “senhor Ípsilon”. Por irascibilidade de ambos, as tentativas de contornar ou resolver o problema só alimentam a animosidade entre eles. O tal senhor Ípsilon não quer saber de conversa e acusa o outro de querer que ele “não exista”, pois viver “é barulhento” e não é possível fazê-lo “no ‘mute’”; o protagonista logo percebe que “aquilo não vai parar”, pois colocaram “outras forças em ação, forças que agora nos tratavam como escravos”. A partir daí, o ódio entre eles se abre “como um oceano majestoso e sem fim”.
E o país que salta das páginas do romance é uma ilha no oceano supracitado, um ponto sangrento “num mundo em que foi consumada a liquidação do silêncio”, uma aldeia na qual todo e qualquer vizinho é impossível de ser respeitado, posto que se tornou um inimigo ou o inimigo. Diante da ausência total de empatia, diante do fracasso de qualquer tentativa de diálogo, fala a violência: invade-se o lugar do outro e, por fim, o outro, “mutando-o”. Vivemos, então, em um lugar como que assolado por uma espécie de Síndrome de Caim, onde a obliteração do semelhante, pelos motivos mais torpes, mais banais, é algo assim mais do que corriqueiro.
É para isso que, a partir de um determinado momento, o cadáver mal ou sequer ocultado, que se dependura nas páginas do romance, parece apontar: a gratuidade das circunstâncias que o levaram àquele estado, a facilidade com que tudo acontece, com que tudo se desenrola, a opacidade moral que, acesa por um contratempo qualquer, leva um indivíduo a trucidar seu vizinho.
O desconforto é minuciosamente explorado pela narração em primeira pessoa: “Hoje”, diz o protagonista, “não tenho nenhuma vergonha de admitir meus desejos homicidas. Na verdade, é ignorância pensar que há algo patológico nesse tipo de prazer.” E mais: é enganoso “pensar que é infeliz o homem que odeia”, pois o ódio “é uma forma de entretenimento” e é “preferível odiar a não sentir nada”. E o ódio no qual ele se assenta é tão mais perturbador porque pedestre, banal, ou alimentado por circunstâncias pedestres, banais.
Para terminar, lendo Gog Magog, lembrei-me do incipit narrativo de outro belo romance brasileiro lançado há pouco: Gostar de Ostras, de Bernardo Ajzenberg. Ambos os livros têm algo em comum, essa indisposição (inicial no caso de um, terminal no caso do outro) para com os vizinhos barulhentos de seus respectivos narradores. Mas, desgraçadamente, nossa realidade imediata parece pender mais para o universo opressivo e infernal estabelecido por Patrícia Melo do que para a curva dolorosa, mas reparadora, ensejada pelo personagem de Ajzenberg. Neste, o ruído evolui para um diálogo, tanto interna quanto externamente, diálogo que parece inalcançável para a maioria de nós: o outro está ali para ser ouvido, aceito, compreendido. Em Gog Magog, o outro é o inimigo exterior que reflete o inimigo interior, e à anulação do primeiro segue a autoanulação. Que descansemos em paz.
