Artigo publicado n’O Globo em 11.09.2010.
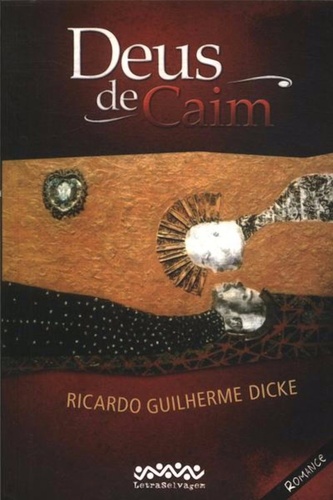
A primeira vez em que ouvi falar de Ricardo Guilherme Dicke foi em 2002. Minha temporada em Brasília tinha chegado ao fim de maneira desastrosa e eu estava de volta ao aprazível interior de Goiás, perdido e meio, sem ter o que fazer e com aquela ideia um tanto vaga (e francamente imbecil) de que a literatura talvez pudesse me salvar.
Quando digo “sem ter o que fazer”, quero dizer exatamente isso, tanto que logo comecei a frequentar as reuniões do Rotary Clube com meu pai. Explico: a programação televisiva às terças-feiras era horrível, meu boteco de estimação só abria de quarta a domingo e, bem, o jantar pós-reunião dos rotaryanos era algo assim digno de ser apreciado.
Foi em um desses jantares que me apresentaram a um professor universitário aposentado e também escritor conhecido regionalmente. O nome dele era Aldair Aires. Por alguma razão que eu nunca quis entender, Aldair se enfurnara no interior depois de debelar (ma non troppo) um câncer na língua e abandonar de vez o amistoso e aconchegante meio acadêmico. Tão logo nos conhecemos, demos início àquele esporte predileto entre escritores, literatos e afins: o tráfico de influências. O primeiro autor que meu novo amigo indicou, e indicou com veemência, foi Ricardo Guilherme Dicke. Usando adjetivos dos quais a gente costuma desconfiar, tais como “genial” e “único”, Aldair falou durante horas (ok, por uns vinte minutos, enquanto jantávamos) sobre esse escritor premiado, mas desgraçadamente relegado ao ostracismo. Texto caudaloso, imagético, repleto de barbaridades.
Nascido e criado na Chapada dos Guimarães, filho de pai alemão, Dicke viveu por algum tempo no Rio de Janeiro, em meados da década de 1960. Foi por essa época que se licenciou em Filosofia e fez mestrado em Filosofia da Arte pela UFRJ enquanto, paralelamente, estudava com os artistas plásticos Frank Schaeffer e Ivan Serpa (chegou a participar do XV Salão de Arte Moderna, em 1966). Ganhava a vida com revisões e traduções, além de ter sido repórter e pesquisador do Segundo Caderno deste O GLOBO. Acabaria voltando para Cuiabá, onde, segundo Adélia, sua mulher, sentia-se melhor para escrever.
Como escritor, teve o que se poderia chamar de um início de carreira auspicioso. Seus três primeiros romances venceram prêmios importantes, conferidos por autores consagrados. Em 1967, Guimarães Rosa, Antonio Olinto e Jorge Amado foram os jurados que concederam a Deus de Caim uma menção honrosa no então prestigioso Prêmio Walmap. Caieira, seu romance seguinte, faturou o Prêmio Remington, em 1977, e foi apontado por ninguém menos do que Glauber Rocha, no programa televisivo Abertura, da TV Tupi, como leitura obrigatória. Por fim, em 1981, a obra-prima Madona dos Páramos foi premiada pela Fundação Cultural do Distrito Federal e definida por Hélio Pólvora, no prefácio, como “grande e grandioso em todos os sentidos”.
Dias depois daquele nosso jantar rotaryano, Aldair Aires me emprestou um exemplar surrado de Madona dos Páramos. O que se deu em minha cabeça foi como uma explosão. Devorei em um final de semana as mais de quatrocentas páginas daquele texto caudaloso, imagético, repleto de barbaridades, constituído por parágrafos que se prolongavam por páginas e páginas, e tive aquela certeza que nós, leitores, perseguimos todo o tempo: a de ter encontrado um dos “nossos”. Passei, então, a garimpar outros livros de Dicke e a indicá-los a quem atravessasse o meu caminho, sem medo de ser confundido com aquele tipo chato que cita autores que poucos conhecem única e exclusivamente para se perfazer.
Aos poucos, e não por minha causa, evidentemente, o nome dele começou a reaparecer aqui e ali. Em fevereiro de 2004, pouco antes de falecer, Hilda Hilst concedeu uma entrevista ao GLOBO. Em um determinado momento, a pedido do entrevistador, enumerou aqueles que considerava os grandes escritores brasileiros. Depois de, é claro, citar a si própria, emendou: “Guimarães Rosa, Machado de Assis… Tem vários. O Guilherme Dicke, que praticamente não é conhecido, também é um gigante”.
Em 2007, quem faleceu foi o meu amigo Aldair Aires. O câncer voltou só para levá-lo embora. Em nossa última conversa, falamos sobre Dicke. Eu disse que uma pequena editora de Culabá, a Carlini & Caniato, estava prestes a lançar dois contos inéditos em um único volume, Toada do Esquecido & Sinfonia Equestre. Falei que era questão de tempo para que o trabalho dele voltasse a circular e obtivesse o reconhecimento merecido. Óbvio que não havia nada que embasasse o que eu dizia. Era apenas a expressão de uma enorme vontade.
Dicke morreu em 2008, aos 71 anos. Os necrológios publicados pela imprensa falavam sobre os prêmios que ganhara, os elogios que recebera, mas nada a respeito de novos projetos de publicação. Agora, com o relançamento de Deus de Caim pela editora paulista LetraSelvagem, gosto de pensar que alguma justiça começa a ser feita. Uma obra nunca menos do que magistral.
Nesse romance (Deus de Caim), os personagens Lázaro e Jônatas são como Abel e Caim. Os dois irmãos brigam por uma jovem, Menira. Com sua prosa definida por estudiosos (Dicke é aquele tipo de autor que, por enquanto, tem mais estudiosos do que leitores) como “flutuante”, sempre alternando entre a terceira e as várias primeiras pessoas que povoam o enredo, ele nos apresenta a fictícia Pasmoso, localizada nos arredores de Culabá, e seus habitantes. Espécie de mosaico quebradiço, denso e violento, Deus de Caim não é, a princípio, uma leitura fácil. Mas, uma vez acostumado com a dicção faulkneriana do autor, o leitor adentrará o corpo de uma obra nunca menos do que magistral.
Agora, é torcer para que os estupendos Caieira e Madona dos Páramos, para não falar dos outros livros de Ricardo Guilherme Dicke, incluindo os vários inéditos, cheguem até nós o quanto antes. O fantasma de Aldair Aires agradecerá. E nós também, é claro.
