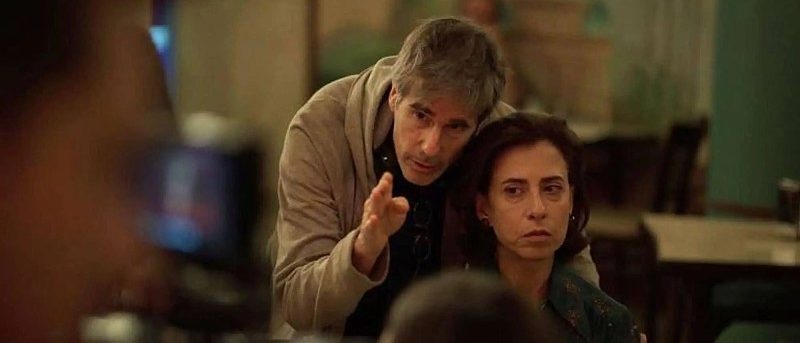
“Ainda estou aqui” é um filme discreto e elegante que evita as armadilhas óbvias (sentimentalismo, esquematismo) ao lidar com certos temas (ditadura militar, tortura, memória x apagamento (institucional ou não) do passado) e narrar a história de uma mulher e sua família. Discrição e elegância se dão porque Walter Salles é um cineasta de abordagem clássica em termos de enquadramento e decupagem, mas não só nisso & por isso. Também (e sobretudo) é uma questão de temperamento.
Salles não é e nunca foi agressivo e/ou sardônico, o que explica o relativo fracasso estético de “A grande arte”, adaptação do romance homônimo de Rubem Fonseca que marcou sua (dele, Salles) estreia na direção de longas, “Água negra”, um filme de terror sem terror (lançado hoje, seria elogiado pelos jecas como “pós-terror”), e “Na estrada”, recriação sóbria do benzedrínico romance de Jack Kerouac. Mas é curioso como, embora não sejam bons filmes, eles são passáveis. Em outras palavras, um filme ruim de Salles não ofende os olhos nem o cérebro, a gente vê sem maiores problemas. Eu vejo, pelo menos. E isso tem a ver com a abordagem supracitada. Quando o sujeito domina aquele tipo de gramática, assentada e sedimentada há um século, o produto raramente é incômodo (no mau sentido).
O que diferencia os bons e os maus filmes de Salles é o roteiro ou, melhor dizendo, a escolha do roteiro. “Água negra”, o original de Hideo Nakata, conta a mesma história de forma estupenda, mas aquela não é a praia de Salles — o cinema de terror exige outra espécie de fígado e outro tipo de educação sentimental cinefílica. E, similarmente, por que cazzo ele foi se meter com o clássico beatnik? Se existe um cineasta não beatnik no mundo, esse cineasta é Walter Salles (o outro era Anthony Minghella, R.I.P.).
Quando Salles é bom, isto é, quando ele escolhe bem o material com o qual vai trabalhar e esse material se adequa ao seu temperamento, quando Salles é bom, ele é quase sempre muito bom. “Terra estrangeira” é um belo filme sobre o confisco da alma nacional, quando até a ideia de exílio perde o sentido e/ou nos mata. “Central do Brasil” registra o clímax da Nova República e de um sopro de país (e um sopro de reconhecimento desse país) que experimentamos por dois segundos. “Abril despedaçado” é o pesadelo que todo sudestino rico tem quando sonha com o Nordeste (aquela Albânia) depois de comer um pato com molho de framboesa n’a bela Sintra. “O primeiro dia” nos apresenta o velho país que tínhamos (ainda temos, se fode aí) pela frente, simbolizado por aquela trepada tristíssima da Fernanda Torres com o Carlos Vereza (eu sei, eu sei, haja suspensão da descrença). É a pior trepada da história do cinema. Aliás, lembrei dela ao ser informado do resultado das eleições de 2018 (sim, é sério, a cena me veio à cabeça do nada). E eu gosto do filme, hein? “Linha de passe”, melhor longa do diretor, antecipa o funeral da Nova República (não, não me refiro ao rebaixamento do Corinthians) — Sandra Corveloni, premiada em Cannes, é a mãe de todos nós que não somos (muito) filhos da puta.
Lembrando que “Terra estrangeira”, “O primeiro dia” e “Linha de passe” foram codirigidos por Daniela Thomas, responsável (em voo solo) por um dos melhores filmes brasileiros deste século: “Vazante” (sacaneado e escanteado pela desinteligência nacional por motivos de lUg@R De fAla) (vão se foder). Eu gostaria de dizer que o tempo fará jus a “Vazante”, mas o esquecimento e a obliteração são esportes nacionais por excelência.
Voltando a Salles: e “Diários de motocicleta”? Enquanto aventura juvenil e filme de estrada, porra, funciona bem demais. É bonito, é divertido. Enquanto retrato do revolucionário quando jovem, nem tanto, pois não identifico ali os sinais do futuro assassino em massa (todo revolucionário que se preze é um assassino em massa) (veja Danton, de Andrej Wajda). Há o jovem idealista amigo dos leprosos. É o bastante? Do ponto de vista dos leprosos, parece que sim. Mas, enquanto cinema, tenho com “Diários de motocicleta” a mesma relação que tenho com “Nixon”, de Oliver Stone: são dois bons filmes protagonizados por criações ficcionais.
E assim chegamos a “Ainda estou aqui”. Que não tem (muitos) jovens idealistas, embora exiba alguns leprosos morais (um deles é a jornalista que questiona Eunice Paiva sobre o sentido de falar sobre coisas chatas como ditadura e tortura em tempos redemocratizados, que troço mais sacal, tia, vamos discutir temas agradáveis, olha que delícia o Plano Real). No filme, uma família é ferrada pelo regime ditatorial porque papai fazia hora extra como carteiro. Bom, no Brasil dos milicos, há inúmeros registros de gente empalada por bem menos ou por nada. Mas o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva foi assassinado sob tortura e desovado sabe-se lá onde porque (como diz o sócio dele) era impossível não fazer nada. Grosso modo, o filme é sobre seguir em frente, apesar de tudo. Coisa que, diferentemente do Brasil, a família Paiva fez.
Fernanda Torres injeta silêncio, estupefação e vitamina D em uma personagem que teria todos os motivos para atravessar a rua, entrar no mar e adeus. Quando, no pior momento de sua vida, ela insiste em sorrir para as lentes sisudas de uma revista vendida (e era mesmo), a personagem, a atuação e o filme elevam-se a outro patamar. Fugindo à recriação sentimentalista e engajadinha de uma tragédia familiar que remete à tragédia nacional (uma tragédia é produto da outra), personagem, atuação e filme retêm a cena ao nível do chão e, sem arroubos, com a elegância e a discrição supracitadas, representam o desgraçamento de uma forma particularizada. Mais: pelo que subtraem, personagem, atuação e filme tornam presentes as tragédias familiar e nacional.
Salles acerta ao não reduzir a história que conta a uma nota de rodapé de um “comentário maior” e “relevante” acerca da desgraça brasileira. Ele não tenta agarrar a História pelos bagos, ele não escala o edifício Martinelli (até porque cariocas não sabem onde fica o Martinelli) para berrar e denunciar tais e tais injustiças. Ele não denuncia, mas, sim, enuncia. E em voz baixa. Ele nos apresenta aquela história específica, daquela mulher, daquela família, e o faz sem uma “agenda” — exceto, é claro, pela “agenda” de qualquer pessoa que não tenha estrume na cabeça, isto é, qualquer pessoa que não sinta saudades dos coturnos e/ou da caquistocracia bolsonarista. Mas isso é um pressuposto de qualquer alma decente.
Por fim, acho ótimo que “Ainda estou aqui” tenha se tornado um sucesso de bilheteria, pois isso tende a abafar os esperneios dos stalinistas odara, de um lado, e dos coprófagos neofascistas, de outro. Os poucos artistas brasileiros que não são imbecis precisam pedalar por essa ciclovia estreita, mal iluminada e esburacada. É uma jornada sempre exaustiva, pois, como se sabe, outro esporte nacional por excelência é a burrice.
