Versão estendida de uma resenha publicada n’O Popular.
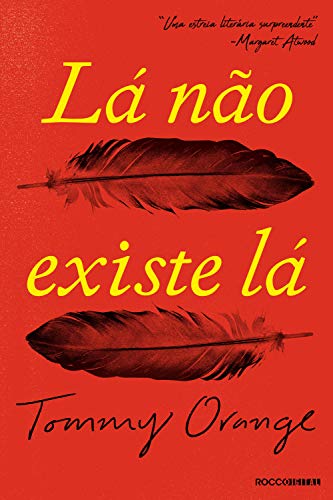
A voz do outro está aí desde sempre. Nós é que muitas vezes não nos dispomos a ouvi-la. Ela fala com a gente nas ruas e também por meio dos livros, dos filmes, da música etc. Basta prestar atenção. Com isso em mente, sugiro que atentemos para o que é dito em Lá não existe lá, estreia do norte-americano Tommy Orange. Lançado em 2018 pela Rocco, com primorosa tradução de Ismar Tirelli Neto, o romance é de uma beleza e de um engenho insuspeitos.
De ascendência Cheyenne e Arapaho, Orange parte de uma premissa tão simples quanto evidente: em geral, os povos nativos americanos são muito mal representados. De fato, quando vemos um “índio” em um romance, filme ou seriado, é quase sempre uma figura estereotipada como, por exemplo, um sujeito andrajoso trabalhando como frentista em um posto de gasolina no meio do nada ou um alcoólatra vendendo porcarias à beira de uma rodovia. Como disse o autor em entrevista ao jornal britânico Guardian, tampouco “há muitas representações nossas como (pessoas) modernas, contemporâneas e vivendo em cidades”. Assim, em Lá não existe lá, Orange monta um coral: são doze narradores, todos nativos americanos, todos vivendo em áreas urbanas, especialmente na Califórnia.
Não é fácil estruturar um romance a partir de tantas vozes. Primeiro, há que se distinguir cada uma delas, e depois fazer com que caminhem por um mesmo chão, por assim dizer. E é a qualidade do entrelaçar dessas vozes que justifica e eleva o romance enquanto tal; conectá-las, implícita ou explicitamente, e de uma forma que seja instigante. Orange é muito bem-sucedido nisso.
No clímax de Lá não existe lá está um powwow, evento tradicional que visa integrar os mais diversos grupos nativos por meio de apresentações artísticas. É para esse festival que afluem os personagens: um deles vai dançar (depois de usar vídeos do YouTube para aprender os passos), outros organizam e trabalham no evento, uns vão assistir, outros planejam um assalto etc. Essa confluência é acidentada, dolorosa, repleta de desvios e com um desfecho dos mais brutais. Mas, de um modo ou de outro, todos dão testemunho de algo — mesmo que do próprio silenciamento –, pois, como diz a mãe de uma personagem (Opal Viola), o mundo é “feito de histórias, nada mais, apenas histórias, e histórias sobre histórias”.
Em meio a tantos personagens, há alguns que exibem certa característica amalgamadora. Por exemplo: Dene Oxendene, que grava depoimentos de Índios com vistas a montar uma espécie de documentário. “Quero que eles possam dizer o que quiserem”, ele afirma. “Há tantas histórias aqui.” Sim, há, e elas funcionam como pequenos mosaicos dentro do mosaico maior, ou corais menores substanciando o coral maior. Em tal contexto, aproveito para ressaltar outras duas passagens.
A primeira é aquela em que Opal Viola e sua irmã, ainda adolescentes, são levadas pela mãe para uma ocupação em Alcatraz, e é dito: “Que é que tem de tão bom em ocupar um lugar estúpido onde ninguém quer estar, um lugar do qual as pessoas estão tentando escapar desde que o construíram”. Ora, que a antiga prisão seja cogitada como um “lar” possível para os Índios diz muito da forma como eles se veem e, acima de tudo, são vistos e tratados.
Já a segunda passagem diz respeito ao doloroso testemunho da irmã de Opal, Jacquie, seguido pela fala daquele que usou “de força para esticar um não até transformá-lo em sim” e a engravidou quando ela contava apenas dezesseis anos. O livre trânsito de vivências e lembranças compartilhadas, a verbalização de experiências traumáticas, muitas vezes marcadas pelo alcoolismo, pelo abandono e por inúmeras perdas, tantos anos depois, tudo isso acaba por paradoxalmente reaproximar os personagens. Tal reaproximação é até certo ponto previsível, mas isso não importa e, sim, a forma como ela se dá, o cuidado com que Orange desvela uma voz e depois a outra, abrindo um espaço, uma clareira, onde elas possam se ver e se reencontrar e, por que não, coabitar.
Em suma, o que salta aos olhos nesse esforço para resgatar um passado e um presente eivados de desapreço pela memória coletiva e individual é que há sempre vidas tocando vidas, às vezes de forma violenta, mas sempre inequivocamente. Lá não existe lá nos mostra que, havendo histórias em toda parte, atentar para elas é atentar para essas vozes que nos procuram o tempo todo, e que distingui-las, apreciá-las e respeitá-las pelo que são é uma atividade humana no que o termo (humana) ainda tem de bom.
