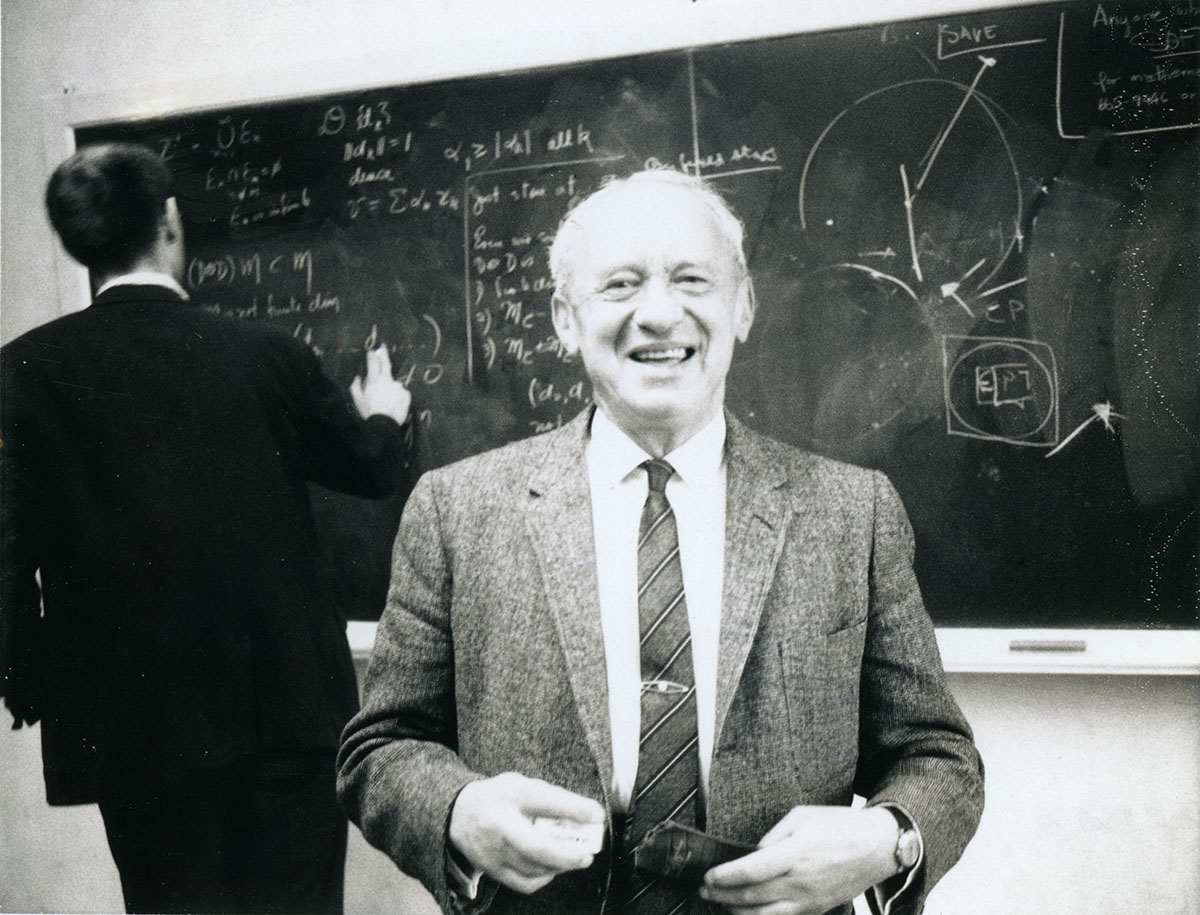
A intenção deste texto é discorrer sobre Verdade e demonstração, de Alfred Tarski. Para iluminar alguns pontos, recorro (ainda que brevemente) ao capítulo que Richard L. Kirkham dedica à teoria semântica em Teorias da Verdade.
Quanto aos seus objetivos, Tarski é explícito desde os primeiros parágrafos de Verdade e demonstração. Ele coloca em discussão duas noções para, ao final, relacioná-las. As noções são aquelas citadas já no título: verdade e demonstração. Aqui, eu me ocuparei apenas da noção de verdade.
Como bom deflacionista, Tarski restringe o termo e deixa bem claro que só lhe interessa o que chama de “concepção lógica de verdade”. O escopo de sua investigação poderia ser traduzido pela pergunta: o que se quer dizer quando se afirma que uma determinada sentença é verdadeira?
Estamos, portanto, diante do incipit de uma teoria da verdade.
Kirkham chama a atenção para o fato de que Tarski preferir chamá-la, em vez de teoria, de “concepção semântica”, até por considerar que a verdade pode ser definida em termos de outros conceitos semânticos, como o de satisfação. Ao fim e ao cabo, segundo Kirkham, está um projeto maior, que viria a ser o estabelecimento de uma “semântica científica” que não estivesse, por assim dizer, contaminada por “nenhuma entidade abstrata cuja existência já não estivesse pressuposta pela ciência da física” (p. 204). Ou seja, Tarski definia a verdade em termos de satisfação, que, por seu turno, era definida em termos de conceitos lógicos e matemáticos. Mas talvez estejamos indo rápido demais.
Voltando ao ensaio de Tarski, quando ele afirma que está interessado exclusivamente numa “noção lógica de verdade”, isso significa, segundo suas próprias palavras, uma acepção do termo verdadeiro unicamente relacionada a sentenças. E, ainda nesse saudável espírito de delimitação de seu objeto, ele sublinha que sentenças são vistas como “objetos linguísticos, como certas sequências de sons ou de signos escritos”, e apenas sentenças declarativas (esqueçamos, portanto, as interrogativas e as imperativas). O problema de fundo, aqui, é o dos portadores de verdade, isto é, aqueles concernentes a uma outra pergunta: a que tipo de objetos o termo verdadeiro pode ser aplicado?
Ao explicar um termo qualquer, há que levar em conta os objetivos e o caráter dessa explicação do ponto de vista lógico: se a intenção é dar conta do uso corrente do termo, temos algo descritivo; se, por outro lado, tenciona-se sugerir uma determinada maneira de se usar o termo, a explicação tem um caráter normativo. A intenção de Tarski em seu trabalho é oferecer uma explicação ao mesmo tempo normativa (haverá a sugestão de um uso determinado do termo verdadeiro) e descritiva (a sugestão ainda estará conforme o uso cotidiano do referido termo).
Os antecedentes históricos desse problema remontam, claro, a Aristóteles, em cuja concepção (retirada da Metafísica e citada textualmente por Tarski: “Dizer do que é que não é, ou do que não é que é, é falso, enquanto que dizer do que é que é, ou do que não é que não é, é verdadeiro”) encontramos a ideia de que a palavra “falso” é sinônima da expressão “não-verdadeiro”. O que temos ali expresso é a concepção clássica de verdade ou, ainda, concepção semântica de verdade. Tarski esclarece que semântica vem a ser o ramo da lógica que, grosso modo, “discute as relações entre os objetos linguísticos (tais como sentenças) e aquilo que é expresso por esses objetos”. Assim, sem se desvencilhar de Aristóteles, o que ele procura é “uma explanação mais precisa da concepção clássica de verdade”, usando as bases da formulação do estagirita para catapultar-se rumo a outra formulação, mais completa em suas especificações.
A fim de não se dispersar nessa busca, Tarski delimita a linguagem da qual se ocupará (no texto original, o inglês comum; na tradução que utilizamos, o português). Em seguida, começa por uma sentença simples, a neve é branca, denominando-a sentença ‘S’ e perguntando: “o que queremos dizer quando falamos que S é verdadeira, ou que S é falsa?”. Para Aristóteles, S é verdadeira quando a neve é branca, e falsa quando a neve não é branca. Assim: (1) ‘a neve é branca’ é verdadeira se e somente se a neve é branca; (1’) ‘a neve é branca’ é falsa se e somente se a neve não é branca. A ideia de um círculo vicioso nessas explanações pode ser afastada ao notarmos que, ao inserir as aspas, distinguimos o objeto de seu nome, isto é, “uma expressão entre aspas deve ser tratada gramaticalmente como uma só palavra, sem nenhuma parte sintática” (não é o caso, evidentemente, da explicação entre aspas colocada imediatamente antes da abertura destes parênteses). Ocorre que esse método, embora resolva diversos problemas, acaba por criar outros (como a própria impressão de um círculo vicioso). Tarski, então, procura por outra forma de constituir nomes de expressões, e chega ao seguinte: ‘p’ é verdadeira se e somente p. (Nesse ponto, ele chama a atenção, contudo, para os casos em que a sentença colocada em ‘p’ tiver entre suas partes a própria palavra ‘verdadeiro’, como em: nem toda palavra escrita neste texto é verdadeira. A fim de verificar o que é exprimido nesta última sentença, ter-se-ia que analisar atentamente a verdade de todas as sentenças do texto em questão.)
Reformulando o norte de sua reflexão, Tarski estipula que a utilização do termo verdadeiro relativamente a sentenças em português só estará de acordo com a concepção clássica de verdade se permitir avaliar toda equivalência da forma ‘p’ é verdadeira se e somente se p, onde ‘p’ é uma sentença qualquer de nossa língua. Uma vez satisfeita tal condição, dir-se-á que o termo verdadeiro é adequado. Com isso, recoloca-se o problema fulcral: é possível estabelecer um uso adequado do termo verdadeiro para sentenças em língua portuguesa? Em caso positivo, por quais métodos? Observe que, se fizer isso, ele estará de acordo com os objetivos traçados anteriormente, de estabelecer uma solução ao mesmo tempo normativa (uso adequado) e descritiva (passível de ser aceita pelos falantes do português).
Tal empreendimento seria consideravelmente mais fácil de atingir se, em vez de abarcar toda a língua portuguesa, nós nos restringíssemos a um fragmento dela (que se poderia chamar de linguagem L), com regras sintáticas precisas, sem ambiguidades quanto ao significado de suas palavras, um número finito de sentenças (digamos que quinze) e em que o termo verdadeiro não ocorresse. O critério de adequação diz respeito, no caso, a uma definição de verdade v para uma linguagem L a partir da qual deduzimos (isto é, tiramos uma consequência lógica) todas as equivalências da forma ‘p’ é verdadeira se e somente se p, onde ‘p’ é substituído em ambos os lados da equivalência supracitada por uma sentença qualquer de L. Como consequências desse critério, temos que a definição de verdade v para L deve ser uma sentença, e uma sentença (no que depender de L) com certo grau de complexidade. Deve ser uma sentença porque a relação de dedutibilidade só se dá entre sentenças, e a complexidade se dá porque, dependendo de L, o número de deduções necessárias para verificar a própria adequação poderá ser grande ou mesmo infinito.
Para criar um exemplo dessa natureza, os passos seriam: (1) preparar uma lista completa de todas as sentenças em L (‘s1’, ‘s1’… ‘s15’); (2) construir uma definição parcial de verdade para cada uma dessas sentenças (‘s1’ é v se e somente se s1); (3) formar uma conjunção lógica de todas essas definições parciais, combinando-as em um enunciado só, usando o conectivo ‘e’ entre quaisquer duas definições parciais consecutivas (‘s1’ é v se e somente se s1, e ‘s2’ é v se e somente se s2, e…); (4) formular essa conjunção final de maneira diversa das anteriores (mas equivalente), satisfazendo os requisitos formais das regras lógicas de definições, assim: Para toda sentença x da linguagem L, x é verdadeira se e somente se ou s1 e x é idêntica a ‘s1’, ou s1 e x é idêntica a ‘s2’, ou… s15 e x é idêntica a ‘s15’.
Assim, chegamos a um enunciado passível de ser aceito como uma definição geral da verdade, posto que é formalmente correto e adequado. Por outro lado, ele diz respeito apenas à linguagem L. A obtenção de uma definição de verdade efetivamente geral, isto é, que diga respeito a toda e qualquer sentença de língua portuguesa, esbarra numa série de problemas: ambiguidade quanto à forma das expressões (às vezes, uma mesma expressão pode, em contextos distintos, configurar-se ou não como uma sentença); o conjunto de sentenças em português é provavelmente infinito; e, por fim, a ocorrência da palavra verdadeiro também impede que adotemos em português o procedimento acima, aplicado à linguagem L.
A fim de ilustrar esse último item, relativo à ocorrência do termo verdadeiro, Tarski recorre à antinomia do mentiroso. Segue um exemplo dessa antinomia. Atente para a seguinte frase: A SENTENÇA ESCRITA INTEIRAMENTE EM MAIÚSCULAS NO DÉCIMO QUARTO PARÁGRAFO DESTE TEXTO É FALSA. Abreviamos essa sentença como S. O paradoxo está em que S é verdadeira se e somente se S é falsa. Ora, não é possível que uma mesma sentença seja, simultaneamente, falsa e verdadeira, posto que isso contraria o princípio lógico do terceiro excluído. Temos, portanto, uma antinomia.
A origem da antinomia do mentiroso remonta à antiguidade e é em geral atribuída ao grego Eubúlides. Desde então, segundo Tarski, podemos encontrar duas formas de encarar as antinomias: desconsiderando-as como sofismas ou jogos estéreis de linguagem ou, pelo contrário (e como fizeram Russell e Peirce), vê-las como fontes dignas e saudáveis de reflexão. Para Tarski, o melhor seria procurar um meio-termo. Embora não se mostre disposto a defenestrá-las, ele tampouco intenta se reconciliar com elas, aceitando-as “como um elemento permanente do nosso sistema de conhecimento”, pois elas seriam, sim, o “sintoma de uma doença” (p. 214).
Em vista de seu objetivo, Tarski pergunta, então, como evitar as contradições criadas por essa antinomia. Solução bastante radical seria a de remover o termo verdadeiro do vocabulário vigente, ao menos no que diz respeito a discussões mais consequentes. Outra solução seria adotar o que o filósofo polonês Tadeusz Kotarbinski chama de “abordagem niilista da teoria da verdade”: nesta, a palavra verdadeiro não possui significação por si só, mas deve ser usada em expressões como “é verdadeiro que” e “não é verdadeiro que”, tratadas como se fossem palavras. Por exemplo: “não é verdadeiro que este é um trabalho sobre Platão”, o que equivale a dizer “este não é um trabalho sobre Platão”. Se abordarmos segundo essa concepção a frase em maiúsculas acima, pela sua própria formulação, podemos afirmar que ela não é uma sentença significativa. Com isso, a antinomia desaparece, embora surjam outras complicações, como a de que, em função dessa abordagem “niilista”, em alguns casos, não seria possível expressar coisas como conjecturas. A abordagem “niilista” é forçosamente preto-no-branco, o que engessaria a nossa maneira de se expressar, inviabilizando “a noção de verdade do estoque conceitual da mente humana” (p. 216).
Tarski, então, retorna ao seu intento primeiro, o de encontrar uma noção de verdade que inclua uma solução para o problema da antinomia e não abra mão do conceito clássico de verdade. Para tanto, ele compreende que será necessário restringir a aplicabilidade da noção de verdade.
Uma das características da linguagem comum é justamente a sua universalidade. Sua abrangência inclui, assim, não só os chamados objetos linguísticos (sentenças, termos), mas também os nomes dos objetos. Daí a possibilidade de criarmos sentenças autorreferentes (dizer algo de uma sentença S, por exemplo) e, no limite, incorrermos outra vez no paradoxo do mentiroso (quando S afirma a própria falsidade). Para escapar disso, Tarski observa que não há necessidade de utilizar essa universalidade da linguagem em toda e qualquer situação. Como exemplo, ele cita as linguagens extremamente especializadas de algumas ciências, como a química. Dizendo de outra maneira, não é possível expurgar a verdade da linguagem natural, mas no discurso da química, por exemplo, não há necessidade de remeter à verdade (exceto no caso de uma metalinguagem, que se encontra, ademais, no âmbito da linguagem natural). Nos discursos não-ordinários, portanto, não há referência ao próprio discurso, ou seja, não há necessidade de termos semânticos.
Recoloca-se, então, a questão: é possível que a noção de verdade seja precisamente definida e que se estabeleça um uso consistente e adequado dessa noção pelo menos nas linguagens do discurso científico? A resposta, desde que se observem certas condições, é sim. Agora, vejamos quais são essas condições. Se atentarmos bem, notaremos que não são muito distintas daquelas observadas quando da fundamentação da linguagem L. Trata-se, portanto, de condições que devem ser satisfeitas pela linguagem de modo a fornecer uma definição de verdade adequada (em termos de critério).
A primeira condição é de que o vocabulário deve ser completamente especificado. As regras sintáticas, por sua vez, devem ser formuladas com precisão. Esta é a segunda condição. A terceira é de que, além disso, essas regras têm de ser puramente formais, isto é, referirem-se tão somente ao formato das expressões, não dependendo do significado destas. Temos, assim, uma espécie de gramática formal cujo vetor reside, por assim dizer, na denotação, e não na conotação. Com isso, ambiguidades são evitadas e torna-se possível identificar determinada expressão como uma sentença (ou não) de imediato. Uma linguagem que satisfaz essas três condições é uma linguagem formalizada. Elas são muito usadas na apresentação de teorias lógicas e matemáticas, e, no entender de Tarski, não há razão para que não sejam também utilizadas noutros campos do conhecimento. Além disso, ele esclarece que as linguagens formalizadas imbuídas de interesse são justamente aquelas constituídas a partir de fragmentos de linguagens naturais ou que podem ser traduzidas de maneira adequada em uma linguagem natural.
Com isso, há que se observar ainda uma outra condição: é imprescindível distinguir rigorosamente entre a linguagem que é o objeto da discussão e a outra na qual deve ser formulada a definição e estudadas as implicações. Esta última é a metalinguagem; a primeira, a linguagem-objeto. A metalinguagem, até pelas suas atribuições, deve abarcar a linguagem-objeto. Ou, desenvolvendo melhor essa noção, a metalinguagem, na medida em que fornece os meios necessários para definir a verdade, é essencialmente mais rica do que a linguagem-objeto e, portanto, não coincide com ela, não é traduzível nela ou por ela. Do contrário, elas seriam, ambas, semanticamente universais e passíveis de ter a antinomia do mentiroso reconstruída tanto numa quanto na outra.
Observadas as condições acima, é possível, sim, que tenhamos uma noção de verdade definida com precisão e com um uso, conforme as delimitações expostas, perfeitamente adequado e livre da antinomia do mentiroso. Com isso, se não estou enganado, Tarski satisfaz sua intenção, anunciada logo no começo do ensaio, de engendrar uma explicação ao mesmo tempo normativa e descritiva quanto ao uso do termo verdadeiro.
……
TARSKI, Alfred. A Concepção Semântica da Verdade. Org.: Cezar Augusto Mortari e Luiz Henrique de Araújo Dutra. Tradução: Celso Reni Braida, Cezar Augusto Mortari, Jesus de Paula Assis, Luiz Henrique de Araújo Dutra. São Paulo: Editora UNESP, 2007.
KIRKHAM, Richard L. Teorias da Verdade – Uma Introdução Crítica. Tradução: Alessandro Zir. São Paulo: Unisinos, 2004.
